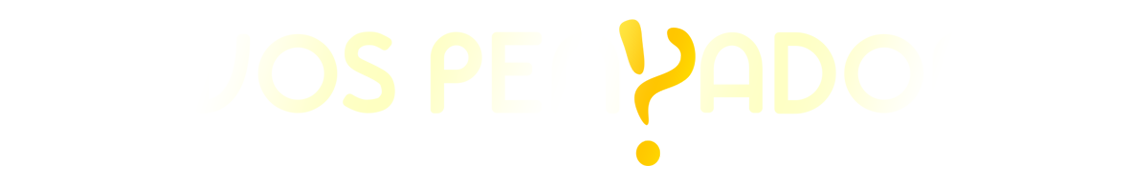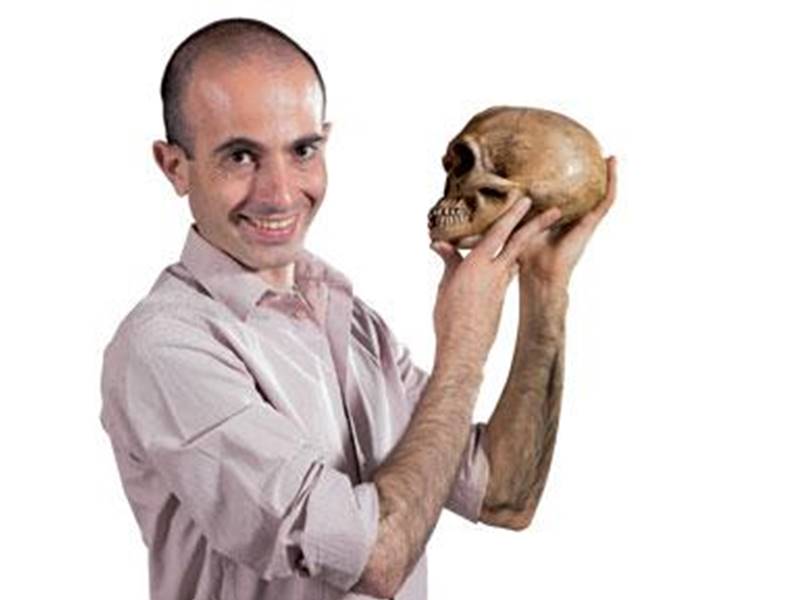Harari e suas 21 lições para o século 21 – Parte II. 7, 8 e 9 – Nacionalismo, Religião e Imigração
Prosseguindo num novo itinerário de exploração dos Novos Pensadores em 2019 vamos continuar a ler e comentar o último livro de Yuval Harari (2018):
HARARI, Yuval (2018). 21 lessons for the 21st century. New York: Spiegel & Grau, 2018.
Vamos usar a tradução brasileira de Paulo Geiger. 21 lições para o século 21. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
Para baixar o PDF com o texto integral clique aqui: 21-licoes-para-o-seculo-21-Yuval-Noah-Harari
Já foi publicada a Introdução
Também já foi publicada a Parte I. 1. – Desilusão
E ainda:
As notas em azul servem apenas como provocações para a conversação.
Vamos agora concluir a Parte II, com os capítulos Nacionalismo, Religião e Imigração.
PARTE II
O desafio político
A fusão da tecnologia da informação com a biotecnologia ameaça os valores modernos
centrais de liberdade e igualdade. Toda solução para o desafio tecnológico deve envolver cooperação global.
Porém o nacionalismo, a religião e a cultura dividem o gênero humano em campos hostis e fazem com que seja muito difícil cooperar no nível global.
7. Nacionalismo
Problemas globais exigem respostas globais
Dado que o gênero humano constitui agora uma única civilização, todos os povos compartilhando desafios e oportunidades comuns, por que britânicos, americanos, russos e diversos outros grupos voltam-se para o isolamento nacionalista? Será que o retorno ao nacionalismo oferece soluções reais para os problemas inéditos de nosso mundo global, ou é uma indulgência escapista que pode condenar o gênero humano e a biosfera à catástrofe?
Para responder a essa pergunta devemos primeiro dissipar um mito muito difundido. Ao contrário do que diz o senso comum, o nacionalismo não é inato à psique humana e não tem raízes biológicas. É verdade que os humanos são animais integralmente sociais, e a lealdade ao grupo está impressa em seus genes. No entanto, por centenas de milhares de anos o Homo sapiens e seus ancestrais hominídeos viveram em comunidades pequenas e íntimas, com não mais que algumas dezenas de pessoas. Humanos desenvolvem facilmente lealdade a grupos pequenos e íntimos como a tribo, um batalhão de infantaria ou um negócio familiar, mas a lealdade a milhões de pessoas totalmente estranhas não é natural para humanos. Essas lealdades em massa só apareceram nos últimos poucos milhares de anos — em termos evolutivos, ontem de manhã — e exigem imensos esforços de construção social.
Bingo! Não há nada biológico no nacionalismo. Talvez fosse melhor dizer que seres (propriamente) humanos são sociais (a noção de “animal social” é equívoca, referindo-se em geral a abelhas, formigas ou cupins, que vivem em coletivos, mas não são propriamente ‘sociais’ posto que não são ‘pessoas’: social não é sinônimo de coletivo, nem mesmo de rede – é o que inventou o humano propriamente dito, quer dizer, a pessoa). Ademais, milhões de pessoas não formam comunidades concretas, são abstrações. Coleções de milhões não formam comunidade.
As pessoas se deram ao trabalho de construir coletividades nacionais porque se confrontavam com desafios que não podiam ser resolvidos por uma única tribo. Tomem-se, por exemplo, as antigas tribos que viviam ao longo do rio Nilo milhares de anos atrás. O rio era sua força vital. Ele irrigava os campos e transportava o comércio. Mas era um aliado imprevisível. Se havia pouca chuva, as pessoas morriam de fome; se havia chuva demais, o rio transbordava e destruía aldeias inteiras. Nenhuma tribo poderia resolver sozinha seus problemas, porque cada tribo só dominava uma pequena seção do rio e não poderia mobilizar mais do que poucas centenas de trabalhadores. Somente um esforço comum para construir enormes barragens e cavar centenas de quilômetros de canais poderia conter e controlar o poderoso rio. Esse foi um dos motivos pelos quais as tribos aos poucos coalesceram numa única nação que teve o poder de construir barragens e canais, regular o fluxo do rio, construir reservatórios de grãos para os anos magros e estabelecer um sistema de transporte e comunicação abrangendo todo o país.
Tribos construíram, pelos motivos apontados por Harari, assentamentos humanos maiores, cidades até (como Jericó), mas isso não significa o mesmo que nação. Há um problema aqui. A nação já é produto de um padrão civilizatório específico: o patriarcal.
Apesar dessas vantagens, transformar tribos e clãs em uma única nação nunca foi fácil, em tempos passados ou hoje em dia. Para se dar conta de como é difícil identificar-se com essa nação, você só precisa se perguntar: “Eu conheço essas pessoas?”. Sei o nome de minhas duas irmãs e de meus onze primos, e sou capaz de falar um dia inteiro sobre suas personalidades, seus caprichos e seus relacionamentos. Não sei o nome das 8 milhões de pessoas que compartilham comigo a cidadania israelense, nunca me encontrei com a maioria delas, e é muito pouco provável que as encontre no futuro. Minha capacidade de, apesar disso, sentir que sou leal a essa massa nebulosa não é um legado de meus ancestrais caçadores-coletores, e sim um milagre da história recente. Um biólogo marciano que conhecesse apenas a anatomia e a evolução do Homo sapiens seria incapaz de adivinhar que esses macacos são capazes de desenvolver laços comunitários com milhões de estranhos. Para convencer-me a ser leal a “Israel” e seus 8 milhões de habitantes, o movimento sionista e o Estado israelense tiveram de criar um gigantesco aparelho de educação, propaganda e patriotismo, assim como sistemas nacionais de segurança, saúde e bem-estar social.
Exato! Mas já aparece aqui uma (con)fusão entre Estado e nação. Harari descreve o processo pelo qual o Estado inventa a nação e não o processo supostamente “natural” pelo qual tribos e clãs constituem nações. Por último, não foi “um milagre”, talvez uma desgraça.
Isso não quer dizer que haja algo de errado com vínculos nacionais. Sistemas imensos não são capazes de funcionar sem lealdades de massa, e expandir o círculo de empatia humana tem seus méritos. As formas mais amenas de patriotismo têm estado entre as mais benevolentes criações humanas. Acreditar que minha nação é única, que ela merece minha lealdade e que eu tenho obrigações especiais com seus membros inspira-me a me importar com os outros e a fazer sacrifícios por eles. É perigoso acreditar que sem nacionalismos estaríamos todos vivendo em paraísos liberais. Mais provavelmente, estaríamos vivendo num caos tribal. Países pacíficos, prósperos e liberais, como a Suécia, a Alemanha e a Suíça, cultivam todos um forte senso de nacionalismo. A lista de países aos quais faltam ligações nacionais robustas inclui o Afeganistão, a Somália, o Congo e muitos outros Estados falidos (1).
Harari deveria ler, se não o fez, os três últimos livros de Shlomo Sand, em especial A Invenção da Terra de Israel: Da Terra Santa à Terra Pátria (2012), mas também A Invenção do Povo Judeu (2008) e o último Como deixei de ser judeu (2013). O primeiro capítulo de A Invenção da Terra de Israel, que trata da questão da criação de pátrias, está disponível aqui. Ao contrário do que ele – Harari – supõe, como escreve Shlomo, “é importante lembrar que pátrias não produziram nacionalismo, mas, pelo contrário, as pátrias surgiram do nacionalismo. A pátria se mostraria uma das mais surpreendentes e talvez a mais destrutiva das criações da era moderna”. Jericó viveu seus primeiros dois mil anos sem Estado (quer dizer, sem nação) e, ao que se saiba, não vivia “num caos tribal”.
O problema começa quando o patriotismo benigno se transforma em ultranacionalismo chauvinista. Em vez de acreditar que minha nação é única – o que é verdadeiro para todas as nações —, eu poderia começar a sentir que minha nação é suprema, que devo a ela toda a minha lealdade e que não tenho obrigações relevantes com mais ninguém. Esse é um terreno fértil para conflitos violentos. Durante gerações a crítica mais básica ao nacionalismo era que ele levava à guerra. Mas a constatação de que havia relação entre nacionalismo e violência dificilmente era capaz de conter os excessos nacionalistas, particularmente quando toda nação justificava sua própria expansão militar alegando a necessidade de se proteger contra as armações de seus vizinhos. Enquanto a nação provia a maior parte de seus cidadãos com níveis inéditos de segurança e prosperidade, eles estavam dispostos a pagar o preço com sangue. No século XIX e início do século XX esse compromisso nacionalista ainda parecia muito atraente. Embora o nacionalismo estivesse levando a terríveis conflitos numa escala sem precedente, os Estados-nação modernos também construíam sistemas robustos de saúde, educação e bem-estar social. Os serviços nacionais de saúde faziam com que as batalhas de Ipres e de Verdun parecessem ter valido a pena.
Ora, um “patriotismo benigno” não deveria então ser chamado de patriotismo.
Tudo mudou em 1945. A invenção de armas nucleares abalou fortemente o equilíbrio do arranjo nacionalista. Depois de Hiroshima, as pessoas não temiam que o nacionalismo pudesse levar meramente à guerra — começaram a temer que levaria a uma guerra nuclear. A aniquilação total serviu para aguçar a mente das pessoas, e graças, não em pequena medida, à bomba atômica, o impossível aconteceu e o gênio do nacionalismo foi espremido, ao menos em parte, de volta para sua garrafa. Assim como os antigos aldeões da bacia do Nilo redirecionaram parte de sua lealdade dos clãs locais para um reino muito maior capaz de conter o perigoso rio, na era nuclear uma comunidade global aos poucos se desenvolveu além e acima das várias nações, porque somente uma comunidade desse tipo seria capaz de conter o demônio nuclear.
Uma “comunidade global” não pode ser uma comunidade concreta.
Na campanha presidencial de 1964, Lyndon B. Johnson pôs no ar o famoso “anúncio da margarida”, uma das mais bem-sucedidas peças de propaganda nos anais da televisão. O anúncio começa com uma garotinha colhendo e contando as pétalas de uma margarida, mas quando chega a dez uma voz metálica assume a contagem regressiva, de dez a zero, como num lançamento de míssil. Ao chegar a zero o clarão de uma explosão nuclear enche a tela, e o candidato Johnson dirige-se ao público americano e diz: “É isto que está em jogo. Criar um mundo no qual todos os filhos de Deus podem viver ou entrar na escuridão. Devemos ou amar uns aos outros ou morrer” (2). Tendemos a associar o mote “faça amor, não faça guerra” à contracultura do final da década de 1960, mas na verdade já em 1964 era consenso até mesmo entre políticos durões como Johnson.
“Faça amor, não faça guerra” teve muitas outras conotações. Aplicava-se às relações cotidianas entre as pessoas, não apenas às advertências contra a catástrofe de um holocausto nuclear global.
Consequentemente, durante a Guerra Fria o nacionalismo cedeu lugar a uma abordagem mais global da política internacional, e quando a Guerra Fria acabou a globalização parecia ser a irresistível onda do futuro. Esperava-se que o gênero humano abandonasse a política nacionalista, como se fosse uma relíquia de tempos mais primitivos que atrairia no máximo os mal informados habitantes de alguns países subdesenvolvidos. Acontecimentos em anos recentes provaram, no entanto, que o nacionalismo ainda é capaz de seduzir até mesmo cidadãos da Europa e dos Estados Unidos, mais ainda da Rússia, da Índia e da China. Alienadas pelas forças impessoais do capitalismo global, e temendo pelo destino de seus sistemas nacionais de saúde, educação e bem- estar social, pessoas em todo o mundo vão buscar conforto e sentido no seio da nação.
Sim, mas a questão é que isso não aconteceu em razão do medo (ou da redução do medo) de uma nova guerra mundial nuclear e sim em razão do reflorescimento de projetos autoritários, inspirados pelo medo, das atuais formas de governança, baseadas no Estado-nação, da emergência de uma sociedade-em-rede.
Porém a questão levantada por Johnson no anúncio da margarida é ainda mais pertinente hoje em dia do que em 1964. Vamos criar um mundo no qual todos os humanos possam viver juntos ou vamos entrar na escuridão? Donald Trump, Theresa May, Vladimir Putin, Narendra Modi e seus colegas serão capazes de salvar o mundo apelando para nossos sentimentos nacionais, ou será a atual torrente nacionalista uma forma de evadir o intratável problema global que enfrentamos?
O Estado-nação, expressão do mundo único hierárquico, teme ser desabilitado pela emersão de uma sociedade-em-rede, que estilhaçará esse mundo único em miríades de aldeias glocais.
O DESAFIO NUCLEAR
Comecemos com a nêmese íntima do gênero humano: a guerra nuclear. Quando o anúncio da margarida foi ao ar, em 1964, dois anos após a crise dos mísseis de Cuba, a aniquilação nuclear era uma ameaça palpável. Especialistas e leigos temiam que o gênero humano não tivesse sabedoria para evitar a destruição, e que era apenas questão de tempo para a Guerra Fria ferver. Na verdade, o gênero humano provou-se à altura do desafio nuclear. Americanos, soviéticos, europeus e chineses mudaram o modo com que a geopolítica fora conduzida durante milênios, e assim a Guerra Fria terminou com pouco derramamento de sangue, e uma nova ordem mundial internacionalista fomentou uma era de paz sem precedente. Não só se evitou a guerra nuclear, como diminuíram as guerras de todos os tipos. Desde 1945, surpreendentemente, poucas fronteiras foram redesenhadas mediante agressão direta, e a maior parte dos países cessou de usar a guerra como instrumento político padrão. Em 2016, apesar da guerra na Síria, na Ucrânia e vários outros focos de tensão, menos pessoas morreram devido à violência humana do que a obesidade, acidentes de carro ou suicídio (3). Essa talvez seja a maior realização política e moral de nossos tempos.
Correto, mas o objetivo da guerra fria não era destruir o mundo e nem destruir os inimigos (de cada bloco) e sim manter os inimigos como pretexto para erigir, internamente a cada bloco, cosmos sociais organizados segundo padrões hierárquicos e regidos por modos autocráticos de regulação de conflitos.
Infelizmente, estamos tão acostumados a essa conquista que a tomamos como certa e garantida. É por isso, em parte, que há quem se permita brincar com fogo. A Rússia e os Estados Unidos embarcaram recentemente numa nova corrida nuclear, desenvolvendo novas máquinas do juízo final que ameaçam desfazer tudo o que se ganhou a duras penas nas últimas décadas e nos levar de volta à beira da aniquilação nuclear (4). Enquanto isso o público aprendeu a parar de se preocupar e de amar a bomba (como sugeriu o dr. Fantástico), ou simplesmente esqueceu que ela existia.
A Rússia (de Putin) e os Estados Unidos (de Bush e, pulando Obama, de Trump) não querem, na verdade, apostar num apocalipse nuclear e sim reeditar – sob novo formato – a guerra fria e a política de blocos (pelos motivos expostos no comentário acima). Trata-se de um ataque à democracia liberal.
Assim, o debate do Brexit na Inglaterra — uma importante potência nuclear — girou principalmente em torno de questões de economia e imigração, enquanto a contribuição vital da União Europeia para a paz europeia e global foi amplamente ignorada. Após séculos de terríveis carnificinas, franceses, alemães, italianos e britânicos finalmente construíram um mecanismo que garante a harmonia continental — até o público inglês sabotar essa máquina milagrosa.
Quem sabotou? Os eleitores foram conquistados (e manipulados) por forças políticas interessadas em barrar a emergência de uma sociedade-em-rede, criando condições para o ressurgimento de impérios (como, no caso de Putin, o neo-euro-eurasiano).
Foi extremamente difícil construir o regime internacional que impediu uma guerra nuclear e salvaguardou a paz no mundo. Não há dúvida de que precisamos adaptar esse regime às novas condições globais, por exemplo, apoiando-nos menos nos Estados Unidos e atribuindo um papel maior a potências não ocidentais, como China e Índia (5). No entanto, abandonar totalmente esse regime e reverter para uma política nacionalista de poder seria uma aposta irresponsável. É verdade que no século XIX os países jogaram o jogo nacionalista sem destruir a civilização humana. Mas isso foi na era pré-Hiroshima. Desde então, as armas nucleares elevaram as apostas e mudaram a natureza fundamental da guerra e da política. Enquanto os humanos souberem como enriquecer urânio e plutônio, sua sobrevivência depende de saberem dar preferência à prevenção de uma guerra nuclear em detrimento dos interesses de qualquer nação em particular. Nacionalistas fervorosos que gritam “Nosso país em primeiro lugar!” deveriam se perguntar se seu país é capaz de, sozinho, sem um robusto sistema de cooperação internacional, proteger o mundo — ou a si mesmo — da destruição nuclear.
Está correta a referência ao America First de Trump. Mas não se trata de proteger o mundo da destruição nuclear (o que não interessa a ninguém) e sim de voltar à política de grandes blocos de poder para manter cosmos sociais hierárquicos e autocráticos. Harari parece não entender muito de política, de rede e… de democracia.
O DESAFIO ECOLÓGICO
Além da guerra nuclear, nas próximas décadas o gênero humano vai enfrentar uma nova ameaça existencial que os radares políticos mal registravam em 1964: o colapso ecológico. Os humanos estão desestabilizando a biosfera global em múltiplas frentes. Estamos extraindo cada vez mais recursos do meio ambiente, e despejando nele quantidades enormes de lixo e veneno, mudando a composição do solo, da água e da atmosfera.
Não temos sequer ideia das dezenas de milhares de maneiras com que rompemos o delicado equilíbrio ecológico que se configurou ao longo de milhões de anos. Considere, por exemplo, o uso de fosfato como fertilizante. Em pequenas quantidades é um nutriente essencial para o crescimento de plantas. Mas em quantidades excessivas torna-se tóxico. A agricultura industrial moderna baseia-se em fertilizar artificialmente os campos com muito fosfato, mas a grande quantidade de fosfato que escorre das fazendas vai envenenar rios, lagos e oceanos, com impacto devastador na vida marinha. Um agricultor que cultiva milho em Iowa pode estar inadvertidamente matando peixes no golfo do México.
Como resultado dessas atividades, hábitats são degradados, animais e plantas são extintos e ecossistemas inteiros, como a Grande Barreira de Corais australiana e a Floresta Amazônica, podem ser destruídos. Durante milhares de anos o Homo sapiens comportou-se como um assassino em série ecológico; agora está se metamorfoseando num assassino em massa ecológico. Se continuarmos no curso atual, isso não apenas causará a aniquilação de um grande percentual de todas as formas de vida como poderia também solapar os fundamentos da civilização humana (6).
A ameaça maior é a mudança climática. Os humanos existem há centenas de milhares de anos, e sobreviveram a inúmeras idades do gelo e ondas de calor. No entanto, a agricultura, as cidades e as sociedades complexas existem há menos de 10 mil anos. Durante esse período, conhecido como Holoceno, o clima da Terra tem sido relativamente estável. Qualquer desvio dos padrões do Holoceno apresentará às sociedades humanas desafios enormes com os quais nunca se depararam. Será como fazer um experimento em aberto com bilhões de cobaias humanas. Mesmo que a civilização se adapte posteriormente às novas condições, quem sabe quantas vítimas perecerão no processo de adaptação?
Esse experimento aterrorizante já foi acionado. Ao contrário de uma guerra nuclear — que é um futuro potencial —, a mudança climática é uma realidade presente. Existe um consenso científico de que atividades humanas, particularmente a emissão de gases de efeito estufa como o dióxido de carbono, estão fazendo o clima da terra mudar num ritmo assustador (7). Ninguém sabe exatamente quanto dióxido de carbono podemos continuar lançando na atmosfera sem desencadear um cataclismo irreversível. Mas nossas melhores estimativas científicas indicam que a menos que cortemos dramaticamente a emissão de gases de efeito estufa nos próximos vinte anos, a temperatura média global se elevará em 20 C (8) o que resultará na expansão de desertos, no desaparecimento de calotas de gelo, na elevação dos oceanos e em maior recorrência de eventos climáticos extremos, como furacões e tufões. Essas mudanças, por sua vez, vão desmantelar a produção agrícola, inundar cidades, tornar grande parte do mundo inabitável e despachar centenas de milhões de refugiados em busca de novos lares (9).
Além disso, estamos nos aproximando rapidamente de um certo número de pontos de inflexão além dos quais mesmo uma queda dramática na emissão de gases de efeito estufa não será suficiente para reverter essa tendência e evitar uma tragédia de abrangência mundial. Por exemplo, à medida que o aquecimento global derrete os mantos de gelo polar, menos luz solar é refletida do planeta Terra para o espaço. Isso quer dizer que o planeta estará absorvendo mais calor, as temperaturas se elevarão ainda mais e o gelo derreterá ainda mais rapidamente. Quando esse ciclo ultrapassar um limiar crítico, ele vai criar um impulso próprio irresistível, e todo o gelo das regiões polares derreterá mesmo que os humanos parem de queimar carvão, petróleo e gás. Por isso não basta que reconheçamos o perigo que enfrentamos. É crucial que façamos algo quanto a isso agora.
Infelizmente, em 2018, em vez de haver uma redução na emissão de gás de efeito estufa, a taxa global de emissão está aumentando. A humanidade dispõe de muito pouco tempo para se desapegar dos combustíveis fósseis. Temos de começar a desintoxicação hoje. Não no ano ou no mês que vem, mas hoje. “Oi, sou o Homo sapiens, e sou viciado em combustível fóssil.”
Onde se encaixa o nacionalismo neste quadro alarmante? Haverá uma resposta nacionalista à ameaça ecológica? Alguma nação, mesmo que poderosa, será capaz de sozinha fazer parar o aquecimento global? Países podem, individualmente, adotar uma variedade de políticas ambientais, muitas das quais fazem sentido econômico e ambiental. Governos podem taxar emissões de carbono, adicionar custos de externalidades ao preço do petróleo e do gás, adotar regulamentos ambientais mais rigorosos, cortar subsídios de indústrias poluentes e incentivar a mudança para energia renovável. Podem também investir mais dinheiro na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias revolucionárias ecologicamente corretas, numa espécie de Projeto Manhattan ecológico. Deve-se ao motor de combustão interna muito dos avanços dos últimos 150 anos, mas, se quisermos manter um meio ambiente física e economicamente estável, ele tem de ser aposentado e substituído por novas tecnologias que não dependem da queima de combustíveis fósseis (10).
Inovações tecnológicas podem ser úteis em muitos outros campos além da energia. Considere, por exemplo, o potencial de desenvolver uma “carne limpa”. Atualmente a indústria da carne não só inflige imenso sofrimento a bilhões de seres sencientes como também é uma das causas do aquecimento global, um dos principais consumidores de antibióticos e veneno e um dos maiores poluidores do ar, da terra e da água. Segundo um relatório de 2013 da Institution of Mechanical Engineers, são necessários 15 mil litros de água fresca para produzir um quilograma de carne bovina, comparados com 287 litros necessários para produzir um quilograma de batatas (11).
A pressão sobre o meio ambiente provavelmente vai piorar à medida que a prosperidade crescente de países como China e Brasil permitir que centenas de milhões deixem de comer apenas batatas e passem a comer carne regularmente. Seria difícil convencer chineses e brasileiros — isso sem mencionar americanos e alemães — a parar de comer bifes, hambúrgueres e salsichas. Mas e se os engenheiros fossem capazes de encontrar uma maneira de produzir carne a partir de células? Se quiser um hambúrguer, crie apenas um hambúrguer, em vez de criar e abater uma vaca inteira (e transportar a carcaça por milhares de quilômetros).
Isso pode soar como ficção científica, mas o primeiro hambúrguer limpo foi criado a partir de células — e depois comido — em 2013. Custou 330 mil dólares. Quatro anos de pesquisa e desenvolvimento trouxeram o preço para onze dólares por unidade, e dentro de mais uma década espera-se que a carne limpa produzida industrialmente seja mais barata do que a carne abatida. Esse desenvolvimento tecnológico pode salvar bilhões de animais de uma vida de miséria abjeta, ajudar a alimentar bilhões de humanos malnutridos e ao mesmo tempo ajudar a impedir o colapso ecológico (12).
Há, portanto, muitas coisas que governos, corporações e indivíduos podem fazer para evitar a mudança climática. Mas para que sejam eficazes devem ser feitas num nível global. Quando se trata de clima, os países simplesmente não são soberanos. Estão à mercê de ações realizadas por pessoas no outro lado do planeta. A República de Kiribati — uma nação insular no oceano Pacífico — pode reduzir sua emissão de gás de efeito estufa a zero, e assim mesmo ficar submersa com a elevação das águas se outros países não seguirem seu exemplo. O Chade pode pôr painéis solares em todos os telhados do país e ainda assim tornar-se um deserto árido devido às políticas ambientais irresponsáveis de estrangeiros longínquos. Até mesmo nações poderosas como China e Japão não são soberanas no que concerne à ecologia. Para proteger Xangai, Hong Kong e Tóquio de inundações e tufões destrutivos, chineses e japoneses terão de convencer os governos russo e americano a abandonar seu comportamento tradicional.
O isolacionismo nacionalista talvez seja mais perigoso no contexto de mudança climática do que no contexto de uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear em escala mundial ameaçaria destruir todas a nações, e assim todas as nações têm interesse em evitá-la. O aquecimento global, em contraste, provavelmente terá impacto diferente em diferentes nações. Alguns países, notadamente a Rússia, podem se beneficiar dele. A Rússia tem poucos ativos em seu litoral, daí estar muito menos preocupada que a China ou o Kiribati quanto à elevação do nível do mar. E enquanto temperaturas mais altas provavelmente transformariam a China num deserto, elas podem simultaneamente fazer da Sibéria o celeiro do mundo. Além disso, enquanto o gelo derrete no extremo norte, as rotas no mar Ártico dominado pela Rússia podem tornar-se a artéria do comércio global, e Kamchatka poderá substituir Cingapura como o entroncamento do mundo (13).
Da mesma forma, é provável que a substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia seja mais atraente para alguns países do que para outros. China, Japão e Coreia do Sul dependem da importação de enormes quantidades de petróleo e gás. Ficarão felizes de se livrar desse fardo. Rússia, Irã e Arábia Saudita dependem da exportação de petróleo e gás. Suas economias entrarão em colapso se o petróleo e o gás de repente derem lugar ao Sol e ao vento.
Consequentemente, enquanto algumas nações como China, Japão e Kiribati provavelmente farão forte pressão para a redução das emissões de carbono o mais cedo possível, outras nações, como Rússia e Irã, podem ficar muito menos entusiasmadas. Mesmo em países suscetíveis a grandes perdas com o aquecimento global, como os Estados Unidos, nacionalistas talvez sejam míopes e autocentrados demais para avaliar o perigo. Um exemplo pequeno, porém eloquente, foi dado em janeiro de 2018, quando os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 30% sobre painéis solares e equipamentos de energia solar de fabricação estrangeira, preferindo apoiar produtores americanos mesmo ao preço de retardar a mudança para a energia renovável (14).
Uma bomba atômica é uma ameaça tão óbvia e imediata que ninguém pode ignorá-la. O aquecimento global, em contraste, é uma ameaça mais vaga e prolongada. Daí que, sempre que considerações ambientais de longo prazo exigem algum sacrifício, nacionalistas podem ser tentados a pôr interesses nacionais em primeiro lugar, e se tranquilizam dizendo que podem se preocupar com o meio ambiente mais tarde, ou deixar isso para pessoas de outros lugares. Ou então podem simplesmente negar a existência do problema. Não é coincidência que o ceticismo quanto à mudança climática tende a ser exclusivo da direita nacionalista. Raramente veem-se socialistas ou a esquerda proclamar que “a mudança climática é um embuste chinês”. Como não existe uma resposta nacional ao problema do aquecimento global, alguns políticos nacionalistas preferem acreditar que o problema não existe (15).
Exato!
O DESAFIO TECNOLÓGICO
É provável que a mesma dinâmica estrague qualquer antídoto nacionalista à terceira ameaça existencial do século XXI: a disrupção tecnológica. Como vimos em capítulos anteriores, a fusão da tecnologia da informação com a biotecnologia abre a porta para uma cornucópia de cenários apocalípticos, que vão desde ditaduras digitais até a criação de uma classe global de inúteis. Qual é a resposta nacionalista a essas ameaças?
Não existe uma resposta nacionalista. Como no caso da mudança climática, também no da disrupção tecnológica o Estado-nação é simplesmente o contexto errado para enfrentar a ameaça. Uma vez que pesquisa e desenvolvimento não são monopólio de nenhum país, nem mesmo uma superpotência como os Estados Unidos pode restringi-los a si mesma. Se o governo dos Estados Unidos proibir que se faça engenharia genética em embriões humanos, isso não impedirá que cientistas chineses a façam. E se os desenvolvimentos daí resultantes conferirem à China alguma vantagem econômica ou militar importante, os Estados Unidos ficarão tentados a abolir sua própria proibição. Especialmente num mundo xenofóbico em que um devora o outro, se um único país optar por seguir um caminho tecnológico de alto ganho e alto risco, outros países serão obrigados a fazer o mesmo, porque ninguém pode se dar ao luxo de ficar para trás. Para evitar uma corrida ao fundo do poço, o gênero humano provavelmente vai precisar de algum tipo de identidade e lealdade global.
Além disso, enquanto a guerra nuclear e a mudança climática ameaçam apenas a sobrevivência física do gênero humano, tecnologias disruptivas podem mudar a própria natureza da humanidade, e estão entrelaçadas com as mais profundas crenças éticas e religiosas humanas. Enquanto todos concordam que devíamos evitar a guerra nuclear e o colapso ecológico, as pessoas têm opiniões muito diferentes quanto ao uso da bioengenharia e da IA para aprimorar os humanos e criar novas formas de vida. Se o gênero humano não conseguir conceber e administrar diretrizes éticas globalmente aceitas, estará aberta a temporada para o dr. Frankenstein.
Quando se trata de formular essas diretrizes éticas, acima de tudo é o nacionalismo que sofre de um fracasso da imaginação. O nacionalismo pensa em termos de conflitos territoriais que duram séculos, enquanto as revoluções tecnológicas do século XXI deveriam ser compreendidas em termos cósmicos. Depois de 4 bilhões de anos de vida orgânica evoluindo por seleção natural, a ciência está nos levando à era da vida inorgânica configurada por design inteligente.
Neste processo, o Homo sapiens provavelmente desaparecerá. Ainda somos macacos da família dos hominídeos. Ainda compartilhamos com neandertais e chimpanzés a maior parte de nossas estruturas corporais, habilidades físicas e faculdades mentais. Não só nossas mãos, olhos e cérebro são distintamente hominídeos como também nosso amor, nossa paixão, nossa raiva e nossos vínculos sociais. Dentro de um ou dois séculos, a combinação de biotecnologia e IA poderá resultar em traços corporais, físicos e mentais que se libertem completamente do molde hominídeo. Alguns acreditam que a consciência poderia até mesmo ser dissociada de toda estrutura orgânica, e surfar pelo ciberespaço livre de todas as restrições biológicas e físicas. Por outro lado, poderíamos testemunhar a total dissociação de inteligência e consciência, e o desenvolvimento da IA poderia resultar num mundo dominado por entidades superinteligentes, mas totalmente não conscientes.
O que tem o nacionalismo israelense, russo ou francês a dizer sobre isso? Para poder fazer escolhas sensatas quanto ao futuro da vida, precisamos ir bem além do ponto de vista nacionalista e olhar para as coisas de uma perspectiva global, ou até mesmo cósmica.
Correto, mas Harari exagerou – e revelou uma incompreensão do que é o ‘social’ – quando disse que “nosso amor… e nossos vínculos sociais” ainda são os mesmos (ou derivados) da nossa condição biológica de macacos hominídeos. O social é o propriamente humano. Macacos hominídeos não são pessoas.
A ESPAÇONAVE TERRA
Cada um desses três problemas — guerra nuclear, colapso ecológico e disrupção tecnológica — é suficiente para ameaçar o futuro da civilização. Mas, tomados em conjunto, eles se somam a uma crise existencial sem precedente, em especial porque provavelmente irão se reforçar e recompor mutuamente.
“Futuro da civilização”? Quê civilização (a patriarcal, posto que é a única que ganhou esse nome)? O problema é o futuro da humanidade, não da civilização. Há um escorregão aqui.
Por exemplo, mesmo que a crise ecológica ameace a sobrevivência da civilização humana como a conhecemos, é improvável que detenha o desenvolvimento da IA e da bioengenharia. Se você está contando com a elevação dos oceanos, a constante diminuição no suprimento de alimentos e as migrações em massa para desviar nossa atenção dos algoritmos e dos genes, pense novamente. À medida que a crise ecológica se aprofunda, o desenvolvimento de tecnologias de alto risco e alto ganho provavelmente só vai acelerar.
Na verdade, a mudança climática pode vir a desempenhar a mesma função das duas guerras mundiais. Entre 1914 e 1918, e novamente entre 1939 e 1945, o ritmo do desenvolvimento tecnológico disparou porque as nações envolvidas em uma guerra total mandaram a cautela e a economia para o espaço e investiram imensos recursos em todo tipo de projetos audaciosos e fantásticos. Muitos desses projetos fracassaram, mas alguns resultaram em tanques, radar, gás venenoso, jatos supersônicos, mísseis intercontinentais e bombas nucleares. Da mesma forma, as nações, ante um cataclismo climático, poderiam ficar tentadas a investir suas esperanças em apostas tecnológicas desesperadas. O gênero humano tem muitas e justificadas dúvidas quanto à IA e à bioengenharia, mas em tempos de crise as pessoas fazem coisas arriscadas. O que quer que você pense quanto a regular tecnologias disruptivas, pergunte a si mesmo se é provável que essas regulações se mantenham mesmo que a mudança climática cause escassez global de alimentos, inunde cidades em todo o mundo e obrigue centenas de milhões de refugiados a cruzar fronteiras.
As disrupções tecnológicas, por sua vez, poderiam aumentar o perigo de guerras apocalípticas não só ao acirrar as tensões globais, mas também ao desestabilizar o equilíbrio do poder nuclear. Desde a década de 1950, as superpotências evitam conflitos entre si porque sabem que uma guerra significaria destruição mútua garantida. Mas, à medida que surgem novos tipos de armas ofensivas e defensivas, uma superpotência tecnológica emergente poderia concluir que é capaz de destruir seus inimigos impunemente. Por outro lado, uma potência em declínio poderia temer que suas armas atômicas tradicionais ficassem logo obsoletas e que seria melhor usá-las antes de perdê-las. Tradicionalmente, confrontos nucleares se parecem com um jogo de xadrez hiper-racional. O que acontecerá quando jogadores forem capazes de usar ciberataques para se apoderar do controle das peças de um rival, ou quando terceiras partes anônimas puderem mover um peão sem que ninguém saiba quem fez a jogada — ou quando o Alfa-Zero for promovido do xadrez comum ao xadrez nuclear?
Assim como desafios diferentes tendem a se reforçar reciprocamente, também a boa vontade necessária para enfrentar um desafio pode ser corrompida devido a problemas em outra frente. Países envolvidos em competição armamentista não são propensos a concordar com restrições ao desenvolvimento de IA, e países que se esforçam por ultrapassar as conquistas tecnológicas de seus rivais acharão muito difícil concordar com um plano comum para deter a mudança climática. Enquanto o mundo permanecer dividido em nações rivais será muito difícil superar simultaneamente os três desafios — e o fracasso em uma única dessas frentes pode se mostrar catastrófico.
Exato! Por isso o nacionalismo é o problema.
Para concluir, a onda nacionalista que varre o mundo não pode fazer o relógio recuar para 1939 ou 1914. A tecnologia mudou tudo ao criar um conjunto de ameaças existenciais globais que nenhuma nação é capaz de resolver sozinha. Um inimigo comum é o melhor catalisador para a formação de uma identidade comum, e o gênero humano tem agora pelo menos três desses inimigos — guerra nuclear, mudança climática e disrupção tecnológica. Se apesar dessas ameaças comuns os humanos privilegiarem suas lealdades nacionais particulares acima de tudo, os resultados serão muito piores que os de 1914 e 1939.
Um caminho muito melhor é o que foi delineado na Constituição da União Europeia: “enquanto permanecem orgulhosos de suas próprias identidades nacionais e de sua história, os povos da Europa estão determinados a transcender suas divisões anteriores e, ainda mais estreitamente unidos, forjar um destino comum” (16). Isso não significa a abolição de todas as identidades nacionais, o abandono de todas as tradições locais e a transformação da humanidade numa gosma homogênea e cinzenta. Nem significa o vilipêndio de todas as expressões de patriotismo. Na verdade, ao prover um escudo protetor continental, militar e econômico, a União Europeia sem dúvida fomentou o patriotismo local em lugares como Flandres, Lombardia, Catalunha e Escócia. A ideia de estabelecer uma Escócia ou uma Catalunha independentes fica mais atraente quando não se teme uma invasão alemã e quando se pode contar com uma frente europeia comum contra o aquecimento global e corporações multinacionais.
Significa, sim. O patriotismo é uma ideia destrutiva.
Por isso os nacionalistas europeus estão se portando com tranquilidade. Com todo o discurso do retorno da nação, poucos europeus estariam efetivamente dispostos a matar e serem mortos por isso. Quando os escoceses decidiram se livrar do controle de Londres na época de William Wallace e Robert Bruce, tiveram de pegar em armas. Em contraste, nem uma só pessoa foi morta durante o referendo escocês de 2014, e se na próxima vez os escoceses votarem pela independência, é altamente improvável que tenham de reeditar a Batalha de Bannockburn. A tentativa catalã de se separar da Espanha resultou em violência, mas tampouco se compara com as carnificinas de 1939 ou 1714 em Barcelona.
Oxalá o resto do mundo possa aprender com o exemplo europeu. Mesmo num planeta unido haverá muito espaço para o tipo de patriotismo que celebra a singularidade de minha nação e salienta minhas obrigações com ela. Mas, se queremos sobreviver e florescer, o gênero humano não tem outra opção a não ser complementar essas lealdades locais com obrigações reais para com a comunidade global. Uma pessoa pode e deve ser simultaneamente leal a sua família, sua vizinhança, sua profissão e sua nação — por que não acrescentar à lista a humanidade e o planeta? É verdade que quando se tem múltiplas lealdades os conflitos são às vezes inevitáveis. Mas quem disse que a vida era simples?
Mas “o tipo de patriotismo que celebra a singularidade de minha nação e salienta minhas obrigações com ela” não poderia ser chamado, a rigor, de patriotismo.
Em séculos passados as identidades nacionais eram forjadas porque os humanos enfrentavam problemas e oportunidades que estavam muito além do escopo de tribos locais, e somente com uma cooperação que abrangesse todo o país poder-se-ia lidar com eles. No século XXI, as nações encontram-se na mesma situação das tribos antigas: já não constituem mais o contexto no qual se tem de enfrentar os mais importantes desafios da época. Precisamos de uma nova identidade global porque as instituições nacionais são incapazes de lidar com um conjunto de situações globais sem precedentes. Hoje temos uma ecologia global, uma economia global e uma ciência global — mas ainda estamos encalhados em políticas nacionais. Essa incompatibilidade impede que o sistema político combata efetivamente nossos principais problemas. Para ter uma política efetiva temos ou de desglobalizar a ecologia, a economia e a marcha da ciência, ou globalizar nossa política. Como é impossível desglobalizar a ecologia e a marcha da ciência, e como o custo da desglobalização da economia seria provavelmente proibitivo, a única solução real é globalizar a política. Isso não significa criar um “governo global” — ideia duvidosa e pouco realista. Ao contrário, globalizar a política significa que a dinâmica política dos países e até mesmo das cidades deveria dar mais importância a interesses e problemas globais.
Sim. Mas as nações (quer dizer, o Estado) não nasceram da cooperação para enfrentar problemas comuns, como supõe benevolamente Harari (ver nota anterior). Por outro lado, uma política global é um desafio insuperável enquanto o mundo estiver submetido ao sistema de equilíbrio competitivo entre Estados-nações.
É pouco provável que sentimentos nacionalistas sejam de grande ajuda. Talvez, então, possamos confiar nas tradições religiosas universais da humanidade para que nos ajudem a unir o mundo? Centenas de anos atrás, religiões como o cristianismo e o islamismo pensavam em termos globais, e não locais, e estavam sempre profundamente interessadas nas grandes questões da vida, e não apenas nas lutas políticas desta ou aquela nação. Mas as religiões tradicionais ainda são relevantes? Teriam o poder de reconfigurar o mundo, ou são apenas relíquias inertes de nosso passado, arremessadas aqui e ali pelas poderosas forças de Estados, economias e tecnologias modernas?
Notas do Capítulo II. 7
1. Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy (Nova York: Farrar, Straus & Giroux, 2014).
2. Ashley Killough, “Lyndon Johnson’s ‘Daisy’ Ad, Which Changed the World of Politics, Turns 50” (CNN, 8 set. 2014). Disponível em: <http://edition.cnn.com/2014/09/07/politics/daisy-ad-turns-50/index.html>. Acesso em: 19 out. 2017.
3. “Cause-Specific Mortality: Estimates for 2000-2015” (Organização Mundial de Saúde, 2015). Disponível em:
<http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html>. Acesso em: 19 out. 2017.
4. David E. Sanger e William J. Broad, “To Counter Russia, US Signals Nuclear Arms Are Back in a Big Way” (New York Times, 4 fev. 2018). Disponível em: <https://www.nytimes.com/2018/02/04/us/politics/trump-nuclear- russia.html>. Acesso em: 6 fev. 2018. Departamento de Defesa dos Estados Unidos, “Nuclear Posture Review 2018”. Disponível em: <https://www.defense.gov/News/Special-Reports/0218_npr/>. Acesso em: 6 fev. 2018. Jennifer Hansler, “Trump Says He Wants Nuclear Arsenal in ‘Tip-Top Shape’, Denies Desire to Increase Stockpile” (CNN, 12 out. 2017). Disponível em: <http://edition.cnn.com/2017/ 10/11/politics/nuclear-arsenal-trump/index.html>. Acesso em: 19 out. 2017. Jim Garamone, “DoD Official: National Defense Strategy Will Enhance Deterrence” (Department of Defense News, Defense Media Activity, 19 jan. 2018). Disponível em:
<https://www.defense.gov/News/Article/Article/1419045/dod-official-national-defense-strategy-will-rebuild- dominance-enhance-deterrence/>. Acesso em: 28 jan. 2018.
5. Michael Mandelbaum, Mission Failure: America and the World in the Post-Cold War Era (Nova York: Oxford University Press, 2016).
6. Elizabeth Kolbert, Field Notes from a Catastrophe (Londres: Bloomsbury, 2006); Elizabeth Kolbert, The Sixth Extinction: An Unnatural History (Londres: Bloomsbury, 2014); Will Steffen et al., “Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet” (Science, v. 347, n. 6223, 13 fev. 2015). DOI: 10.1126/science.1259855.
7. John Cook et al., “Quantifying the Consensus on Anthropogenic Global Warming in the Scientific Literature” (Environmental Research Letters, v. 8, n. 2, 2013). John Cook et al., “Consensus on Consensus: A Synthesis of Consensus Estimates on Human-Caused Global Warming” (Environmental Research Letters, v. 11, n. 4, 2016). Andrew Griffin, “15,000 Scientists Give Catastrophic Warning about the Fate of the World in New ‘Letter to Humanity’” (Independent, 13 nov. 2017). Disponível em: <http://www.independent.co.uk/environment/letterto- humanity-warning-climate-change-global-warming-scientists-union-concerned-a8052481.html>. Acesso em: 8 jan. 2018. Justin Worland, “Climate Change Is Already Wreaking Havoc on Our Weather, Scientists Find” (Time, 15 dez. 2017). Disponível em: <http://time.com/5064577/climate-change-arctic/>. Acesso em: 8 jan. 2018.
8. Richard J. Millar et al., “Emission Budgets and Pathways Consistent with Limiting Warming to 1.5 C” (Nature Geoscience, v. 10, pp. 741-7, 2017). Joeri Rogelj et al., “Differences between Carbon Budget Estimates Unraveled” (Nature Climate Change, v. 6, pp. 245-52, 2016). Akshat Rathi, “Did We Just Buy Decades More Time to Hit Climate Goals” (Quartz, 21 set. 2017). Disponível em: <https://qz.com/1080883/the-breathtaking-new-climate-change-study- hasnt-changed-the-urgency-with-which-we-must-reduce-emissions/>. Acesso em: 11 fev. 2018. Roz Pidcock, “Carbon Briefing: Making Sense of the IPCC’s New Carbon Budget” (Carbon Brief, 23 out. 2013). Disponível em:
<https://www.carbonbrief.org/carbonbriefing-making-sense-of-the-ipccs-new-carbon-budget>. Acesso em: 11 fev. 2018.
9. Jianping Huang et al., “Accelerated Dryland Expansion under Climate Change” (Nature Climate Change, v. 6, pp. 166-71, 2016). Thomas R. Knutson, “Tropical Cyclones and Climate Change” (Nature Geoscience, v. 3, pp. 157- 63, 2010). Edward Hanna et al., “Ice-Sheet Mass Balance and Climate Change” (Nature, v. 498, pp. 51-9, 2013). Tim Wheeler e Joachim von Braun, “Climate Change Impacts on Global Food Security” (Science, v. 341, n. 6145, pp. 508- 13, 2013). A. J. Challinor et al., “A Meta-Analysis of Crop Yield under Climate Change and Adaptation” (Nature Climate Change, v. 4, pp. 287-91, 2014). Elisabeth Lingren et al., “Monitoring EU Emerging Infectious Disease Risk Due to Climate Change” (Science, v. 336, n. 6080, pp. 418-9, 2012. Frank Biermann e Ingrid Boas, “Preparing for a Warmer World: Towards a Global Governance System to Protect Climate Change” (Global Environmental Politics, v. 10, n. 1, pp. 60-88, 2010). Jeff Goodell, The Water Will Come: Rising Seas, Sinking Cities and the Remaking of the Civilized World (Nova York: Little, Brown and Company, 2017). Mark Lynas, Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet (Washington: National Geographic, 2008). Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs. Climate (Nova York: Simon & Schuster, 2014). Kolbert, The Sixth Extinction, op. cit.
10. Johan Rockström et al., “A Roadmap for Rapid Decarbonization” (Science, v. 355, n. 6331, 23 mar. 2017). DOI: 10.1126/science.aah3443.
11. Institution of Mechanical Engineers, Global Food: Waste Not, Want Not (Londres: Institution of Mechanical Engineers, 2013, p. 12).
12. Paul Shapiro, Clean Meat: How Growing Meat Without Animals Will Revolutionize Dinner and the World (Nova York: Gallery Books, 2018).
13. “Russia’s Putin Says Climate Change in Arctic Good for Economy” (CBS News, 30 mar. 2017). Disponível em: <http://www.cbc.ca/news/technology/russia-putin-climate-change-beneficial-economy-1.4048430>. Acesso em: 1 mar. 2018. Neela Banerjee, “Russia and the US Could be Partners in Climate Change Inaction” (Inside Climate News, 7 fev. 2017). Disponível em: <https://insideclimatenews.org/news/06022017/russia-vladimir-putin-donald-trump- climate-change-paris-climate-agreement>. Acesso em: 1 mar. 2018. Noah Smith, “Russia Wins in a Retreat on Climate Change” (Bloomberg View, 15 dez. 2016). Disponível em: <https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-12- 15/russia-wins-in-a-retreat-on-climate-change>. Acesso em: 1 mar. 2018. Gregg Easterbrook, “Global Warming: Who Loses — and Who Wins?” (Atlantic, abr. 2007). Disponível em:
<https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2007/04/global-warming-who-loses-and-who-wins/305698/>. Acesso em: 1 mar. 2018. Quentin Buckholz, “Russia and Climate Change: A Looming Threat” (Diplomat, 4 fev. 2016). Disponível em: <https://thediplomat.com/2016/02/russia-and-climate-change-a-looming-threat/>. Acesso em: 1 mar. 2018.
14. Brian Eckhouse, Ari Natter e Christopher Martin, “President Trump Slaps Tariffs on Solar Panels in Major Blow to Renewable Energy” (22 jan. 2018). Disponível em: <http://time.com/5113472/donald-trump-solar-panel- tariff/>. Acesso em: 30 jan. 2018.
15. Miranda Green e Rene Marsh, “Trump Administration Doesn’t Want to Talk about Climate Change” (CNN, 13 set. 2017). Disponível em: <http://edition.cnn.com/2017/09/12/politics/trump-climate-change-silence/index.html>. Acesso em: 22 out. 2017. Lydia Smith, “Trump Administration Deletes Mention of ‘Climate Change’ from Environmental Protection Agency’s Website” (Independent, 22 out. 2017). Disponível em:
<http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-administration-climate-change-deleted- environmental-protection-agency-website-a8012581.html>. Acesso em: 22 out. 2017. Alana Abramson, “No, Trump Still Hasn’t Changed His Mind About Climate Change After Hurricane Irma and Harvey” (Time, 11 set. 2017). Disponível em: <http://time.com/4936507/donald-trump-climate-change-hurricane-irma-hurricane-harvey/>. Acesso em: 22 out. 2017.]
16. “Treaty Establishing a Constitution for Europe” (European Communities, 2005). Disponível em:
<https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_en.pdf>. Acesso em: 23 out. 2017.
8. Religião
Deus agora serve à nação
Até agora, ideologias modernas, cientistas e governos nacionais não conseguiram criar uma visão viável para o futuro da humanidade. Será que essa visão pode ser obtida nos profundos poços das tradições religiosas? Talvez a resposta esteja esperando por nós desde sempre nas páginas da Bíblia, do Corão ou dos Vedas.
As pessoas seculares provavelmente reagirão a essa ideia com ironia ou apreensão. As escrituras sagradas podem ter sido relevantes na Idade Média, mas como poderão nos guiar na era da inteligência artificial, da bioengenharia, do aquecimento global e da guerra cibernética? Mas as pessoas seculares são minoria. Bilhões de humanos ainda professam maior fé no Corão e na Bíblia do que na teoria da evolução; movimentos religiosos moldam as políticas de países tão diversos como a Índia, a Turquia e os Estados Unidos; e animosidades religiosas alimentam conflitos da Nigéria às Filipinas.
Então, quão relevantes são religiões como o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo? Serão capazes de nos ajudar a resolver os problemas que enfrentamos? Para entender o papel de religiões tradicionais no mundo do século XXI, precisamos distinguir três tipos de problemas:
1. Problemas técnicos. Por exemplo, como agricultores em países áridos lidarão com secas severas causadas pelo aquecimento global?
2. Problemas políticos. Por exemplo, quais as primeiras medidas que os governos deveriam adotar para impedir o aquecimento global?
3. Problemas identitários. Por exemplo, deveria eu me preocupar com os problemas de agricultores no outro lado do mundo, ou só devo me preocupar com os problemas de pessoas de minha própria tribo e meu próprio país?
Como veremos nas páginas seguintes, as religiões tradicionais são em grande parte irrelevantes para problemas técnicos e políticos. Em contraste, são extremamente relevantes para problemas identitários — mas na maioria dos casos são parte principal do problema, e não uma possível solução.
PROBLEMAS TÉCNICOS: AGRICULTURA CRISTÃ
Na época pré-moderna, as religiões eram responsáveis por resolver uma ampla gama de problemas técnicos em campos mundanos, tal como a agricultura. Calendários divinos determinavam quando plantar e quando colher, e rituais no templo garantiam a chuva e protegiam contra pragas. Quando surgia uma crise agrícola devido à seca, ou a uma praga de gafanhotos, os agricultores voltavam-se para os sacerdotes a fim de que intercedessem junto aos deuses. A medicina também estava sob domínio religioso. Quase todo profeta, guru e xamã servia também de curandeiro. Assim, Jesus passou boa parte do tempo fazendo doentes sararem, cegos enxergarem, mudos falarem e loucos ficarem sãos. Se você vivesse no antigo Egito ou na Europa medieval e estivesse doente, provavelmente iria a um feiticeiro e não a um médico, e faria uma peregrinação a um templo renomado, e não a um hospital.
Em tempos recentes, os biólogos e os cirurgiões assumiram o lugar de sacerdotes e curandeiros milagrosos. Se o Egito for atacado agora por uma praga de gafanhotos, os egípcios bem que poderão pedir ajuda a Alá — por que não? —, mas não se esquecerão de apelar a químicos, entomologistas e geneticistas para que desenvolvam pesticidas mais fortes e cepas de trigo resistentes a insetos. Se o filho de um hindu devoto estiver com um caso grave de sarampo, o pai fará uma prece a Dhanvantari e lhe oferecerá flores e doces no templo local — mas só depois de ter levado o menino ao hospital mais próximo e o confiado aos cuidados dos médicos. Até mesmo a doença mental — último bastião de curandeiros religiosos — está passando gradualmente para as mãos de cientistas, quando a neurologia substitui a demonologia e o Prozac supera o exorcismo.
A vitória da ciência tem sido tão completa que a própria noção de religião mudou. Não associamos mais religião com agricultura e medicina. Até mesmo muitos fanáticos sofrem hoje de amnésia coletiva e preferem esquecer que as religiões tradicionais sempre reivindicaram esses domínios. “E daí que recorremos a engenheiros e médicos?”, dizem os fanáticos. “Isso não prova nada. O que a religião tem a ver com agricultura e medicina, para começar?”
As religiões tradicionais perderam tanto terreno porque não eram muito boas na agricultura e na medicina. A verdadeira especialidade de sacerdotes e gurus nunca foi realmente fazer chover, curar, a profecia ou a mágica. E, sim, desde sempre, a interpretação. Um sacerdote não é alguém que sabe dançar a dança da chuva e acabar com a seca. Um sacerdote é alguém que sabe justificar o fato de a dança da chuva ter fracassado, e explicar por que devemos continuar acreditando em nosso deus mesmo que ele pareça surdo a nossas preces.
Exato!
Porém é exatamente seu gênio para a interpretação que deixa os líderes religiosos em desvantagem quando competem com cientistas. Os cientistas também sabem tomar atalhos e distorcer a evidência, mas, no fim, o que marca a ciência é a disposição para admitir o fracasso e tentar outro caminho. Por isso os cientistas aprendem gradualmente como cultivar melhores safras e fazer remédios melhores, enquanto os sacerdotes e os gurus só aprendem a dar melhores desculpas. Ao longo dos séculos, mesmo os verdadeiros crentes perceberam a diferença, razão pela qual a autoridade religiosa tem diminuído em campos técnicos. É por isso também que o mundo inteiro torna-se cada vez mais uma única civilização. Quando coisas realmente funcionam, todos as adotam.
PROBLEMAS POLÍTICOS: ECONOMIA MUÇULMANA
Enquanto a ciência nos fornece respostas claras a questões técnicas, por exemplo, como curar o sarampo, há entre os cientistas considerável desacordo em questões políticas. Quase todos os cientistas concordam que o aquecimento global é um fato, mas não há consenso no que concerne a qual é a melhor reação econômica a essa ameaça. Isso não significa, no entanto, que as religiões tradicionais podem nos ajudar a resolver a questão. As antigas escrituras simplesmente não são um bom guia para a economia moderna, e as principais clivagens — por exemplo, entre capitalistas e socialistas — não correspondem às divisões tradicionais entre religiões.
É verdade que em países como Israel e Irã rabinos e aiatolás se manifestam diretamente sobre a política econômica, e até mesmo em países mais seculares, como os Estados Unidos e o Brasil, líderes religiosos influenciam a opinião pública em questões que vão desde impostos até regulamentação ambiental. Mas um olhar mais acurado revela que, na maioria desses casos, religiões tradicionais na realidade acompanham e ecoam teorias científicas modernas. Quando o aiatolá Khamenei precisa tomar uma decisão crucial para a economia iraniana, ele simplesmente não é capaz de encontrar a resposta necessária no Corão, porque os árabes do século VII sabiam muito pouco sobre os problemas e as oportunidades das economias industriais modernas e dos mercados financeiros globais. Assim, ele ou seus assessores têm de se voltar para Karl Marx, Milton Friedman, Friedrich Hayek e a moderna ciência da economia para obter respostas. Uma vez tendo decidido elevar taxas de juro, ou reduzir impostos, ou privatizar monopólios do governo, ou assinar um acordo tarifário internacional, Khamenei pode então usar seu conhecimento religioso e sua autoridade para embalar a resposta científica no formato deste ou daquele versículo do Corão, e apresentá-lo às massas como a vontade de Alá. Mas o formato tem pouca importância. Quando se comparam as políticas econômicas do Irã xiita, da Arábia Saudita sunita, do Israel judaico, da Índia hinduísta e da América cristã, não se vê muita diferença.
Durante os séculos XIX e XX, pensadores muçulmanos, judeus, hindus e cristãos investiram contra o materialismo moderno, contra o capitalismo impiedoso e contra a burocracia excessiva do Estado. Prometeram que se apenas lhes dessem uma oportunidade, resolveriam todos os males da modernidade e estabeleceriam um sistema socioeconômico completamente diferente, baseado nos eternos valores espirituais de seu credo. Bem, foram-lhes dadas algumas oportunidades e a única mudança visível que implementaram no edifício das economias modernas foi refazer a pintura e colocar o crescente, a cruz, a estrela de David ou o Om no telhado.
Como no caso dos rituais para fazer chover, quando se trata de economia, é a longamente aprimorada expertise de interpretação de textos dos eruditos religiosos que faz a religião ser irrelevante. Não importa qual seja a política econômica escolhida por Khamenei, ele sempre poderá encaixá-la no Corão. Com isso, o Corão é rebaixado de fonte do verdadeiro conhecimento para fonte de mera autoridade. Quando enfrenta um difícil dilema econômico, você lê Marx e Hayek atentamente, e eles ajudam a compreender melhor o sistema econômico, a ver as coisas de um novo ângulo e a pensar em soluções possíveis. Depois de formular uma resposta, você se volta para o Corão e o lê atentamente em busca de uma sura que, se interpretada criativamente, é capaz de justificar a decisão que você foi buscar em Hayek ou em Marx. Não importa qual solução encontrou lá, se você é um bom estudioso do Corão, sempre será capaz de justificá-la.
O mesmo vale para o cristianismo. Para um cristão é tão fácil ser capitalista como socialista, e mesmo que algumas coisas que Jesus disse soem totalmente a comunismo, durante a Guerra Fria bons capitalistas americanos liam o Sermão da Montanha sem prestar muita atenção nisso. Não existe “economia cristã”, “economia muçulmana” ou “economia hindu”. Não que não haja nenhuma ideia econômica na Bíblia, no Corão ou nos Vedas — elas apenas não estão atualizadas. A leitura que o Mahatma Gandhi fez dos Vedas o permitiu imaginar uma Índia independente como uma coleção de comunidades agrárias autossuficientes, cada uma tecendo suas próprias roupas khadi, exportando pouco e importando ainda menos. A mais famosa fotografia dele o mostra tecendo algodão com as próprias mãos, e ele fez da humilde roca o símbolo do movimento nacionalista indiano (1). Mas essa visão arcadiana era simplesmente incompatível com a realidade da economia moderna, e por isso não restou muito dela, salvo a radiante efígie de Gandhi em bilhões de cédulas de rúpia.
As teorias econômicas modernas são tão mais relevantes do que os dogmas tradicionais que agora é comum interpretar conflitos ostensivamente religiosos em termos econômicos, enquanto a ninguém ocorre fazer o contrário. Por exemplo, há quem alegue que os problemas entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte foram alimentados em grande parte por conflitos de classe. Devido a vários acidentes históricos, na Irlanda do Norte as classes superiores eram na maioria protestantes, e as classes inferiores eram na maioria católicas. Por isso o que parece à primeira vista ter sido um conflito teológico sobre a natureza de Cristo, seria de fato uma típica luta entre os que têm e os que não têm. Em contraste, poucas pessoas diriam que os conflitos entre guerrilhas comunistas e proprietários de terras capitalistas na América do Sul na década de 1970 eram na realidade apenas uma cobertura para uma discórdia muito mais profunda sobre a teologia cristã.
Então que diferença faria a religião no enfrentamento das grandes questões do século XXI? Tome, por exemplo, a questão de se confiar ou não à IA autoridade para tomar decisões quanto à vida das pessoas — escolhendo por você o que estudar, onde trabalhar e com quem casar. Qual é a posição muçulmana quanto a essa questão? Qual é a posição judaica? Neste caso não existe posição “muçulmana” ou “judaica”. O gênero humano provavelmente está dividido em dois campos principais — os que são a favor de dar à IA uma autoridade expressiva, e os que se opõem a isso. Provavelmente podem-se encontrar muçulmanos e judeus em ambos os lados, e para justificar a posição de cada lado eles adotam interpretações criativas do Corão e do Talmude.
É claro que grupos religiosos poderiam endurecer suas posições quanto a questões específicas e transformá-las em dogmas supostamente sagrados e eternos. Na década de 1970, teólogos na América Latina criaram a Teologia da Libertação, fazendo com que Jesus lembrasse um pouco Che Guevara. Da mesma forma, Jesus pode ser facilmente recrutado para debater o aquecimento global e fazer com que posições políticas atuais pareçam princípios religiosos eternos.
Isso já está começando a acontecer. Uma oposição a legislações ambientais está incorporada nos sermões enfurecidos de alguns pastores evangélicos americanos, enquanto o papa Francisco está conduzindo o ataque ao aquecimento global em nome de Cristo (como testemunha sua segunda encíclica, Laudato si) (2). Assim, talvez em 2070, na questão ambiental, fará toda a diferença do mundo você ser evangélico ou católico. Nem é preciso dizer que os evangélicos recusarão qualquer limite nas emissões de carbono, enquanto os católicos acreditarão que Jesus pregou que temos de proteger o meio ambiente.
Vocês verão a diferença até mesmo em seus carros. Os evangélicos vão dirigir enormes veículos utilitários sedentos por gasolina, enquanto católicos devotos andarão por aí em esguios carros elétricos com um adesivo no para-choque onde se lerá “Queimem o planeta — e queimarão no inferno!”. Contudo, embora possam citar várias passagens bíblicas em defesa de suas posições, a verdadeira origem dessa diferença estará em teorias científicas modernas, não na Bíblia. Dessa perspectiva, a religião não tem realmente muito a contribuir para os grandes debates políticos de nosso tempo. Como alegou Karl Marx, ela é só um verniz.
PROBLEMAS IDENTITÁRIOS: AS LINHAS NA AREIA
Marx, porém, exagerou quando rejeitou a religião como mera superestrutura que oculta poderosas forças tecnológicas e econômicas. Mesmo que o islamismo, o hinduísmo ou o cristianismo possam ser decorações coloridas numa estrutura econômica moderna, as pessoas frequentemente se identificam com a decoração, e as identidades das pessoas são uma força histórica crucial. O poder humano depende da cooperação das massas, a cooperação das massas depende da criação de identidades de massa — e todas as identidades de massa são baseadas em narrativas ficcionais, não em fatos científicos ou mesmo necessidades econômicas. No século XXI, a divisão dos humanos em judeus e muçulmanos ou em russos e poloneses ainda depende de mitos religiosos. As tentativas de nazistas e comunistas de determinar cientificamente identidades humanas de raça e de classe demonstraram ser perigosa pseudociência, e desde então os cientistas têm sido relutantes em ajudar a definir quaisquer identidades “naturais” para seres humanos.
Assim, no século XXI as religiões não trazem chuva, não curam doenças, não constroem bombas — mas sim determinam quem somos “nós” e quem são “eles”, quem devemos curar e quem devemos bombardear. Como antes observado, em termos práticos há surpreendentemente poucas diferenças entre o Irã xiita, a Arábia Saudita sunita e o Israel judaico. Todos são Estados-nação burocráticos, todos seguem políticas mais ou menos capitalistas, todos vacinam as crianças contra a poliomielite e todos contam com químicos e físicos para fazer bombas. Não existe burocracia xiita, capitalismo sunita ou física judaica. Então, como fazer com que as pessoas se sintam únicas e sejam leais a uma tribo humana e hostis a outra?
Para desenhar linhas firmes nas areias mutantes da humanidade, as religiões usam ritos, rituais e cerimônias. Xiitas, sunitas e judeus ortodoxos usam roupas diferentes, entoam preces diferentes e observam tabus diferentes. Essas distintas tradições religiosas muitas vezes enchem de beleza a vida diária e estimulam as pessoas a se comportar mais gentil e caritativamente. Cinco vezes por dia, a voz melodiosa do muezim eleva-se acima do ruído dos bazares, escritórios e fábricas, convocando os muçulmanos a uma pausa na agitação das tarefas mundanas para tentar se conectar a uma verdade eterna. Seus vizinhos hindus podem buscar o mesmo objetivo com a ajuda das pujas diárias e a recitação de mantras. Toda semana, na noite de sexta-feira, famílias judaicas sentam-se à mesa para uma refeição especial de alegria, agradecimento e união, Dois dias depois, na manhã de domingo, corais cristãos cantam o evangelho, trazendo esperança à vida de milhões, ajudando a forjar laços comunitários de confiança e afeição.
Outras tradições religiosas enchem o mundo de muita feiura e fazem pessoas serem más e cruéis. Pouco há a dizer, por exemplo, em favor de uma religiosidade inspirada em misoginia ou discriminação de casta. Mas sejam belas ou feias, todas essas tradições religiosas unem certas pessoas enquanto as distinguem de seus vizinhos. Vistas de fora, as tradições religiosas que dividem as pessoas parecem ser insignificantes, e Freud ridicularizou a obsessão que pessoas têm quanto a essas questões, que chamou de “o narcisismo das pequenas diferenças” (3). Mas na história e na política pequenas diferenças podem ter consequências profundas. Assim, se por acaso você for gay ou lésbica, isso é literalmente uma questão de vida ou morte, quer você viva em Israel, no Irã ou na Arábia Saudita. Em Israel, a população LGBT usufrui da proteção da lei, e existem até mesmo rabinos que abençoariam o casamento entre duas mulheres. No Irã, gays e lésbicas são sistematicamente perseguidos e, às vezes, até mesmo executados. Na Arábia Saudita, até 2018 uma lésbica não podia nem mesmo dirigir um carro — só pelo fato de ser mulher, independentemente de ser lésbica.
Talvez o melhor exemplo para o contínuo poder e importância das religiões tradicionais no mundo moderno venha do Japão. Em 1853 uma esquadra americana obrigou o Japão a se abrir para o mundo moderno. Em resposta, o Estado japonês embarcou num processo de modernização rápido e extremamente bem-sucedido. Em poucas décadas tornou-se um poderoso Estado burocrático que se valeu da ciência, do capitalismo e da mais recente tecnologia militar para derrotar a China e a Rússia, ocupar Taiwan e a Coreia, e finalmente afundar uma esquadra americana em Pearl Harbor e destruir os impérios europeus no Extremo Oriente. Mas o Japão não copiou cegamente o modelo europeu. Estava determinado a proteger sua identidade única e assegurar que o japonês moderno fosse leal ao Japão, e não à ciência, ou a alguma nebulosa comunidade global.
Para isso, o Japão preservou a religião nativa do Xintoismo como pedra angular da identidade japonesa. Na verdade, o Estado japonês reinventou o Xintoismo, que tradicionalmente era uma barafunda de crenças animistas em várias divindades, espíritos e fantasmas, e cada aldeia e tempo tinha seus próprios espíritos favoritos e costumes locais. Entre o final do século XIX e o início do século XX, o Estado japonês criou a versão oficial do Xintoismo, desestimulando tradições locais. Esse “Estado Xintoísta” fundiu ideias muito modernas de nacionalidade e raça, que a elite japonesa foi buscar nos imperialistas europeus. Todo elemento do budismo, do confucionismo e do éthos feudal samurai que fosse útil para cimentar a lealdade ao Estado foi adicionado à mistura. Para culminar tudo isso, o Estado Xintoísta consagrou como princípio supremo o culto ao imperador japonês, considerado descendente direto da deusa do Sol Amaterasu, e ele mesmo nada menos que um deus vivente (4)
À primeira vista, essa estranha mistura do antigo e do novo parecia ser uma escolha extremamente inadequada para um Estado que embarcava num curso intensivo de modernização. Um deus vivente? Espíritos animistas? Éthos feudal? Parecia mais um caciquismo neolítico do que uma potência industrial moderna.
Mas funcionou como mágica. Os japoneses se modernizaram num ritmo de tirar o fôlego, enquanto desenvolviam simultaneamente uma lealdade fanática ao seu Estado. O símbolo mais conhecido do sucesso do Estado Xintoísta é o fato de que o Japão foi a primeira potência a desenvolver e utilizar mísseis de precisão guiados. Décadas antes de os Estados Unidos operacionalizarem a bomba inteligente, e numa época em que a Alemanha nazista estava começando a utilizar os foguetes V-2, o Japão afundou dezenas de navios aliados com mísseis de precisão. Conhecemos esses mísseis como “kamikazes”. Enquanto atualmente, nas armas de precisão guiadas, a orientação é provida por computadores, os kamikazes eram aviões comuns carregados de explosivos e guiados por pilotos humanos dispostos a realizar uma missão sem volta. Essa disposição foi produto do espírito de sacrifício e desafio à morte cultivado pelo Estado Xintoísta. Assim, os kamikazes se apoiavam na combinação de uma tecnologia de ponta com uma doutrinação religiosa de ponta (5).
Conscientemente ou não, numerosos governos hoje seguem o exemplo japonês. Adotam os instrumentos e estruturas universais da modernidade enquanto se fundamentam em religiões tradicionais para preservar uma identidade nacional única. O papel do Estado Xintoísta no Japão é desempenhado em menor ou maior grau pelos cristãos ortodoxos na Rússia, pelo catolicismo na Polônia, pelo islamismo xiita no Irã, pelo wahabismo na Arábia Saudita e pelo judaísmo em Israel. Não importa quão arcaica uma religião possa parecer, com um pouco de imaginação e reinterpretação ela quase sempre pode se casar com as mais recentes engenhocas tecnológicas e as mais sofisticadas instituições modernas.
Em alguns casos os Estados podem criar uma religião totalmente nova para fortalecer sua identidade única. O exemplo mais extremo pode ser visto hoje na ex-colônia japonesa da Coreia do Norte. O regime norte-coreano doutrina seus súditos com uma fanática religião de Estado chamada Juche. É uma mistura de marxismo-leninismo, algumas antigas tradições coreanas, a crença racista na pureza única da raça coreana e a deificação da família de Kim Il-sung. Embora ninguém alegue que os Kims são descendentes da deusa do Sol, eles são cultuados com mais fervor do que foram quase todos os deuses na história. Talvez conscientes de como o Império Japonês foi posteriormente derrotado, a Juche norte-coreana também insistiu por muito tempo em acrescentar armas nucleares a essa mistura, justificando sua fabricação como um dever sagrado, digno de sacrifícios supremos (6).
A CRIADA DO NACIONALISMO
Daí que, não importa como a tecnologia vai se desenvolver, é de esperar que discussões sobre identidades e rituais religiosos continuarão a influenciar o uso de novas tecnologias, e terão o poder de incendiar o mundo. Os mísseis nucleares e as bombas cibernéticas mais atualizados poderiam muito bem ser usados para resolver uma discussão doutrinária sobre textos medievais. Religiões, ritos e rituais continuarão a ser importantes enquanto o poder do gênero humano se apoiar em cooperação de massas, e enquanto a cooperação de massas se apoiar na crença em ficções compartilhadas.
Infelizmente, toda essa realidade faz com que as religiões tradicionais sejam parte do problema da humanidade, não parte da solução. Religiões ainda têm muito poder político, na medida em que podem cimentar identidades nacionais e até mesmo desencadear a Terceira Guerra Mundial. Mas, quando se trata de resolver os problemas globais do século XXI, parece que elas não têm muito a oferecer. Embora muitas religiões tradicionais adotem valores universais e reivindiquem validade cósmica, hoje são usadas principalmente como criadas do nacionalismo moderno — seja na Coreia do Norte, na Rússia, no Irã ou em Israel. Assim, elas fazem com que seja ainda mais difícil transcender as diferenças nacionais e encontrar uma solução global para as ameaças de guerra nuclear, colapso ecológico e disrupção tecnológica.
Dessa forma, quando lidam com o aquecimento global ou a proliferação nuclear, clérigos xiitas incentivam os iranianos a ver esses problemas de uma estreita perspectiva iraniana, rabinos judeus inspiram israelenses a cuidar principalmente do que é bom para Israel, e sacerdotes cristãos ortodoxos instam os russos a pensar primeiro e acima de tudo nos interesses da Rússia. Afinal, somos a nação escolhida por Deus, e assim o que é bom para nossa nação agradará a Deus também. Certamente haverá sábios religiosos que rejeitam os excessos nacionalistas e adotam visões muito mais universais. Infelizmente, hoje em dia esses sábios não exercem muito poder político.
Estamos numa encruzilhada. O gênero humano constitui agora uma única civilização, e problemas como guerra nuclear, colapso ecológico e disrupção tecnológica só podem ser resolvidos em nível global. Por outro lado, nacionalismo e religião ainda dividem nossa civilização em campos diferentes e às vezes hostis. Essa colisão entre problemas globais e identidades locais se manifesta na crise que agora assola o maior experimento multicultural no mundo — a União Europeia. Erigida na promessa de valores liberais universais, a União Europeia está cambaleando à beira da desintegração devido às dificuldades de integração e imigração.
Notas do Capítulo II. 8
1. Bernard S. Cohn, Colonialism and its Forms of Knowledge: The British in India (Princeton: Princeton University Press, 1996, p. 148).
2. “Encyclical Letter Laudato Si’ of the Holy Father Francis on Care for Our Common Home” (The Holy See). Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica- laudato-si.html>. Acesso em: 3 dez. 2017.
3. Introduzido pela primeira vez por Freud em seu tratado de 1930, O mal-estar na civilização: Sigmund Freud, Civilization and its discontents, trad. de James Strachey (Nova York: W. W. Norton, 1961, p. 61).
4. Ian Buruma, Inventing Japan, 1853-1964 (Nova York: Modern Library, 2003).
5. Robert Axell, Kamikaze: Japan’s Suicide Gods (Londres: Longman, 2002).
6. Charles K. Armstrong, “Familism, Socialism and Political Religion in North Korea” (Totalitarian Movements and Political Religions, v. 6, n. 3, pp. 383-94, 2005). Daniel Byman e Jennifer Lind, “Pyongyang’s Survival Strategy: Tools of Authoritarian Control in North Korea” (International Security, v. 35, n. 1, pp. 44-74, 2010). Paul French, North Korea: The Paranoid Peninsula, 2. ed. (Londres: Nova York: Zed Books, 2007). Andrei Lankov, The Real North Korea: Life and Politics in the Failed Stalinist Utopia (Oxford: Oxford University Press, 2015). Young Whan Kihl, “Staying Power of the Socialist ‘Hermit Kingdom’”, in Hong Nack Kim e Young Whan Kihl (Orgs.), North Korea: The Politics of Regime Survival (Nova York: Routledge, 2006, pp. 3-36).
9. Imigração
Algumas culturas talvez sejam melhores que outras
Embora a globalização tenha reduzido as diferenças culturais por todo o planeta, ela ao mesmo tempo fez com que ficasse muito mais fácil encontrar estranhos e se aborrecer com suas esquisitices. A diferença entre a Inglaterra anglo-saxônica e a Índia do Império Pala era muito maior que a diferença entre a Grã-Bretanha moderna e a Índia moderna — mas a British Airways não tinha voos diretos entre Delhi e Londres nos dias do rei Alfredo, o Grande.
À medida que cada vez mais humanos cruzam cada vez mais fronteiras em busca de empregos, segurança e um futuro melhor, a necessidade de confrontar, assimilar ou expulsar estrangeiros cria tensão entre sistemas políticos e identidades coletivas formadas em tempos menos fluidos. Em nenhum lugar o problema é mais agudo do que na Europa. A União Europeia foi construída sobre a promessa de transcender as diferenças culturais entre franceses, alemães, espanhóis e gregos. E pode desmoronar devido a sua incapacidade de incluir as diferenças culturais entre europeus e imigrantes da África e do Oriente Médio. Ironicamente, foi, em primeiro lugar, o próprio sucesso da Europa em construir um sistema próspero e multicultural que atraiu tantos imigrantes. Os sírios querem imigrar para a Alemanha, e não para a Arábia Saudita, o Irã, a Rússia ou o Japão não porque a Alemanha fica mais perto ou é mais rica que todos os outros destinos potenciais — e sim porque a Alemanha tem um histórico muito melhor de receber e absorver imigrantes.
A crescente onda de refugiados e imigrantes provoca reações mistas entre os europeus e desencadeia discussões amargas sobre a identidade e o futuro da Europa. Alguns europeus exigem que a Europa feche seus portões: estarão traindo os ideais multiculturais e de tolerância europeus, ou só adotando medidas sensíveis para evitar um desastre? Outros clamam por uma abertura maior dos portões: estarão sendo fiéis ao cerne dos valores europeus ou serão culpados de sobrecarregar o projeto do continente com expectativas inviáveis? Essa discussão sobre imigração quase sempre degenera numa gritaria na qual nenhum dos lados ouve o outro. Para esclarecer a questão, talvez fosse útil considerar a imigração como um trato entre três condições ou termos básicos:
Termo 1: O país anfitrião permite a entrada de imigrantes.
Termo 2: Em troca, os imigrantes têm de adotar as normas e os valores centrais do país anfitrião, mesmo que isso signifique abrir mão de alguns de seus valores e normas tradicionais.
Termo 3: Se os imigrantes se assimilarem num grau considerado suficiente, com o tempo tornam-se membros iguais e integrais do país anfitrião. “Eles” passam a ser “nós”.
Esses três termos suscitam três debates distintos sobre o significado exato de cada termo. Um quarto debate concerne ao cumprimento dos termos. Quando pessoas discutem sobre imigração, muitas vezes confundem os quatro debates, e ninguém compreende o que de fato se está discutindo. Por isso é melhor considerar os três debates separadamente.
Debate 1: A primeira cláusula do trato sobre imigração diz apenas que o país anfitrião permite a entrada de imigrantes. Mas isso deve ser entendido como um dever ou como um favor? O país anfitrião é obrigado a abrir seus portões para todo mundo, ou tem o direito de escolher, e até mesmo de sustar totalmente a imigração? Os pró-imigracionistas parecem pensar que os países têm o dever moral de aceitar não apenas refugiados mas também pessoas de países pobres que buscam empregos e um futuro melhor. Especialmente num mundo globalizado, todos os humanos têm obrigações morais para com outros humanos, e os que se esquivam a essas obrigações são egoístas ou até mesmo racistas.
Além disso, muitos pró-imigracionistas salientam que é impossível parar completamente a imigração e, não importa quantos muros e quantas cercas forem construídos, pessoas desesperadas sempre acharão um meio de atravessá-los. Assim, é melhor legalizar a imigração e lidar com ela abertamente do que criar um vasto submundo de tráfico de pessoas, trabalhadores ilegais e crianças sem documentação.
Os anti-imigracionistas retrucam que com força suficiente pode-se parar completamente a imigração, e que, exceto talvez no caso de refugiados que escapam de uma perseguição brutal num país vizinho, você nunca é obrigado a abrir sua porta. A Turquia pode ter o dever moral de permitir que refugiados sírios desesperados cruzem sua fronteira. Porém se esses refugiados tentarem depois ir para a Suécia, os suecos não têm a obrigação de absorvê-los. Quanto a imigrantes que buscam empregos e assistência, fica totalmente a critério do país anfitrião decidir se os quer ou não, e sob quais condições.
Os anti-imigracionistas ressaltam que um dos direitos mais básicos de todo coletivo humano é se defender contra uma invasão, seja sob a forma de exércitos, seja de imigrantes. Os suecos trabalharam duro e fizeram numerosos sacrifícios para construir uma próspera democracia liberal, e, se os sírios não conseguiram fazer a mesma coisa, não é culpa dos suecos. Se os eleitores suecos não querem que entrem mais imigrantes sírios — seja qual for o motivo — é seu direito recusar a entrada. E se aceitarem alguns imigrantes, deveria estar totalmente claro que é um favor que os suecos estão fazendo, e não uma obrigação que estão cumprindo. O que significa que os imigrantes aos quais se permite que entrem na Suécia deveriam sentir-se extremamente gratos pelo que for que conseguirem, em vez de virem com uma lista de exigências, como se fossem os donos do lugar.
Além disso, dizem os anti-imigracionistas, um país pode ter a política de imigração que quiser, e até filtrar os imigrantes não só em função de seu registro criminal ou seus talentos profissionais, mas até mesmo em função de características como religião. Se um país como Israel só quer permitir que entrem judeus, ou um país como a Polônia concordar em aceitar refugiados do Oriente Médio sob a condição de serem cristãos, isso pode parecer detestável, mas faz parte dos direitos dos eleitores israelenses ou poloneses.
O que complica a questão é que em muitos casos as pessoas querem tudo ao mesmo tempo. Numerosos países fazem vista grossa para a imigração ilegal, ou até aceitam trabalhadores estrangeiros temporários, porque querem se beneficiar de sua energia, seu talento e seu trabalho barato. No entanto, esses países se recusam depois a legalizar o status dessas pessoas, dizendo que não querem imigração. A longo prazo, isso poderá criar sociedades hierárquicas nas quais uma classe superior de cidadãos integrais explora uma subclasse de estrangeiros impotentes, como acontece hoje no Qatar e em vários outros Estados do Golfo.
Enquanto esse debate não é resolvido, é extremamente difícil responder a todas as perguntas subsequentes quanto à imigração. Como os pró-imigracionistas pensam que as pessoas têm o direito de imigrar para outro país se assim quiserem, e os países anfitriões têm o dever de absorvê-los, eles reagem com indignação moral quando o direito de imigrar é violado, e quando países deixam de cumprir seu dever de absorver. Os anti-imigracionistas ficam pasmos com essa visão. Eles consideram a imigração um privilégio, e a absorção, um favor. Por que acusar pessoas de serem racistas ou fascistas só porque recusam a entrada em seu próprio país?
É claro que, mesmo que permitir a entrada de imigrantes seja um favor e não um dever, uma vez estando os imigrantes estabelecidos, o país anfitrião gradualmente assume numerosos deveres para com eles e seus descendentes. Por isso não se pode justificar o antissemitismo nos Estados Unidos hoje em dia alegando que “nós fizemos à sua bisavó um favor deixando-a entrar neste país em 1910, assim agora podemos tratar você como quisermos”.
Debate 2: A segunda cláusula do acordo de imigração diz que, se lhes permitirem entrar, os imigrantes têm a obrigação de se assimilarem à cultura local. Mas até onde deveria ir essa assimilação? Se imigrantes passarem de uma sociedade patriarcal para uma sociedade liberal, eles terão de se tornar feministas? Se vierem de uma sociedade profundamente religiosa, precisarão adotar uma visão de mundo secular? Deverão abandonar seus códigos de vestimenta e tabus alimentares tradicionais? Os anti-imigracionistas tendem a colocar o sarrafo muito alto, enquanto os pró-imigracionistas o colocam muito mais baixo.
Os pró-imigracionistas alegam que a própria Europa é extremamente diversificada, e que suas populações nativas têm um amplo espectro de opiniões, hábitos e valores. É exatamente isso que faz a Europa ser vibrante e forte. Por que deveriam os imigrantes ser obrigados a aderir a alguma imaginária identidade europeia que poucos europeus de fato adotam? Você quer forçar imigrantes muçulmanos no Reino Unido a se tornarem cristãos, quando muitos cidadãos britânicos quase não vão à igreja? Quer exigir que imigrantes do Punjab desistam de seu curry e de sua masala em troca de peixe com fritas e bolinhos de Yorkshire? Se a Europa realmente tem valores fundamentais comuns, são os valores liberais da tolerância e da liberdade, o que implica que os europeus deveriam demonstrar tolerância em relação aos imigrantes também, e conceder-lhes tanta liberdade quanto possível para seguirem suas próprias tradições, contanto que não seja em detrimento da liberdade e dos direitos de outras pessoas.
Os anti-imigracionistas concordam que tolerância e liberdade são os mais importantes valores europeus, e acusam muitos grupos de imigrantes — especialmente de países muçulmanos — de intolerância, misoginia, homofobia e antissemitismo. Exatamente porque a Europa acalenta a tolerância, não pode permitir que entrem muitas pessoas intolerantes. Enquanto uma sociedade tolerante é capaz de lidar com pequenas minorias não liberais, se o número desses extremistas exceder um certo limite, toda a natureza da sociedade se transforma. Se a Europa permitir a entrada de uma quantidade excessiva de imigrantes do Oriente Médio, ela vai acabar se parecendo com o Oriente Médio.
Outros anti-imigracionistas vão muito mais longe. Eles ressaltam que uma comunidade nacional é muito mais do que um conjunto de pessoas que se toleram mutuamente. Daí que não é suficiente a adesão de imigrantes aos padrões europeus de tolerância. Eles também têm de adotar muitas das características singulares da cultura britânica, alemã ou sueca, seja lá quais forem. Ao deixá-los entrar, a cultura local está assumindo um grande risco e um enorme custo. Também não há uma razão para que ela destrua a si mesma. Ela oferece uma posterior igualdade total, por isso exige assimilação total. Se os imigrantes têm algum problema com certas peculiaridades da cultura britânica, alemã ou sueca, estão convidados a irem para outro lugar.
As duas questões-chave deste debate são o desacordo quanto à intolerância do imigrante e o desacordo quanto à identidade europeia. Se os imigrantes são realmente culpados de uma incurável intolerância, muitos europeus liberais que hoje são a favor da imigração cedo ou tarde passarão a se opor a ela amargamente. Ao contrário, se a maioria dos imigrantes provar-se liberal e tolerante em relação a religião, gênero e política, isso irá desarmar um dos mais eficazes argumentos contra a imigração.
Contudo, isso ainda deixará em aberto a questão das identidades nacionais singulares da Europa. A tolerância é um valor universal. Existirão normas e valores unicamente franceses que deveriam ser aceitos por todo aquele que imigrasse para a França, e haverá normas e valores unicamente dinamarqueses que imigrantes na Dinamarca têm de adotar? Enquanto os europeus estiverem divididos quanto a essa questão, dificilmente poderão ter uma política clara de imigração. Mas, uma vez sabendo quem são, 500 milhões de europeus não teriam dificuldade em absorver alguns milhões de refugiados — ou os recusar.
Debate 3: A terceira cláusula do acordo de imigração diz que os imigrantes devem fazer um esforço sincero para se assimilar — e, especialmente, para adotar o valor da tolerância — e que o país anfitrião tem o dever de tratá-los como cidadãos de primeira classe. Porém, quanto tempo exatamente precisa passar até que os imigrantes se tornem membros da sociedade? Deveria a primeira geração de imigrantes da Argélia se sentir melindrada se ainda não fosse considerada totalmente francesa após vinte anos no país? E quanto à terceira geração de imigrantes, cujos avós chegaram à França na década de 1970?
Os pró-imigracionistas exigem uma aceitação rápida, enquanto os anti-imigracionistas querem um período de prova muito mais longo. Para os pró-imigracionistas, se a terceira geração de imigrantes não é considerada nem tratada como cidadãos iguais, isso significa que o país anfitrião não está cumprindo suas obrigações, e se isso resulta em tensões, hostilidade e até mesmo violência — o país anfitrião não tem a quem culpar, a não ser seu próprio sectarismo. Para os anti-imigracionistas, essas expectativas são infladas e constituem grande parte do problema. Os imigrantes deveriam ser pacientes. Se seus avós chegaram aqui há quarenta anos e você agora entra em manifestações nas ruas porque acha que não é tratado como um nativo, então você fracassou no teste.
A raiz desse debate tem a ver com a diferença entre uma escala de tempo pessoal e uma escala de tempo coletiva. Do ponto de vista dos coletivos humanos, quarenta anos é pouco tempo. É difícil esperar que uma sociedade absorva completamente grupos estrangeiros em poucas décadas. Civilizações passadas que assimilaram estrangeiros e os tornaram cidadãos iguais — como o Império Romano, o califado muçulmano, os impérios chineses e os Estados Unidos — levaram séculos, e não décadas, para realizar a transformação.
No entanto, do ponto de vista pessoal, quarenta anos parecem uma eternidade. Para uma adolescente nascida na França vinte anos após seus avós terem imigrado para lá, a jornada de Argel para Marselha é história antiga. Ela nasceu lá, todos os seus amigos nasceram lá, ela fala francês e não árabe, e nunca esteve na Argélia. A França é o único lar que conheceu na vida. E agora dizem a ela que não é seu lar, e que ela deveria “voltar” para um lugar no qual nunca habitou?
É como se você pegasse uma semente de eucalipto da Austrália e a plantasse na França. De um ponto de vista ecológico, os eucaliptos são uma espécie invasora, e levará gerações até que os botânicos os reclassifiquem como plantas nativas da Europa. Mas, do ponto de vista da árvore individual, ela é francesa. Se você não a irrigar com água francesa ela vai murchar. Se tentar arrancá-la, vai descobrir que ela deitou raízes profundas no solo francês, assim como os carvalhos e os pinheiros locais.
Debate 4: No topo de todas essas discordâncias relativas à definição exata do acordo de imigração, a questão definitiva é se esse acordo está efetivamente funcionando. Os dois lados estão cumprindo suas obrigações?
Os anti-imigracionistas tendem a alegar que os imigrantes não estão cumprindo o termo 2. Não estão fazendo um esforço sincero para se assimilar, e muitos deles agarram-se a visões de mundo intolerantes e preconceituosas. Por isso o país anfitrião não tem por que cumprir o termo 3 (tratá-los como cidadãos de primeira classe), e tem todo motivo para reconsiderar o termo 1 (permitir que entrem). Se pessoas de uma determinada cultura mostraram consistentemente que não estão dispostas a cumprir o acordo de imigração, por que permitir que entrem mais e criem um problema ainda maior?
Os pró-imigracionistas respondem que é o país anfitrião que está deixando de cumprir sua parte no acordo. Apesar dos esforços honestos da grande maioria dos imigrantes para se assimilar, os anfitriões estão fazendo com que isso seja difícil para eles e, pior ainda, os imigrantes que conseguiram se assimilar são tratados como cidadãos de segunda classe mesmo na segunda e na terceira gerações. É possível, é claro, que ambas as partes não estejam cumprindo seus compromissos, alimentando reciprocamente suas suspeitas e seus ressentimentos, num círculo vicioso crescente.
Este quarto debate não pode ser resolvido antes de esclarecer qual é a definição exata dos três termos. Enquanto não soubermos se a absorção é um dever ou um favor; qual o nível de assimilação a ser requerido de imigrantes; e quão rapidamente países anfitriões devem começar a tratá-los como cidadãos iguais — não poderemos julgar se os dois lados estão cumprindo suas obrigações. Um problema adicional diz respeito a contabilidade. Ao avaliar o acordo de imigração, os dois lados atribuem muito mais peso a transgressões do que a cumprimento. Se 1 milhão de imigrantes são cidadãos que respeitam a lei, mas cem juntam-se a grupos terroristas e atacam o país anfitrião, isso significa que, no geral, os imigrantes respeitam ou desrespeitam os termos do acordo? Se um imigrante de terceira geração passa pela rua mil vezes sem ser molestado, mas uma vez na vida alguns gritos racistas o ofendem, isso quer dizer que a população nativa está aceitando ou rejeitando imigrantes?
Mas por baixo de todos esses debates espreita uma questão muito mais fundamental, relativa a como entendemos a cultura humana. Será que entramos no debate sobre imigração com a suposição de que todas as culturas são inerentemente iguais, ou achamos que algumas culturas talvez sejam superiores a outras? Quando os alemães discutem a absorção de 1 milhão de refugiados sírios, poder-se-á alguma vez dar razão a eles por pensar que a cultura alemã é de algum modo melhor do que a cultura síria?
DE RACISMO A CULTURISMO
Um século atrás os europeus tinham certeza de que algumas raças — em especial a branca — eram inerentemente superiores às outras. Depois de 1945 essas ideias tornaram-se cada vez mais um anátema. O racismo era não só considerado moralmente deplorável mas também cientificamente desacreditado. Os geneticistas apresentaram evidências científicas muito fortes de que as diferenças biológicas entre europeus, africanos, chineses e nativos da América eram insignificantes.
Ao mesmo tempo, no entanto, antropólogos, sociólogos, historiadores, economistas comportamentais e até mesmo neurocientistas acumularam grande quantidade de dados que indicavam a existência de diferenças significativas entre as culturas humanas. Realmente, se todas as culturas humanas fossem as mesmas, por que sequer precisaríamos de antropólogos e historiadores? No mínimo deveríamos parar de financiar todas essas dispendiosas excursões para trabalho de campo no Pacífico Sul e no deserto de Kalahari e nos contentar com estudar povos em Oxford ou Boston. Se as diferenças culturais são insignificantes, tudo o que descobrirmos sobre estudantes em Harvard deveria valer também para caçadores-coletores do Kalahari.
Refletindo um pouco, muita gente admite a existência de ao menos algumas diferenças significativas entre culturas humanas, em coisas que vão de costumes sexuais a hábitos políticos. Como então deveríamos tratar essas diferenças? Relativistas culturais alegam que diferença não implica hierarquia, e que não devemos preferir uma cultura a outra. Humanos podem pensar e se comportar de várias maneiras, mas deveríamos celebrar essa diversidade e atribuir valor igual a todas as crenças e práticas. Infelizmente, essa abertura de espírito não resiste ao teste da realidade. A diversidade humana pode ser ótima quando se trata de culinária e poesia, mas poucos acham que queimar bruxas na fogueira, infanticídio ou escravidão são fascinantes idiossincrasias humanas que deviam ser protegidas contra a ingerência do capitalismo global.
Ou considere o modo como diferentes culturas se relacionam com estranhos, imigrantes e refugiados. Nem todas as culturas são caracterizadas pelo mesmo nível de aceitação. A cultura alemã no início do século XXI é mais tolerante com estrangeiros e mais receptiva a imigrantes do que a cultura saudita. É muito mais fácil para um muçulmano imigrar para a Alemanha do que para um cristão imigrar para a Arábia Saudita. Na verdade, provavelmente é mais fácil até mesmo para um refugiado muçulmano da Síria imigrar para a Alemanha do que para a Arábia Saudita, e a partir de 2011 a Alemanha recebeu muito mais refugiados sírios do que a Arábia Saudita (1). Da mesma forma, as evidências sugerem que a cultura da Califórnia no início do século XXI é mais amigável com imigrantes do que a cultura do Japão. Daí que, se você acha bom tolerar estranhos e receber bem imigrantes, não deveria também achar, ao menos no que diz respeito a isso, que a cultura alemã é superior à cultura saudita, e que a cultura californiana é melhor que a cultura japonesa?
Além disso, mesmo quando duas normas culturais são em teoria igualmente válidas, no contexto prático da imigração ainda seria justificado julgar a cultura do anfitrião melhor. Normas e valores que são adequados num país talvez não funcionem bem em circunstâncias diferentes. Examinemos atentamente um exemplo concreto. Para não sermos presa de preconceitos bem estabelecidos, imaginemos dois países fictícios: Friócia e Calorlândia. Os dois países apresentam muitas diferenças culturais, entre as quais está sua atitude para com as relações humanas e o conflito interpessoal. Os friocianos são educados desde a infância com a ideia de que se você entra em conflito com alguém na escola, no trabalho ou mesmo em sua família, a melhor coisa é reprimir o conflito. O friociano deve evitar gritar, expressar raiva ou confrontar a outra pessoa — explosões de raiva só pioram as coisas. É melhor elaborar seus sentimentos e deixar as coisas se acalmarem. Enquanto isso, restrinja seu contato com a pessoa em questão, e, se o contato é inevitável, seja conciso, porém polido, e evite tocar em questões delicadas.
Os calorlandeses, em contraste, são educados desde a infância a externar conflitos. Se um deles estiver envolvido em conflito, não deixa que ele fique cozinhando, e não reprime nada. Aproveita a primeira oportunidade para expressar suas emoções abertamente. Tudo bem ficar com raiva, gritar e dizer à outra pessoa exatamente como se sente. Essa é a única forma de elaborar as coisas juntos, de modo honesto e direto. Um dia gritando pode resolver um conflito que, de outra maneira, poderia durar anos, e, embora um embate direto nunca seja agradável, todos se sentirão muito melhor depois.
Ambos os métodos têm seus prós e contras, e é difícil dizer que um seja sempre melhor do que o outro. O que poderia acontecer, no entanto, se um calorlandês imigrasse para a Friócia e conseguisse um emprego numa empresa friociana?
Sempre que surge um conflito com um colega, o calorlandês dá um soco na mesa e grita, esperando que isso foque a atenção no problema e ajude a resolvê-lo rapidamente. Vários anos depois um cargo sênior fica vago. Embora o calorlandês tenha todas as qualificações necessárias, o chefe prefere promover um funcionário friociano. Quando questionado sobre isso, ele explica: “Sim, o calorlandês tem muitos talentos, mas ele tem também um problema sério de relacionamento. Ele é irascível, cria tensões desnecessárias a sua volta e perturba nossa cultura corporativa”. Essa mesma sina recai sobre outros imigrantes calorlandeses na Friócia. A maioria deles permanece em cargos subalternos, ou não conseguem emprego em geral, porque os gerentes pressupõem que, como são calorlandeses, provavelmente serão funcionários irascíveis e problemáticos. Como os calorlandeses nunca chegam a posições seniores, é difícil para eles modificar a cultura friociana.
Algo muito parecido sucede com friocianos que imigram para Calorlândia. Um friociano que começa a trabalhar numa empresa calorlandesa logo adquire a reputação de ser esnobe ou frio, e faz poucos amigos, se é que faz algum. As pessoas pensam que ele não é sincero, ou que lhe faltam habilidades básicas de relacionamento. Ele nunca progride para cargos seniores, e portanto nunca tem a oportunidade de mudar a cultura corporativa. Os gerentes calorlandianos concluem que a maioria dos friocianos é inamistosa ou tímida, e preferem não contratá-los para cargos que exigem contato com clientes ou estreita cooperação com outros funcionários.
Ambos os casos parecem cheirar a racismo. Porém na verdade não são racistas. São “culturistas”. As pessoas continuam a travar uma luta heroica contra o racismo tradicional sem perceber que a frente de batalha mudou. O racismo tradicional está desaparecendo, mas o mundo está agora cheio de “culturistas”.
O racismo tradicional está fundamentado em teorias biológicas. Na década de 1890, ou na de 1930, havia a crença generalizada em países como Inglaterra, Austrália e Estados Unidos de que alguns traços biológicos hereditários faziam com que africanos e chineses fossem inatamente menos inteligentes, menos empreendedores e menos morais que os europeus. O problema estava em seu sangue. Essas ideias gozavam de respeitabilidade política assim como de um amplo respaldo científico. Hoje, em contraste, ainda que muitos indivíduos façam afirmações racistas desse tipo, elas perderam todo o seu respaldo científico e a maior parte de sua respeitabilidade política — a menos que as reelabore em termos culturais. Dizer que pessoas negras têm tendência a cometer crimes porque têm genes inferiores está fora de questão; dizer que elas têm tendência a cometer crimes porque provêm de subculturas disfuncionais, não.
Nos Estados Unidos, por exemplo, alguns grupos e líderes apoiam abertamente políticas discriminatórias e fazem afirmações depreciativas sobre afro-americanos, latinos e muçulmanos — mas quase nunca, ou nunca, dirão que tem algo errado com seu DNA. O problema supostamente está em sua cultura. Assim, quando o presidente Trump descreveu Haiti, El Salvador e algumas partes da África como “países de merda”, pelo jeito estava oferecendo ao público uma reflexão sobre a cultura desses lugares, e não sobre sua constituição genética (2). Em outra ocasião, Trump, referindo-se aos imigrantes mexicanos nos Estados Unidos, disse que “quando o México envia pessoas, não envia as melhores. Envia pessoas que têm muitos problemas, e que trazem esses problemas. Trazem drogas, trazem crime. São estupradores, e alguns, suponho, são boa gente”. Essa é uma declaração muito ofensiva, mas socialmente ofensiva, e não biologicamente ofensiva. O que Trump disse não implica que o sangue mexicano é um impedimento à bondade — apenas que os bons mexicanos tendem a ficar ao sul do rio Grande (3).
O corpo humano — o corpo latino, o corpo africano, o corpo chinês — ainda está no centro desse debate. A cor da pele importa muito. Caminhar por uma rua de Nova York com montes de melanina na pele significa que, para onde quer que esteja indo, a polícia pode olhar para você com muita suspeita. Mas pessoas como o presidente Trump ou como o presidente Obama explicarão o significado da cor da pele em termos culturais e históricos. A polícia olha para a cor de sua pele com suspeita não por qualquer razão biológica, mas devido à história. É de se presumir que pessoas como Obama explicarão que o preconceito dos policiais é um infeliz legado de crimes históricos, como a escravidão, enquanto pessoas como Trump explicarão que a criminalidade entre os negros é um infeliz legado dos erros históricos cometidos por liberais brancos e comunidades negras. Seja qual for o caso, se você for na verdade um turista de Delhi que não sabe nada da história americana, terá de lidar com suas consequências.
A mudança da biologia para a cultura não é somente uma mudança insignificante de jargão. É uma mudança profunda com consequências práticas de longo alcance, algumas boas, outras ruins. Para começar, a cultura é mais maleável que a biologia. Isso significa, por um lado, que os culturistas de hoje podem ser mais tolerantes do que os racistas tradicionais — basta os “outros” adotarem nossa cultura e os aceitaremos como nossos iguais. Por outro lado, isso pode resultar em muito mais pressão sobre os “outros” para que se assimilem, e críticas muito mais duras se não fizerem isso.
Não se pode culpar pessoas de pele escura por não embranquecer sua pele, mas pode-se acusar — e se acusa — africanos ou muçulmanos de não adotarem normas e valores da cultura ocidental. O que não quer dizer que essas acusações sejam necessariamente justificadas. Em muitos casos, não há motivos para se adotar a cultura dominante, e em muitos outros, essa é uma missão totalmente impossível. Afro-americanos de uma favela pobre que tentem se adequar à cultura hegemônica americana podem primeiro ter o caminho bloqueado por uma discriminação institucional — e depois serem acusados de não terem feito esforço suficiente, e assim não terem ninguém a quem culpar, a não ser a si mesmos, por seus problemas.
Uma segunda diferença fundamental entre falar sobre biologia e falar sobre cultura é que, não como no tradicional sectarismo racista, os argumentos culturistas podem ocasionalmente fazer algum sentido, como no caso da Calorlândia e da Friócia. Os calorlandeses e os friocianos de fato têm culturas diferentes, caracterizadas por estilos diferentes de se relacionar. Como as relações humanas são cruciais em muitos empregos, não seria antiético uma empresa calorlandesa penalizar friocianos por se comportarem segundo sua herança cultural?
Antropólogos, sociólogos e historiadores ficam extremamente incomodados com esse raciocínio. Por um lado, ele soa perigosamente como racismo. Por outro, o culturismo tem uma base científica muito mais firme do que o racismo, e os estudiosos, particularmente nas ciências humanas e sociais, não podem negar a existência e a importância de diferenças culturais. É claro que, mesmo que aceitemos a validade de algumas alegações culturistas, não temos de aceitar todas elas. Muitas padecem de três falhas comuns. Primeiro, os culturistas frequentemente confundem superioridade local com superioridade objetiva. Assim, no contexto local dos calorlandeses o método calorlandês de resolver conflitos pode ser bem superior ao método friociano, e nesse caso uma empresa calorlandesa que opera em Calorlândia tem bons motivos para discriminar funcionários introvertidos (o que vai penalizar, desproporcionalmente, imigrantes friocianos). No entanto, isso não quer dizer que o método calorlandês seja superior. Os calorlandeses talvez devessem aprender uma ou outra coisa com os friocianos, e se as circunstâncias forem outras — por exemplo, a empresa calorlandesa torna-se global e abre filiais em muitos países diferentes — a diversidade de repente se tornaria um ativo.
Segundo, quando se define um critério, um tempo e um lugar, as alegações culturistas podem ser empiricamente fundamentadas. Mas as pessoas quase sempre adotam alegações culturistas muito genericamente, o que faz muito pouco sentido. Assim, dizer que “a cultura friociana é menos tolerante com uma explosão pública de raiva do que a cultura calorlandesa” é uma alegação razoável, porém é muito menos razoável dizer que “a cultura muçulmana é muito intolerante”. Esta última alegação é vaga demais. O que se está querendo dizer com “intolerante”? Intolerante com quem ou com o quê? Uma cultura pode ser intolerante com minorias religiosas ou ideias políticas incomuns ao mesmo tempo que é muito tolerante com pessoas obesas ou com idosos. E o que queremos dizer com “cultura muçulmana”? Estamos nos referindo à península arábica no século VII? Ao Império Otomano no século XVI? Ao Paquistão no início do século XXI?
Finalmente, qual é o termo de comparação? Se o que nos importa é a tolerância com minorias religiosas e compararmos o Império Otomano no século XVI com a Europa ocidental no século XVI, concluiremos que a cultura muçulmana é extremamente tolerante. Se compararmos o Afeganistão sob o Talibã com a Dinamarca contemporânea, chegaríamos a uma conclusão muito diferente.
Mas o problema principal com as alegações culturistas é que, apesar de sua natureza estatística, todas são usadas frequentemente para prejulgar indivíduos. Quando um nativo de Calorlândia e um imigrante friociano se candidatam ao mesmo cargo numa empresa calorlandesa, o gerente pode preferir contratar o calorlandês porque “os friocianos são frios e insociáveis”. Mesmo que estatisticamente isso seja verdade, talvez aquele friociano específico seja na verdade muito mais caloroso e extrovertido do que aquele calorlandês específico. Mesmo sendo a cultura importante, as pessoas são modeladas por seus genes e por sua história pessoal única. Indivíduos desafiam estereótipos estatísticos. Faz sentido uma empresa preferir funcionários sociáveis a empedernidos, mas não faz sentido preferir calorlandeses a friocianos.
Contudo, tudo isso modifica determinadas alegações culturistas sem desacreditar o culturismo como um todo. Diferentemente do racismo, que é um preconceito não científico, os argumentos do culturismo podem às vezes ser bem sólidos. Se olharmos as estatísticas e descobrirmos que as empresas calorlandesas têm poucos friocianos em posições seniores, isso pode ser resultado não de uma discriminação racista, mas de um julgamento correto.
Deveriam os migrantes friocianos ficarem ressentidos com essa situação e alegar que a Calorlândia está renegando o acordo de imigração? Deveríamos obrigar as empresas calorlandesas a contratar mais gerentes friocianos mediante leis de “ação afirmativa”, na esperança de arrefecer a temperatura nos negócios da Calorlândia? Ou quem sabe a falha é dos imigrantes friocianos que não se assimilam à cultura local, e deveríamos, portanto, fazer mais e maiores esforços para inculcar nas crianças friocianos as normas e valores calorlandeses?
Retornando do reino da ficção para o dos fatos, vemos que o debate europeu sobre imigração está longe de ser uma batalha bem definida entre o bem e o mal. Seria errado taxar todos os anti-imigracionistas de “fascistas”, assim como seria errado descrever todo pró-imigracionista como alguém comprometido com “suicídio cultural”. Portanto, o debate sobre imigração não deveria ser conduzido como uma luta intransigente por algum imperativo moral não negociável. Ele é uma discussão entre duas posições políticas legítimas, que deveria ser decidida mediante procedimentos democráticos padrão.
Atualmente, não está claro se a Europa é capaz de achar um caminho intermediário que lhe permita manter suas portas abertas a estrangeiros sem ser desestabilizada por pessoas que não compartilham seus valores. Se a Europa conseguir achar esse caminho, talvez sua fórmula possa ser copiada em nível global. No entanto, se o projeto europeu falhar, isso seria indicação de que a crença nos valores liberais de liberdade e tolerância não é suficiente para resolver os conflitos culturais do mundo e unir o gênero humano diante da possibilidade de uma guerra nuclear, de um colapso ecológico e da disrupção tecnológica. Se gregos e alemães não conseguirem se entender quanto a um destino comum, e se 500 milhões de europeus afluentes não forem capazes de absorver uns poucos milhões de refugiados empobrecidos, que possibilidades terão os humanos de superar os conflitos muito mais profundos que assolam nossa civilização?
Uma coisa que poderia ajudar a Europa e o mundo como um todo a se integrar melhor e manter fronteiras e mentes abertas seria relativizar a histeria quanto ao terrorismo. Seria uma pena se o experimento europeu de liberdade e tolerância se desmantelasse devido ao medo exagerado do terrorismo. Isso não só realizaria os objetivos dos próprios terroristas como também daria a esse punhado de fanáticos uma voz forte demais na determinação do futuro do gênero humano. O terrorismo é a arma de um segmento marginal e fraco da humanidade. Como ele veio a dominar a política global?
Notas do Capítulo II. 9
1. “Global Trends: Forced Displacement in 2016” (UNHCR, 2016). Disponível em:
<http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2018.
2. Lauren Gambini, “Trump Pans Immigration Proposal as Bringing People from ‘Shithole Countries’” (The Guardian, 12 jan. 2018). Disponível em: <https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/11/trump-pans- immigration-proposal-as-bringing-people-from-shithole-countries>. Acesso em: 11 fev. 2018.
3. Tal Kopan, “What Donald Trump Has Said about Mexico and Vice Versa” (CNN, 31 ago. 2016). Disponível em:
<https://edition.cnn.com/2016/08/31/politics/donald-trump-mexico-statements/index.html>. Acesso em: 28 fev. 2018.