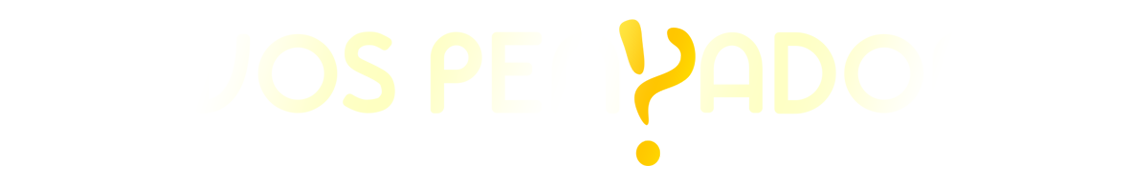Sionismo versus judaísmo: a conquista do espaço “étnico”
Estamos lendo o livro de Shlomo Sand (2012), intitulado A Invenção da Terra de Israel: Da Terra Santa à Terra Pátria. São Paulo: Benvirá (Saraiva Educação), 2014.
Este é o quarto artigo da série. Reproduzimos abaixo o terceiro capítulo de A Invenção da Terra de Israel, que trata da questão do sionismo.
Por que estamos estudando esse assunto?
Bem… em primeiro lugar porque, na exploração de padrões autocráticos, o nacionalismo é um elemento importante. Como nasceu a ideia de nação, como nasceu a ideia de pátria identificada geograficamente com uma porção de terra à qual se tem um suposto “direito histórico” (e até eterno). E isso pode ser claramente observado no surgimento da ideologia sionista.
Em segundo lugar, porque o florescimento do populismo revelou uma adesão a um “Israel imaginário” (por razões teológico-políticas). Mas não tão imaginário assim no seguinte sentido: o judaísmo tem raízes babilônicas que reproduzem idéias míticas, sacerdotais, hierárquicas e autocráticas da civilização patriarcal quase em estado puro, depois codificadas como um sistema explicativo cósmico na ideologia de professores que foi chamada de kabbalah. E foi no ambiente da kabbalah nascente do século 12, ao que tudo indica com Halevi, que foi lançada a ideia-implante da peregrinação para a Terra de Israel como um caminho místico (esotérico) e de realização material (a mudança do mundo produzido). Houve um reconhecimento de padrões por sintonia da parte dos que hoje se organizam para retrogradar a um tempo (e a um espaço) original, onde tudo estaria em ordem.
Há outras razões, mas as duas acima são as principais.
Sionismo versus judaísmo: a conquista do espaço “étnico”
É uma lei eterna: se uma linha divisória atravessa ou é colocada para atravessar um Estado-nação e sua terra pátria, essa linha artificial está destinada a desaparecer.
MENACHEM BEGIN, 1948.
O significado dessa vitória [1967] não é apenas ter restituído ao povo judeu suas entidades sagradas mais antigas e mais elevadas – aquelas que estão gravadas acima de todas as outras em sua memória e nas profundezas de sua história. O significado dessa vitória é ter apagado a diferença entre o Estado de Israel e a Terra de Israel.
NATHAN ALTERMAN, “FACING THE UNPRECEDENTED REALITY”, 1967.
Os protestantes britânicos leram a Bíblia diretamente buscando interação com o espírito divino sem mediadores. Os judeus do Talmude, em contraste, temiam a livre leitura do Livro dos Livros, que acreditavam ter sido ditado por Deus. Pensadores cristãos milenaristas não tinham escrúpulos quanto à imigração judaica e ao assentamento na Terra Santa. No que lhes dizia respeito, o reagrupamento dos judeus era uma precondição crítica da salvação. Mas não era assim para os rabinos judeus, nem durante o período medieval, nem na transição para a modernidade, tampouco na era moderna em si. Para eles, o reagrupamento dos judeus, tanto vivos quanto mortos, viria apenas com a redenção. Sob muitos aspectos, portanto, a distância entre o evangelismo e o sionismo era menor que a profunda lacuna metafísica e psicológica entre o nacionalismo judaico e o judaísmo histórico (228).
Em 1648, um ano antes de a mãe e o filho batistas Johanna e Ebenezer Cartwright conclamarem o governo revolucionário de Londres a colocar os judeus em navios e os enviar para a Terra Santa, Sabbatai Zevi, um estudante de Esmirna, decidiu que era o Messias judeu. Não estivessem os judeus da Europa oriental passando por um trauma inquietante exatamente na mesma época, esse jovem judeu poderia ter acabado como apenas mais um dos muitos lunáticos consumidos por sonhos messiânicos. Mas os brutais massacres perpetrados pelo cossaco cristão ortodoxo Bohdan Khmelnitski durante sua rebelião contra a nobreza católica polonesa instilou terror em muitas comunidades, que depressa devotaram-se às mensagens de redenção iminente. Para entender melhor o contexto histórico, devemos lembrar que 1648 também havia sido computado como ano da redenção por cálculos cabalistas.
O sabatianismo alastrou-se como fogo descontrolado pelas comunidades judaicas em muitos países e recrutou grande número de seguidores. O movimento parou de vicejar apenas depois da conversão de Sabbatai Zevi ao islamismo em 1666. A onda de messianismo propagou marolas pelo credo judaico nos anos seguintes. Grupos sabatianos continuaram ativos até o século XVIII; em uma reação direta, as instituições comunitárias judaicas ficaram mais cautelosas e conceberam mecanismos para se proteger da erupção de anseios incontroláveis por salvação iminente.
O sabatianismo não foi um movimento protossionista e com certeza não era nacionalista, ainda que certos historiadores sionistas tenham tentado retratá-lo como tal. Mais do que arrancar os judeus de seus locais de origem a fim de reuni-los na terra da Gazela (Eretz ha-Tzvi), Sabbatai Zevi buscou estabelecer o domínio espiritual sobre o mundo (229). Mas muitos rabinos acreditavam que o sabatianismo poderia levar os judeus a olhar para Jerusalém, a pecar por meio de uma tentativa prematura de apressar a redenção, e minar a frágil estabilidade da existência judaica pelo mundo.
A modernização socioeconômica que começou no final do século XVIII, rompendo formas de vida comunitária nos séculos seguintes, também contribuiu para o endurecimento de conceitos de fé em centros de poder rabínicos. Mais que nunca, os rabinos tomaram cuidado para evitar ser levados de roldão pelos perigos da escatologia que prometia salvação iminente. A despeito de sua grande espontaneidade, sua devoção à cabala luriânica e sua aversão à redenção individual, o movimento hassídico do século XVIII buscou em grande parte tratar com cautela as tentações dos arautos da salvação coletiva e os que apressavam a redenção (230).
A reação do judaísmo à invenção da pátria
Morador de Praga antes do surgimento do sabatianismo, o rabino Isaiah Halevi Horowitz, conhecido como o santo Sheloh, é considerado um dos grandes rabinos judaicos do século XVII. Em 1621, após a morte da esposa e em vista da chegada do ano da redenção (o ano judaico de 5408, que coincidiu com 1647-8), o rabino mudou-se para Jerusalém. Depois de viver na cidade santa por um tempo, transferiu-se para Safed e por fim radicou-se em Tiberíades, onde foi sepultado com grande cerimônia em 1628. Muitos historiadores sionistas consideram-no uma “primeira andorinha” que, no início da era moderna, decidiu fazer a aliyah, isto é, “ascencer” ou emigrar para a Terra de Israel. Entretanto, o fato de ele emigrar para a Terra Santa enquanto milhares de outros rabinos recusavam-se a fazer isso ensina-nos mais sobre as grandes diferenças e distanciamento epistemológico entre o judaísmo tradicional e a ideia sionista emergente. Não se pode duvidar de seu sentimento de conexão com a Terra e do grande amor por ela. Horowitz não só se mudou para um lugar novo e desconhecido, como também apelou a outros para juntarem-se a ele, sem pensar em uma emigração coletiva de todos os judeus.
Parece que foi em Safed que ele completou a redação de sua influente obra As duas tábuas do pacto, que adota uma posição clara contra a opção de se assentar na Terra Santa a fim de viver uma vida judaica normal. A Terra não se destinava de jeito nenhum a servir de refúgio de um perigo físico. Observar os mandamentos nela seria mais difícil do que em qualquer outra parte do mundo, e alguém que desejasse instalar-se lá tinha que estar psicologicamente preparado para fazê-lo. Um judeu que fosse para a “terra canaanita” não o fazia a fim de se instalar pacatamente, para partilhar de seus frutos e gozar de seus prazeres. Baseado em versos bíblicos, o Sheloh concluiu de modo inequívoco que uma pessoa radicada na Terra Santa estava fadada a lá viver como um estrangeiro por todos os dias de sua vida. Além disso, afirmou ele, a Terra não pertencia aos filhos de Israel, e a simples existência destes era precária.
A imagem de Horowitz sobre se tornar um colono na Terra Santa era uma descrição exata da existência exilada dos judeus no resto do mundo. Ele via a mudança para a Terra não como um primeiro sinal de redenção, mas o completo oposto: o fardo na Terra era maior e mais pesado, e, portanto, carregá-lo, diante do medo e da ansiedade, era uma verdadeira prova de fé. Conforme ele escreveu: “A pessoa que reside na Terra de Israel deve se lembrar sempre do nome Canaã, indicando escravidão e submissão […] Vocês hão de viver para ser peregrinos em sua terra, nas palavras de Davi: ‘Sou um peregrino na terra’ (Salmos 119:19)” (231).
Um século depois, o rabino Jonathan Eybeschutz, outro notável comentarista de textos de Praga, expressou oposição semelhante à tentação de se mudar para a Terra Santa. Embora acusado de sabatianismo pelos rivais, ele, na verdade, era um adepto estrito dos princípios legais judaicos a respeito da redenção, extremamente preocupado com os esforços humanos para apressá-la. Ele argumentou em termos inequívocos que os judeus não queriam deixar “seu exílio” e, de qualquer modo, fazer isso não dependia deles. “Pois como posso retornar, quando isso poderia gerar pecado em mim?”, perguntou ele em um famoso sermão na cidade de Metz, incluído em sua obra Ahavat Yonatan (232). A Terra designava-se a receber apenas judeus isentos de compulsões, que não estivessem sujeitos a cometer uma transgressão ou violar qualquer mandamento. Como tais judeus não podiam ser encontrados em lugar algum, viver na Terra Santa não apenas era inútil, como também representava um grande perigo para a chegada da redenção.
Talvez mais interessante seja o fato de que o grande rival de Eybeschutz, o erudito rabino Jacob Emden, que acusou Eybeschutz de sabatianismo, concordava com ele em tudo a respeito da Terra de Israel. Sua firme crítica a todas as expressões tácitas ou explícitas de messianismo também incluíam ferrenha oposição a toda tentativa de apressar a redenção. Se alguma pessoa fez das três adjurações do Talmude os princípios norteadores de sua doutrina, sem dúvida foi o rabino Emden. Ele atacou maldosamente como uma tolice a tentativa fracassada do grupo messiânico do rabino Judah Hahasid, que emigrou para Jerusalém em 1700 e é retratado pela historiografia sionista como o início da emigração nacionalista judaica para a Terra de Israel (233).
O medo teológico de profanar a Terra Santa devido ao peso maior envolvido no cumprimento dos mandamentos estava profundamente arraigado no pensamento legal religioso judaico até o começo do século XX. Alguns o expressaram abertamente, enquanto outros ignoraram a questão ou preferiram não discuti-la. Outros ainda continuaram a glorificar e exaltar as virtudes imaginadas da Terra sem jamais cogitar instalar-se por lá. As instituições religiosas tradicionais não produziram nem um movimento, nem uma corrente com a intenção de ir para Jerusalém de modo a “construir e ser reconstruído” lá.
Entretanto, antes de considerarmos as correntes de reação rabínica à ascensão do novo desafio nacionalista, devemos considerar primeiro uma das vozes iniciais do iluminismo a surgir entre os judeus europeus do século XVIII: Moses Mendelssohn. Mendelssohn, que conheceu Eybeschutz e Emden pessoalmente, estudou em um yeshivah e era bem versado em literatura rabínica. Entretanto, ao contrário dos dois grandes estudiosos tradicionais, começou a divergir das estruturas legais judaicas e a desenvolver um sistema de pensamento independente. Por esse motivo, Mendelssohn é considerado o primeiro filósofo judeu da era moderna.
Em grande parte, foi também um dos primeiros alemães. Quando a maioria dos súditos de reis e príncipes ainda não conhecia a língua literária alemã, Mendelssohn, como outros grandes intelectuais, já havia começado a escrever nela com notável virtuosismo. Isso não quer dizer que tenha deixado de ser judeu. Era um fiel observador dos mandamentos; expressou uma profunda conexão com a Terra Santa e se opôs à integração dos judeus na cultura cristã, mesmo dentro da estrutura de uma coexistência religiosa igualitária. Ao mesmo tempo, porém, trabalhou para melhorar a condição socioeconômica dos judeus e facilitar sua saída cultural dos guetos, que, embora proporcionassem a seus moradores um sentimento de proteção contra a investida da modernização, haviam sido impostos a eles. Desse modo, ele traduziu a Bíblia para o alemão literário (em caracteres hebraicos) e acrescentou seus próprios comentários filosóficos. Sua luta por direitos iguais para os judeus também levou-o a engajar-se em uma das últimas discussões intelectuais de sua vida.
Em 1781, dez anos antes da morte de Mendelssohn, o teólogo cristão Johann David Michaelis lançou um ataque à implantação dos direitos iguais para os judeus. Foi o primeiro de muitos amargos debates sobre o assunto, que continuariam ao longo da primeira metade do século XIX. Já podemos detectar um tom judeofóbico protonacionalista na abordagem de Michaelis. Uma de suas maiores alegações contra os judeus era a de que já possuíam outra pátria no Oriente. De fato, aqueles que odiavam os judeus dentro dos territórios alemães foram os primeiros a inventar um longínquo território nacional judaico, muito antes do nascimento do sionismo. Mendelssohn respondeu na mesma hora, apresentando sua posição intrepidamente. Sua visão baseava-se no princípio dos judeus mais devotos do século XIX e o repercutia. “O esperado retorno para a Palestina, que tanto perturba Herr M.[ichaelis]”, escreveu ele,
não influi em nossa conduta como cidadãos. Isso é confirmado pela experiência onde quer que os judeus sejam tolerados. Em parte, a natureza humana é responsável por isso – apenas aquele que é dominado pelo delírio não amaria o solo onde ele viceja. E aquele que nutre opiniões religiosas contraditórias as reserva para a igreja e as orações. Em parte também a precaução de nossos sábios é responsável por isso – o Talmude proíbe-nos até de pensar em um retorno [à Palestina] pela força [isto é, tentar efetuar a Redenção por meio do esforço humano]. Sem os milagres e sinais mencionados na Escritura, não devemos dar o mínimo passo na direção de forçar um retorno e a restauração de nossa nação. O Cântico dos Cânticos expressa essa proibição em um verso um tanto místico e todavia cativante (Cântico dos Cânticos 2:7 e 3:5): “Conjuro vocês, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e pelas corças dos campos, que não incitem, nem despertem meu amor, até que ele queira” (234).
Nessa passagem, às vésperas do nascimento dos territórios nacionais na Europa, Mendelssohn sentiu a necessidade de esclarecer por que a Terra Santa não era sua pátria. Ele embasou-se em dois argumentos principais: um que poderia ter sido tirado direto do judaísmo helenístico, sustentando que os judeus eram seres humanos normais e, portanto, amavam a terra em que viviam; e outro que recorria explicitamente ao Talmude, citando a desculpa teológica das três adjurações e que dali em diante seria articulado pela haskalá judaica, que se considerava parte do surgimento da nação alemã. Dessa perspectiva, podemos entender Mendelssohn como uma espécie de marco, preenchendo a lacuna entre Filo de Alexandria, o primeiro filósofo judaico helenístico, e Franz Rosenzweig, possivelmente o último grande filósofo judaico alemão, que também rejeitou categoricamente toda tentativa de ligar o judaísmo à terra (235). Ao mesmo tempo, Mendelssohn pode ser visto como o arauto do grande movimento da Reforma judaica, que também se opôs às ideias protossionistas e sionistas.
Mendelssohn acreditava que a ideia de um Estado judaico na Terra Santa era negativa e destrutiva, e nisso ele não diferia do rabinato tradicional. A ascensão do nacionalismo na Europa durante o século XIX não mudaria esse ponto fundamental de fé de nenhuma forma significativa. Exceto por uns poucos rabinos atípicos, como Zvi Hirsch Kalischer e Judah Alkalai, que tentaram combinar messianismo religioso com realismo territorial nacional, o que lhes rendeu o louvor da historiografia sionista, as principais instituições judaicas não demonstraram abertura a expressões iniciais de protossionismo. Pelo contrário, reagiram com uma barreira de hostilidade à simples ideia de se transformar a Terra Santa em uma pátria nacional.
Devemos lembrar que, inicialmente, os esforços do judaísmo tradicional, histórico, de lidar com as mudanças do período não foram voltadas para o sionismo, ou seja, o projeto de assimilação coletiva na modernidade. Os esforços iniciais do século XIX tinham como alvo, isso sim, a integração semicoletiva (judaísmo reformista) e individual, basicamente a assimilação secular. Por meio desses dois processos, os judeus buscavam juntar-se às culturas nacionais ainda em desenvolvimento dos países que habitavam. O progresso legislativo referente a direitos iguais para os judeus nos países da Europa ocidental, e subsequentemente da Europa central, acelerou a desintegração das superestruturas das comunidades judias tradicionais. A penetração das ideias iluministas fundadas sobre a dúvida na Europa oriental e o domínio dessas ideias entre as camadas educadas e as gerações mais jovens começaram a despedaçar as instituições comunitárias judaicas, que buscaram reagir ao desafio de todas as formas possíveis.
O judaísmo reformista começou a florescer em todos os lugares onde o liberalismo político estava bem estabelecido, e às vezes até ajudou em seu surgimento. Nos Países Baixos, Grã-Bretanha, França e em especial na Alemanha, comunidades religiosas recém-estabelecidas tentaram adaptar as práticas e táticas judaicas ao espírito iluminista disseminado pela Revolução Francesa. Tudo na tradição que era percebido como contrário à razão era modificado e dotado de nova substância e nova expressão. As sinagogas e as observações de oração foram alteradas, e novas casas de adoração desenvolveram revigorantes rituais originais.
Além dos esforços para modernizar as atividades comunitárias, o que mais caracterizou a iniciativa da Reforma foi a tentativa de adaptá-la à consolidação das nações e das culturas nacionais então em andamento. Os judeus reformistas, em busca de espaço no processo, viam-se antes de mais nada como componentes imanentes das novas identidades coletivas. As preces judaicas foram traduzidas para as línguas nacionais padronizadas, cada vez mais dominantes. Além disso, o judaísmo reformista removeu da liturgia todas as referências à redenção que sugeriam um retorno ao Sião no fim dos tempos. De acordo com o éthos da Reforma, cada judeu tinha apenas uma pátria: o país onde vivia. Os judeus, antes de qualquer coisa, eram alemães, holandeses, britânicos, franceses e americanos que seguiam o credo de Moisés.
Os judeus reformistas exprimiram forte oposição às ideias protossionistas surgidas na segunda metade do século XIX, temendo que a insistência em realçar a diferença cultural em vez de religiosa intensificasse a judeofobia e atrapalhasse a causa da igualdade civil. Contudo, essa oposição não impediu a ascensão do antissemitismo moderno na Europa central e oriental. O nacionalismo, em geral, necessitava dos judeus, somados a outras minorias, a fim de delinear as fronteiras ainda não muito claras e precisas de suas nações. No fim, protossionismo e sionismo emergiram como reações imediatas e diretas ao nacionalismo etnocêntrico, que começou a excluir os judeus por motivos religiosos e mitologicamente históricos, e, dentro de pouco tempo, também por motivos biológicos. Mas o desenvolvimento do sionismo político causou preocupação ainda maior para os judeus reformistas liberais, que expressaram seus temores em centenas de publicações. Aos olhos deles, o sionismo começava a parecer cada vez mais o reverso do nacionalismo judeofóbico: ambas as correntes de pensamento recusavam-se a ver os judeus como patriotas de sua pátria de residência, e ambas suspeitavam de sua lealdade dupla.
Na Alemanha, o judaísmo reformista emergiu como a corrente judaica mais volumosa, produzindo numerosos intelectuais religiosos, de David Friedländer, que foi aluno de Mendelssohn, ao estudioso rabino Abraham Geiger e figuras como Sigmund Maybaum e Heinemann Volgelstein. Os Estudos Judaicos (Wissenschaft des Judentums), que contribuíram mais para o estudo da história judaica do que qualquer outro movimento cultural da primeira metade do século XIX, desenvolveram-se dentro dessa órbita. Sem levar em conta o impacto do judaísmo reformista, é impossível entender, por exemplo, o pensamento antissionista judaico de Hermann Cohen, o grande filósofo neokantiano (236). Em especial depois das revoluções de 1848, o movimento conferiu poder a grupos também nos Estados Unidos, onde se espalhou e fortaleceu (237).
A despeito da grande rivalidade, o judaísmo reformista e o judaísmo tradicional estavam de acordo em um ponto fundamental: a firme recusa em considerar a Palestina propriedade nacional, um destino para a emigração judaica, ou uma pátria nacional. Como vimos, os judeus da Europa ocidental e oriental eram tão nacionalizados quanto os outros cidadãos, não no sentido de abraçar uma identidade política judaica única, e sim no sentido de estarem integrados a suas respectivas nações. Nos últimos anos do século XIX, um importante jornal judaico explicou o fenômeno nos seguintes termos: “Sobre essa questão do amor pelo Kaiser e pelo Reich, pelo Estado e pela pátria, todos os grupos da judaísmo têm uma só opinião – ortodoxos e reformistas, ultraortodoxos e cultos [die Aufgeklärtesten]” (238).
Um exemplo proeminente dessa dinâmica é o rabino Samson Raphael Hirsch, o principal líder do judaísmo ortodoxo do século XIX. Na época, ele já sabia ler e escrever fluentemente em alemão, e ainda hoje é famoso como um comentarista brilhante, cujos talentosos alunos e seguidores superaram em número os de todos os outros rabinos daquele tempo. Com as primeiras reverberações do protossionismo resultantes das ideias do rabino Kalischer e do ex-comunista Moses Hess, Hirsch imediatamente incumbiu-se de acabar com esse desvio, que acreditava ser uma falsificação do judaísmo histórico e uma provável causa de sérios danos a ele. Hirsch temia que aqueles que consideravam a Terra Santa como uma pátria judaica e exigiam soberania sobre ela repetissem o erro de Bar Kokhba do tempo de Adriano e ocasionassem uma nova tragédia judaica. Portanto, recordou a todos os judeus, para que não esquecessem:
Yisrael recebeu a Torá no deserto, e lá – sem um país e uma terra de sua propriedade – tornou-se uma nação, um corpo cuja alma era a Torá […] A Torá, o cumprimento da Vontade Divina, constitui a fundação, a base e meta desse povo […] Portanto, uma terra, prosperidade e as instituições de Estado deveriam ser postas à disposição de Yisrael não como metas em si, mas como meios de cumprimento da Torá (239).
A noção de que as escrituras sagradas haviam substituído a Terra por completo deflagrou desdobramentos entre outros estudiosos tradicionalistas, e, quando Herzl tentou convidar a União de Rabinos Alemães para a abertura do Primeiro Congresso Sionista em 1897, deparou com sólida rejeição. A situação foi tão séria que a comunidade judaica em Munique, onde o congresso deveria se reunir, recusou-se terminantemente a permitir que o encontro acontecesse em solo alemão. Como resultado, Herzl foi forçado a transferi-lo para Basel, na Suíça. Dos 90 representantes dos rabinos judeus, todos, exceto dois, assinaram uma carta de protesto contra a convocação do Congresso Sionista.
Naftali Hermann Adler, líder dos rabinos do Reino Unido, que de início apoiou a comunidade judaica na Palestina e até manifestou apoio ao movimento Amantes do Sião, opôs-se imediatamente ao projeto político de colonização sionista e recusou contato público com Herzl. O mesmo ocorreu com Zadoc Kahn, líder dos rabinos da França. Embora apoiasse a iniciativa filantrópica de Edmond James de Rothschild e ficasse fascinado com o sionismo no princípio, a fidelidade dos judeus franceses à pátria francesa era muito mais importante para ele do que o novo “aventureirismo” nacional judaico.
Mas a atitude mais intrigante de um rabino europeu em relação ao sionismo foi a de Moritz Güdemann, líder dos rabinos de Viena e um proeminente estudioso da história judaica. Em 1895, antes mesmo de escrever O Estado judaico, Herzl aproximou-se do influente rabino com o objetivo de garantir sua ajuda para fazer contato com o ramo vienense da família Rothschild. Com a curiosidade despertada, o rabino tinha certeza de que Herzl estava inclinado a se unir à luta contra o antissemitismo e quem sabe inclinado a recrutar o Neue Freie Presse, jornal vienense de larga circulação para o qual Herzl escrevia, em defesa dos judeus perseguidos. Entretanto, Güdemann ficou preocupado depois de sua visita à casa de Herzl, onde ficou surpreso ao saber que o jornalista tinha uma árvore de Natal (240). Sabia-se que Herzl não era um judeu especialmente observante e que não havia sequer circuncidado o filho (muito provavelmente porque julgasse a circuncisão prejudicial à masculinidade). Mas o rabino Güdemann superou as hesitações em relação ao jovem e estranho goy e continuou a correspondência com o intrigante jornalista.
Em sua rica imaginação teatral, Herzl viu Güdemann como o líder dos rabinos da capital do futuro Estado judaico (241). Nesse contexto, o significativo “mal-entendido” que eclodiu entre os dois foi bastante revelador. Embora Güdemann fosse um rabino tradicional, não um reformista, mantinha-se distante de todas as formas de nacionalismo. Seu cosmopolitismo refletia com exatidão os aspectos antinacionalistas políticos e culturais do Império Austro-Húngaro. Em 1897, ano do Primeiro Congresso Sionista, o rabino de Viena publicou um livreto com o título de Judaísmo nacional (242). Esse curto texto é uma das críticas teológicas e políticas mais esclarecedoras já escritas sobre a visão sionista.
Como rabino e devoto judeu, Güdemann não questionava a narrativa bíblica. Entretanto, seu comentário sobre a Torá e sobre os livros dos profetas exibe um anseio pelo universalismo e pela solidariedade humana. A profunda apreensão a respeito do antissemitismo moderno fizeram dele um pensador antinacionalista coerente e metódico. De seu ponto de vista, mesmo que os judeus tivessem sido um povo na Antiguidade, desde a destruição do Templo não haviam sido nada mais que uma importante comunidade religiosa com o objetivo de disseminar a mensagem do monoteísmo pelo mundo e transformar a humanidade em um só grande povo. Os judeus sempre se adaptaram bem a culturas diversas (grega, persa e árabe, por exemplo), ao mesmo tempo preservando sua fé e sua Torá. Tanto o tradicional rabino Güdemann quanto os rabinos do judaísmo reformista, inclusive o rabino Adolf Jellinek, líder da comunidade liberal de Viena, concordavam em princípio que os judeus da Alemanha era alemães, os judeus da Grã-Bretanha eram britânicos, e os judeus da França eram franceses – e que isso era uma coisa boa:
Os capítulos mais importantes da história da Diáspora refletem-se em nomes como Filo, o Rambam e Mendelssohn. Esses homens não só foram porta-bandeiras do judaísmo, como também brilharam intensamente na cultura geral de seu tempo (243).
O egoísmo nacionalista que se espalhava pelo mundo, argumentou Güdemann, em essência contradizia o espírito da religião judaica, e seguidores devotos da Bíblia e da lei religiosa judaica deveriam evitar cair sob a influência sedutora e perigosa do chauvinismo. Era exatamente nesse caminho que os judeus não deviam seguir os gentios: em outras palavras, assimilação na cultura secular moderna, sim; mas assimilação na política moderna, não. Todo judeu educado sabia que os conceitos políticos básicos derivados da cultura greco-romana não existiam dentro da cultura judaica. O carismático rabino não escondia o medo de que um dia um “judaísmo com canhões e baionetas inverteria os papéis de Davi e Golias para constituir uma contradição ridícula de si mesmo” (244). Entretanto, devido à ameaça do antissemitismo, Güdemann não se opunha à emigração e assentamento dos judeus em outros países, e aí reside a base para o equívoco fundamental de Herzl sobre o rabino erudito:
Dar a esses judeus, para os quais a luta pela sobrevivência em sua atual pátria tornou-se difícil demais, uma oportunidade de se radicar em outro lugar é uma ação louvável. Podemos apenas pedir e esperar que as colônias judaicas que já existem e aquelas que serão estabelecidas no futuro, na Terra Santa ou outros lugares, continuem a existir e prosperar. Entretanto, seria um erro grave ir de encontro ao espírito e história do judaísmo se essas atividades de assentamento, dignas de grande apreciação, estivessem ligadas a aspirações nacionalistas e fossem consideradas como o cumprimento da promessa divina (245).
De acordo com Güdemann, o judaísmo nunca dependeu de tempo ou lugar e nunca teve uma pátria. Muitos judeus, afirmou ele, esqueceram a história judaica de propósito e a falsificaram intencionalmente, interpretando o anseio e amor pela Terra Santa e o desejo de lá ser sepultado como uma mentalidade nacionalista, o que não era o caso. O motivo era simples:
A fim de evitar o equívoco de que a existência de Israel depende da posse de terra ou está ligada à terra de sua herança, a Bíblia explica: “Mas a porção do Senhor é seu povo, Jacó é a sua parte da herança” (Deuteronômio 32:9). Essa perspectiva, que considera o povo de Israel mais como herança de Deus do que como proprietário de sua terra, não pode servir de base para um nativismo ligado a um vínculo inquebrantável com a terra em questão. Israel jamais dependeu da autoctonia ou aboriginalidade que serviu a outros povos do passado remoto (246).
Não é de surpreender que, após a publicação desse panfleto contundente, Herzl perdesse todas as esperanças quanto aos rabinos reformistas e tradicionalistas da Europa central e ocidental. Ele também viu que não havia esperança de encontrar apoio entre os judeus dos Estados Unidos. Afinal, o rabino Isaac Mayer Wise, fundador da Conferência Central dos Rabinos Americanos, havia classificado o sionismo pública e inequivocamente de falso messianismo e proclamado os Estados Unidos – não a Palestina – o verdadeiro lugar de refúgio dos judeus. Ao fazer isso, ele liquidou todas esperanças de apoio ou auxílio da nova e cada vez mais forte comunidade judaica americana (247).
Dali em diante, Herzl depositou as esperanças unicamente nos rabinos da Europa oriental, guias espirituais da grande população de idioma iídiche da região. De fato, os poucos judeus tradicionalistas do movimento Mizrachi que participaram da assembleia histórica do jovem movimento nacionalista em 1897 provinham na maioria do império russo. Ao contrário dos rabinos da Grã-Bretanha, França, Alemanha e Estados Unidos, que já falavam e escreviam em seus respectivos idiomas nacionais, os rabinos da Europa oriental ainda possuíam linguagem própria – o iídiche, no qual a maior parte escrevia –, bem como sua língua sagrada, o hebraico. O uso do russo ou do polonês deparava com amarga oposição do sistema rabínico do Leste.
Como sabemos, a situação dos judeus da Europa oriental era completamente diferente daquela dos judeus da Europa ocidental. Milhões deles ainda viviam em bairros ou aldeias segregados dos vizinhos; além disso, em contraste com os judeus do Ocidente, essa população exibia claros sinais de uma cultura popular única e viva. Em tais lugares, portanto – mas não necessariamente em outros –, a secularização e politização desempenharam um papel na formação de uma cultura específica. Partidos políticos, jornais e literatura foram organizados, gerenciados e publicados em iídiche. Como todos os outros habitantes da Rússia tsarista, esses judeus não eram cidadãos do império, mas apenas súditos; em consequência, não houve o desenvolvimento significativo de um nacionalismo não judaico. E, quando levamos em consideração a amarga judeofobia que se cristalizou nessas áreas, entendemos por que foi ali, dentre todos os lugares, que o sionismo adquiriu seu primeiro ponto de apoio e alcançou seus primeiros êxitos.
Os esforços pioneiros, ainda que marginais, a partir de 1880 para o assentamento na Palestina – embora sem abraçar aspirações nacionais e tomando o cuidado de observar os mandamentos judaicos – receberam uma dose de encorajamento do sistema rabínico tradicional. Os rabinos estavam muito preocupados com o radicalismo secular socialista que vinha se espalhando entre a juventude iídiche. Embora o rabinato não tivesse muito entusiasmo pela emigração para a Terra Santa iniciada pelos Amantes do Sião, que incluiu alguns judeus tradicionalistas, o fenômeno de início não pareceu representar uma ameaça significativa às estruturas religiosas judaicas. Nem os primeiros relatos sobre a organização política sionista suscitaram preocupação imediata. Esperava-se que o cultivo do anseio pelo Sião sagrado ajudasse a salvaguardar o cerne da crença judaica da influência da força secularizante da modernização.
Em pouco tempo os rabinos entenderam que os gestos graciosos do sionismo na direção deles eram puramente instrumentais (248). Por um momento, os proponentes da religião tiveram esperanças de usar o nacionalismo em benefício próprio. Entretanto, depressa descobriram que, embora compartilhassem muita coisa com o sionismo, as metas dos dois movimentos eram exatamente opostas. Herzl e seus colegas no novo movimento cortejavam a liderança tradicional porque estavam cientes de seu poder hegemônico sobre os judeus. Também buscavam transformar judeus religiosos em nacionalistas, e não tinham intenção de preservar a religião que era antimoderna e, portanto, antinacionalista.
Entre o primeiro Congresso Sionista em 1897 e o quarto em 1900, os rabinos da liderança na Europa oriental manifestaram-se contra a visão transformadora de tornar a Terra Santa uma pátria onde todos os judeus se reuniriam para estabelecer um Estado judaico. Depois de anos de lutas amargas entre rabinos mitnagdim e hassídicos, a ampla hostilidade contra o sionismo teve êxito em unificá-los em uma frente de combate oriental que incluiu Yisrael Meir Kagan, de Radún (conhecido como o Chofetz Chaim); Yehudah Aryeh Leib Alter (o Gerrer Rebbe, autor de Sfas Emes e também conhecido por esse nome); Chaim Halevi Soloveitchik, de Brisk; Yitzchak Yaakov Rabinovitch (o rabino Itzele Ponevezher); Eliezer Gordon de Telz, Lituânia; Eliyahu Chaim Meisel, de Lodz; David Friedman, de Karlin-Pinsk; Chaim Ozer Grodzinski, de Vilna; Yosef Rosen, de Dvinsk, Letônia (conhecido como o Rogatchover Gaon); Sholom Dovber Schneersohn, o Rebbe de Lubavitch; e uma longa lista de outros. Cada uma dessas figuras falou em defesa da Torá contra o que consideravam o arauto de sua destruição (249).
Essa era a elite do judaísmo da Europa oriental, líderes importantes que guiavam grandes comunidades judias por todo o império russo. Eram comentaristas brilhantes da Torá na época e, nessa condição, mais do que ninguém, responsáveis por moldar o espírito e a sensibilidade de centenas e milhares de crentes. Essa elite judaica rompeu o ímpeto sionista de forma muito mais efetiva que a influência combinada do Bund, dos socialistas e dos liberais, impedindo-o de emergir como uma força de liderança entre os judeus da Europa oriental. Os grandes rabinos não permitiam atividades sionistas em suas sinagogas ou locais de estudo da Torá; também proibiram a leitura de obras sionistas e vetaram terminantemente toda cooperação política com eles.
Os textos desses rabinos revelam um diagnóstico habilidoso e sóbrio do nacionalismo. Embora suas ferramentas conceituais às vezes possam ter sido ingênuas e inadequadas, poucos estudiosos seculares da época chegaram a uma tão fina compreensão. Esta foi oriunda não do brilhantismo dos rabinos, mas sim do fato de que eles eram os únicos intelectuais do final do século XIX capazes de analisar o nacionalismo de fora. Como estrangeiros na era moderna e estrangeiros em uma terra estrangeira, eles identificaram de modo intuitivo os atributos proeminentes da nova identidade coletiva.
Em 1900, um grupo de importantes e influentes rabinos compilou e publicou em conjunto um volume intitulado O livro da luz para os justos: contra o método sionista. Já na introdução, os organizadores deixam sua posição clara:
Somos o povo do Livro, e nos livros da Bíblia, na Mishná e no Talmude, na Midrash e nas lendas de nossos sagrados professores de abençoada memória, não encontramos menção à palavra “nacionalismo”, nem em sua derivação hebraica da palavra “nação”, nem nas declarações ou na linguagem de nossos professores de abençoada memória (250).
Considerando os colaboradores ultraortodoxos do volume, era evidente que o mundo judaico estava encarando um fenômeno histórico sem precedentes. Os rabinos explicaram que os judeus com certeza são um povo porque Deus assim escolheu estabelecer; entretanto, esse povo foi definido apenas pela Bíblia, não por alguma autoridade de fora da fé. Por motivos táticos, os aliciantes sionistas argumentavam que a nação poderia acomodar tanto crentes quanto não crentes, e que a Torá era de importância secundária. Isso era uma inovação, e do mesmo modo a alegação de que o judaísmo era um grupamento político nacional e não religioso jamais havia sido feita antes na tradição judaica. Os sionistas também haviam escolhido a Terra Santa intencionalmente como o território onde o Estado deveria ser estabelecido porque entendiam o quanto ela era preciosa para os judeus. Haviam até se apropriado do nome Sião na tentativa de seduzir crentes ingênuos a se tornarem defensores do nacionalismo. Para todos os tipos de sionistas, os judeus constituíam um povo fossilizado que precisava ser reabilitado. Entretanto, para os autores da obra em questão, a afirmação significava a helenização moderna e uma nova espécie de falso messianismo.
O rabino Meisel, de Lodz, alegou que “os sionistas não estão em busca do Sião” e haviam apenas vestido esse manto verbal a fim de enganar judeus ingênuos (251). O rabino Chaim Soloveitchik e o Rogatchover Gaon consideraram-nos uma “seita” e parece que não encontraram palavras duras o suficiente para denunciá-los como um todo. O Rebbe de Lubavitch advertiu que “todo o desejo e meta deles é jogar fora o fardo da Torá e dos mandamentos e manter apenas o nacionalismo, e é isso que constituiria o judaísmo deles” (252). O popular líder hassídico atacou com especial virulência o uso seletivo da Bíblia pelos sionistas, pulando elementos que consideravam inconvenientes e criando uma nova fé na prática e na teoria, uma Torá nacionalizada completamente diferente da que havia sido entregue a Moisés no monte Sinai.
Ao lado de outros livros e artigos, essa publicação conjunta refletiu inequivocamente a argumentação do rabinato tradicional de que o sionismo representava uma reprodução da assimilação secular individual no nível coletivo, nacional. No sionismo, a Terra substituía a Torá, e a adoração completa do futuro Estado substituía a firme fidelidade a Deus. Dessa perspectiva, o nacionalismo judaico representava uma ameaça muito mais séria ao judaísmo que a assimilação individual, maior ainda que a desprezível reforma religiosa. No caso desses dois fenômenos, ainda havia a chance de que os judeus retornassem à fé original depois de se decepcionar. No caso do sionismo, porém, não havia chance de retorno.
O medo do judaísmo tradicionalista quanto ao poder do nacionalismo no fim mostrou-se justificado. Com o auxílio aterrorizante da história, o sionismo derrotou o judaísmo e, após a Segunda Guerra Mundial, grandes segmentos dos judeus do mundo que sobreviveram ao extermínio aceitaram o veredito decisivo: o princípio de um Estado designado como judaico e localizado na Terra Santa, que seria uma pátria nacional judaica. Com exceção de uma comunidade minúscula baseada em Jerusalém e dos grandes grupos hassídicos de Nova York, a maioria dos fiéis judeus tornou-se seguidora do novo nacionalismo em alguma medida. Alguns até passaram a apoiar um nacionalismo extremamente agressivo. Quando o mestre do universo começou a mostrar sinais de fraqueza e possivelmente até de morte, eles também, como a direita radical secular, passaram a ver os seres humanos – quer dizer, o nacionalismo – como o mestre todo-poderoso da terra.
Vayoel Moshe, um livro influente do Satmar Rebbe Yoel Teitelbaum, pode ser considerado o ápice e a impressionante conclusão teórica da oposição do judaísmo ao protossionismo e sionismo (253). Embora o texto – cuja primeira parte foi redigida na década de 1950 – contenha pouca coisa nova, instila vida às três combalidas adjurações talmúdicas ao proibir a emigração coletiva para a Terra Santa antes da redenção; sublinhar que a terra da Bíblia nunca foi um território nacional e proibir o assentamento sem meticulosa observação dos mandamentos precisos que se aplicam; e sustentar que o hebraico é uma língua sagrada destinada estritamente à prece e discussão legal, que não deveria ser usada como linguagem secular para negócios, pragas, blasfêmia ou, de acordo com o rabino, comandos militares.
Até o nascimento do sionismo no final do século XIX, poucos judeus imaginavam que a Terra Santa fosse ou poderia vir a ser um território nacional para os judeus. O sionismo desconsiderou a tradição, os mandamentos e a opinião dos rabinos, e falou em nome daqueles que rejeitavam completamente essas coisas e manifestavam desprezo por elas em público. Com certeza não foi o primeiro ato de “substituição” da história: assim como os jacobinos falavam com confiança absoluta em nome do povo francês, que ainda não existia realmente, e os bolcheviques apresentaram-se como um substituto histórico para o proletariado, que apenas começava a existir no império russo, assim também os sionistas situaram sua pátria imaginária dentro do judaísmo e se viram como sucessores e representantes mandatários e autênticos (254).
No fim das contas, a revolução sionista teve êxito em nacionalizar os principais elementos do discurso religioso judaico. Dali em diante, a Terra Santa tornou-se um espaço mais ou menos definido que deveria pertencer ao povo escolhido. Em resumo, durante o século XX, a Terra Santa tornou-se a “Terra de Israel”.
Direito histórico e a posse do território
O diagnóstico de Herzl sobre a situação dos judeus do Leste e centro europeu era mais acurado que o de todos os seus rivais, o que explica por que suas ideias foram tão poderosas a longo prazo. Os tradicionalistas, reformistas, autonomistas, socialistas e liberais fracassaram em entender a natureza frágil e agressiva do nacionalismo naquelas regiões da Europa e, portanto, falharam em identificar, ao contrário de Herzl, a grave ameaça que representavam à existência judaica. Hoje, em retrospecto, também sabemos que a escolha de emigrantes sem teto e atingidos pela pobreza que deixaram a velha Europa oriental em massa rumo às costas das Américas foi em última análise uma escolha melhor que a dos que optaram por ficar onde estavam. Mas ainda é cedo demais para saber com certeza se eles estavam certos na recusa teimosa em emigrar para a Palestina. Em todo caso, a grande migração para o oeste salvou milhões de vidas. Infelizmente, o mesmo não foi verdade para o projeto sionista (255).
Entretanto, embora o diagnóstico dos fundadores do sionismo fosse acurado, o remédio que prescreveram era problemático devido à impressionante semelhança com o cerne ideológico do sentimento antijudaico moderno. Os mitos sionistas referentes ao delineamento da nação judaica imaginária e do território designado para essa “nação” destinavam-se a isolá-la “etnicamente” das outras nações, para isso apropriando-se de terra onde outros viviam.
O próprio Herzl pode ter sido menos etnocêntrico e, na verdade, menos “sionista” que outros líderes importantes do jovem movimento. Em contraste com a maioria, ele não acreditava realmente que os judeus fossem uma nação singular baseada na raça; além disso, ao contrário da maioria dos membros do movimento, para ele a Palestina era de menor importância como país de destino. Em sua visão, mais decisiva era a necessidade urgente de encontrar refúgio nacional coletivo para judeus indefesos e perseguidos. Em seu livro de 1896, Der Judenstaat (O Estado dos judeus), ele esclarece sua posição sobre a questão do refúgio da seguinte forma: “Vamos escolher a Palestina ou a Argentina? Devemos aceitar o que nos for dado, e o que for selecionado pela opinião pública judaica” (256). E, durante o debate sobre Uganda que ocorreu no Sexto Congresso Sionista, ele teve sucesso em forçar os colegas a aceitar a proposta britânica de colonização do leste da África.
Mas, como um estadista realista, Herzl também sabia que o único jeito de penetrar no público judaico do Leste europeu era por meio de um elo inquebrantável entre tradição e visão. Para um mito ser verossímil e firme, sua fundação tinha que possuir uma camada de imagens “antigas”. Isso obriga a remodelá-las totalmente, todavia, eram insubstituíveis como ponto de partida. Tais iniciativas foram comuns na construção da memória nacional na era moderna.
Entretanto, com que direito era admissível se estabelecer uma nação-Estado judaica em um território onde a maioria decisiva não era judaica? Em todos os debates com tradicionalistas, dos dois lados da campanha, a presença dos árabes na Palestina quase nunca era levantada. Havia, é claro, uns poucos indivíduos que entendiam a importância do assunto, mas situavam-se necessariamente distantes tanto do nacionalismo quanto da Torá no espectro político judaico. Já em 1886, por exemplo, Ilya Rubanovitch, membro do Narodnaya Volya (Vontade do Povo) de descendência judaica que chegou a líder do Partido Socialista Revolucionário russo, colocou a seguinte questão pungente. Mesmo que judeus ricos tivessem êxito em comprar a “pátria histórica” dos turcos, o que vai ser feito dos árabes? Os judeus esperam ser estranhos entre os árabes ou querem fazer dos árabes estranhos entre eles? […] Os árabes têm exatamente o mesmo direito histórico e será um infortúnio para vocês se – assumindo uma posição sob a proteção de saqueadores internacionais, usando tratativas clandestinas e intrigas de uma diplomacia corrupta – fizerem os pacíficos árabes defenderem o direito deles (257).
Para usar tal lógica de argumentação, era preciso ser um revolucionário que abraçasse uma moralidade universal – não sendo nem um judeu religioso, nem um sionista. Estava-se no auge da era do colonialismo, quando habitantes não brancos do planeta ainda não eram considerados iguais aos europeus, e com certeza não tinham direito às mesmas prerrogativas civis e nacionais. Embora a maioria dos sionistas soubessem muito bem que a Palestina possuía muitos habitantes locais e periodicamente os mencionassem em seus textos, não interpretavam a presença deles como significando que a Terra não estivesse aberta para a livre colonização. Sua consciência fundamental a essa altura era coerente com o clima geral do final do século XIX e início do século XX: no que dizia respeito ao homem branco, para todos os efeitos, o mundo não europeu havia se tornado um espaço desprovido de gente, assim como a América era despovoada duzentos anos atrás, antes da chegada do homem branco.
Entre os sionistas, porém, havia umas poucas exceções. Uma era Ahad Ha’am (Asher Hirsch Ginsberg), líder do sionismo espiritual que, após uma visita à Palestina em 1891, escreveu de modo apaixonado sobre a população local da Palestina com grande apreensão:
Do exterior, estamos acostumados a acreditar que Eretz Israel hoje em dia é quase totalmente desolada, um deserto inculto, e que qualquer um que deseje comprar terra lá pode chegar e comprar tudo que quiser. Mas, na verdade, não é assim […] Do exterior estamos acostumados a acreditar que os árabes são todos uns selvagens do deserto, como jumentos, que não veem nem entendem o que se passa ao redor. Mas isso é um grande erro. Os árabes, como todos os filhos de Sem, têm um intelecto aguçado e são muito astutos […] se chegar o dia em que a vida de nossa gente em Eretz Israel desenvolver-se a ponto de usurpar a população nativa, eles não vão entregar o lugar facilmente […] Devemos tomar cuidado para não despertar a raiva de outros povos contra nós por conduta repreensível. O quanto mais devemos tomar cuidado, portanto, com nossa conduta em relação a um povo estrangeiro entre o qual viveremos de novo, para convivermos com amor e respeito, e, desnecessário dizer, justiça e retidão? E o que fazem os nossos irmãos em Eretz Israel? Exatamente o contrário! Eram escravos na terra de seu exílio, e de repente veem-se com liberdade ilimitada […] Essa mudança súbita gerou neles um impulso para o despotismo, como sempre acontece quando “um escravo torna-se rei”, e vejam que se portam com hostilidade e crueldade com os árabes, usurpando-os de modo injusto (258).
No final do século XIX, o molde básico das relações judaico-árabes resultantes da colonização do país já havia sido fundido, e esse pensador moral, que apoiava a existência de um centro espiritual judaico não político na Terra de Israel, ficou chocado com o que viu. Ahad Ha’am não era de forma alguma uma figura marginal dentro do segmento sionista. Era, isso sim, o autor altamente respeitado de ensaios lúcidos e penetrantes, de ampla leitura entre o público judaico. A despeito de sua condição, seu protesto pesaroso não suscitou nenhuma discussão séria dentro do setor nacionalista emergente. Era de se esperar tal coisa, ainda que o próprio Ahad Ha’am não conseguisse entender por quê: afinal de contas, tal discussão teria neutralizado o ímpeto do movimento e danificado a fundação moral para boa parte de suas reivindicações.
O excerto citado sugere que os primeiros colonos ignoraram os habitantes locais da maneira habitual e que não haviam sido educados para vê-los como iguais. Uma exceção pode ter sido Yitzhak Epstein, um linguista que emigrou em 1895 para a Palestina, onde trabalhou como professor de hebraico. Em 1907, Epstein publicou um artigo no jornal sionista Ha-Shiloah, com sede em Berlim e que, não por acaso, havia sido fundado por Ahad Ha’am. Intitulado “Uma questão oculta”, o artigo de Epstein abria com a seguinte avaliação:
Entre as difíceis questões ligadas à ideia do renascimento de nosso povo em sua terra, existe uma que prevalece sobre todas as demais: a de nossa atitude em relação aos árabes. Essa questão, sobre cuja solução correta paira a renovação de nossa esperança nacional, não foi esquecida, mas foi completamente escondida dos sionistas e raramente é mencionada em sua verdadeira forma na literatura de nosso movimento (259).
Epstein também se preocupava com o fato de a compra de terra dos efêndis ricos, que resultava na desapropriação sistemática dos camponeses, ser uma ação imoral que produziria hostilidade e conflito no futuro.
Como o protesto de Ha’am, o artigo de Epstein caiu em ouvidos moucos. O sentimento de propriedade, de ter direitos sobre a Terra, era forte demais na consciência sionista para que seus adeptos perdessem tempo levando em consideração aqueles que consideravam hóspedes não convidados em sua terra prometida. Mas como um movimento de natureza fundamentalmente secular, a despeito do manto de tradição em que se enrolava, baseava seu direito à terra em textos religiosos escritos na penumbra longínqua da história antiga?
Uma minoritária facção religiosa que participou dos primeiros congressos sionistas teve cautela em sua atitude em relação à terra da Bíblia, e se estabeleceu como um movimento em 1902. Esse grupo, o Mizrachi, adotou a nova ideia nacional do shivat Tzyon (o retorno ao Sião) como uma ação humana viável para pavimentar o caminho da chegada da redenção. Entretanto, em contraste com os sionistas seculares, que careciam de fé no poder divino, os membros do Mizrachi afirmavam, baseados no conhecimento bíblico, que, embora Deus tivesse prometido a Terra para os filhos de Israel, ela não vinha com escritura de posse. Devido à sua sacralidade, ela havia sido concedida apenas condicionalmente e jamais se tornaria plena propriedade de seres humanos, quer pertencessem ou não ao povo escolhido.
Os primeiros sionistas religiosos consideravam um Estado judaico a solução para um problema concreto, não necessariamente a realização de um direito concedido por graça divina. Por esse motivo, durante o ferrenho debate sobre Uganda, em contraste com os apaixonados “palestinocêntricos” seculares, que relutavam em desistir da Terra Santa sob quaisquer circunstâncias, o Mizrachi apoiou a proposta de Herzl e votou a favor da aceitação da oferta de uma terra de refúgio temporário. Só mais tarde os porta-vozes do movimento, de forma hesitante e em contradição interna, começaram a articular o direito religioso à Terra de Israel. Muitos esqueceram que, durante as sete décadas passadas entre o Primeiro Congresso Sionista em 1897 e o “milagre” da força da guerra de 1967 – tirando exceções óbvias como Abraham Isaac HaCohen Kook –, a maioria dos sionistas religiosos estavam entre os menos dogmáticos no que dizia respeito à autoridade sobre a terra (260).
No mundo moderno, é virtualmente impossível justificar práticas políticas sem invocar algum tipo de dimensão moral universal. O poder é necessário para a execução de projetos coletivos, mas, se carecem de legitimidade ética, tais projetos vão permanecer inconstantes e instáveis. O sionismo compreendeu isso já ao dar os primeiros passos, buscando mobilizar o princípio do direito a fim de cumprir suas metas nacionalistas. De Moses Leib Lilienblum em 1882 à Declaração de Independência do Estado de Israel em maio de 1948, o nacionalismo judaico mobilizou um sistema de justificativas éticas e legais baseadas no denominador comum do direito histórico, ou do direito de precedência, ou, em linguagem clara, “estávamos aqui primeiro, e agora estamos de volta”.
Assim como a Revolução Francesa produziu a ideia de “direito natural” a um território nacional, foi a Guerra Franco-Prussiana que cristalizou o conceito de “direito histórico”. Entre 1793 e 1871, o conceito de pátria obteve circulação pela Europa, às vezes dando origem a novas concepções de direitos. Quando a Alsácia-Lorena foi anexada à Alemanha, o principal argumento dos historiadores alemães foi que a região em questão havia pertencido ao Reich alemão no passado distante; os franceses, ao contrário, defendiam o direito de os habitantes determinarem seu país de afiliação, baseados no direito de autodeterminação.
No momento em que este comentário é escrito, Putin usa argumentos semelhantes para capturar a Ucrânia.
Desde a controvérsia acerca desse território, a direita nacionalista e às vezes a direita liberal têm a tendência de invocar “direitos históricos”, enquanto a esquerda liberal e socialista costuma adotar a ideia de autodeterminação do povo que vive em sua terra. Dos fascistas italianos, que reivindicaram a costa da Croácia porque anteriormente havia pertencido ao império veneziano (e antes disso ao Império Romano), aos sérvios, que alegaram soberania sobre Kosovo baseados na batalha de 1389 contra os muçulmanos otomanos e na existência de uma maioria cristã que falava dialetos sérvios na região até o final do século XIX, o embasamento no princípio dos direitos históricos alimentou algumas das piores brigas territoriais da história moderna (261).
Antes mesmo de Herzl aparecer, Lilienblum, um líder dos Amantes do Sião, aconselhou os judeus a deixar a Europa hostil e instalar-se na terra vizinha de nossos pais, sobre a qual temos um direito histórico que não foi extinto nem perdido com a nossa perda do domínio, assim como os direitos do povo balcânico não foram extintos com a sua perda do domínio (262).
Lilienblum cresceu em um lar judaico tradicional e tornou-se um estudioso secular para quem a concepção religiosa da Terra Santa era suplantada por uma concepção predominantemente política. Como um dos primeiros judeus a ler a Bíblia não como obra teológica, mas como um texto secular, ele afirmou: “Não temos necessidade dos muros de Jerusalém, nem do Templo, nem de Jerusalém em si” (263). Em sua visão, portanto, não era um direito de conexão religiosa com uma cidade santa, mas sim um direito a território nacional.
Quando os primeiros sionistas começaram a tomar conhecimento dos árabes na Palestina, Menachem Ussishkin, um importante líder sionista, decidiu estender a posição de Lilienblum com a exigência de que “aqueles árabes vivam em paz e solidariedade com os judeus e reconheçam o direito histórico dos filhos de Israel à Terra” (264). Essa hipocrisia retórica suscitou reação imediata e decisiva de Micah Joseph Berdichevsky, um dos primeiros autores hebreus modernos que, ao contrário de Ussishkin, era um homem de excepcional integridade. Berdichevsky respondeu a essas racionalizações com uma lógica simples:
Na maioria dos casos, nossos pais não eram nativos da Terra, mas seus conquistadores, e o direito que adquiriram também foi adquirido pelos conquistadores que subsequentemente conquistaram-na de nós […] Eles não reconhecem nosso direito, e sim o negam. A Terra de Israel não era uma terra virgem antes de nós; é povoada por pessoas que cultivam sua terra, com direitos a essa terra (265).
Como muitos outros de sua geração, Berdichevsky verdadeira e ingenuamente considerava a Bíblia um texto histórico acurado. Mas ele a leu sem se basear nas várias premissas sionistas que justificavam a lógica da conquista apenas quando os conquistadores, quer do presente ou do passado, fossem “filhos de Israel”.
Daí em diante, a Bíblia como texto secular serviria de componente primordial dos argumentos judaicos para os direitos eternos do povo judeu. Era necessário citar também o fato ostensivo e inquestionável de que os judeus foram exilados à força da Terra no ano 70 d.C. (ou pouco depois) e acreditar que a maioria dos judeus modernos eram “racialmente” ou “etnicamente” descendentes dos antigos hebreus. Apenas a aceitação dessas três premissas possibilitava se estabelecer e manter a crença no direito histórico dos judeus. Minar qualquer uma delas interromperia seu funcionamento integrado como um mito capaz de incitar e mobilizar o povo judeu.
Com base nisso, conforme observamos nos capítulos anteriores, a Bíblia foi adotada como o primeiro livro de história a ser estudado por todos os alunos dentro da comunidade sionista na Palestina, bem como, sob os auspícios do sistema educacional israelense, dentro do Estado de Israel moderno. A história do exílio do povo judeu após a destruição do Templo emergiu então como um axioma histórico, a não ser pesquisado, tampouco questionado, mas sim usado em declarações políticas e manifestações nacionais oficiais. Os reinos convertidos ao judaísmo, cujas populações vieram a constituir algumas das mais importantes comunidades judaicas do mundo – do reino de Adiabene na Mesopotâmia ao império kazar no sul da Rússia –, tornaram-se tabus, simplesmente, a não serem discutidos. Foram essas condições ideológicas que permitiram ao “direito histórico” servir de firme plataforma ética para a consciência sionista.
O próprio Herzl tinha uma mentalidade por demais colonialista para se preocupar com o tema do direito ou se incomodar com questões históricas complicadas. Vivendo na era do imperialismo, ele não considerou a aquisição de uma pátria fora da Europa que serviria como um braço territorial do mundo burguês “civilizado” uma meta que exigisse justificativa. Entretanto, Herzl, além de tudo, era um político sábio e, por motivos pragmáticos, também passou a acreditar nas narrativas nacionais que começaram a ser tecidas ao seu redor.
Os primeiros protestos articulados pelos árabes contra as implicações da Declaração Balfour forçaram o nacionalismo judaico a fazer uso crescente de variações em sua superarma moral, o “direito histórico”. Proponentes da ideologia habilmente traduziram laços religiosos de longa data com a Terra Santa no direito à posse de uma terra nacional. Entre os convidados a tomar parte nas conversas sobre o futuro dos territórios otomanos estavam representantes da Organização Sionista, que propuseram a seguinte resolução:
As Altas Partes Contratantes reconhecem o título histórico do povo judeu à Palestina e o direito dos judeus de reconstituir na Palestina seu Lar Nacional […] A terra é o lar histórico dos judeus; lá alcançaram seu maior desenvolvimento […] Pela violência foram expulsos da Palestina, e ao longo de eras nunca deixaram de nutrir o anseio e a esperança de retornar (266).
Em 1922, a Liga da Nações adotou o texto do Mandato da Palestina, que nomeou a Grã-Bretanha mandatária. Embora não confirmasse o direito dos judeus à Palestina, o organismo internacional já havia reconhecido a “conexão histórica” com o território. Depois disso, em conjunto com o novo “direito internacional”, a concepção de direito histórico emergiu como a pedra angular da retórica da propaganda sionista. Como resultado da crescente pressão sobre os judeus na Europa e da ausência de países dispostos a conceder-lhes acesso e refúgio, mais e mais judeus e também não judeus vieram a se convencer da importância da nova consciência desse direito, transformando-o em um “direito natural” inquestionável. O fato de que por 1,3 mil anos os habitantes da região tivessem sido predominantemente muçulmanos foi neutralizado pela afirmação de que essa população local não possuía os atributos singulares de uma nação e jamais havia reivindicado autodeterminação. Em contraste, de acordo com o discurso sionista, a nação judaica sempre existiu e, em todas as gerações, aspirou retornar a seu país e efetivar seu direito, embora, por grande infortúnio, sempre tenha sido impedida de fazê-lo por circunstâncias políticas.
Claro que havia alguns sionistas, em especial da esquerda política, que se sentiam desconfortáveis com justificativas baseadas na concepção do direito histórico, que negava os direitos dos vivos e dava prioridade aos direitos dos mortos de um passado remoto. Hesitação e oposição foram manifestadas por membros do Brit Shalom, um pequeno grupo pacifista que existiu às margens do movimento sionista por um breve período durante os anos 1920, e até por alguns sionistas socialistas, notadamente aqueles afiliados ao movimento HaShomer HaTzair. Esses indivíduos sabiam muito bem que, de acordo com a herança liberal e socialista do século XIX, a terra sempre pertenceu a quem a cultiva. Portanto, fizeram-se esforços para ligar direitos múltiplos, e às vezes até equacionar o direito da população nativa a continuar vivendo em sua terra com o direito histórico dos novos colonos. Todavia, a resistência local aos colonos intensificou-se e foi exercida pressão crescente sobre os britânicos para que restringissem a imigração. Isso resultou na redação de um número considerável de artigos, histórias e ensaios legais tentando embasar de qualquer forma possível o mito histórico sobre o povo racial andarilho que, embora exilado à força, havia começado a retornar para sua pátria na primeira oportunidade.
Abril de 1936 marcou o começo da Revolta Árabe na Palestina. Os líderes da comunidade sionista retrataram-na não como um autêntico levante nacionalista, mas sim como produto de incitação antissemita de parte de líderes árabes hostis. Entretanto, à luz do despertar das massas e da crescente apreensão dos britânicos, a angustiada Agência Judaica para a Palestina rapidamente preparou um memorando intitulado “A conexão histórica do povo judeu com a Palestina” (267). O texto foi apresentado à Comissão Real da Palestina, também conhecida como Comissão Peel em função de seu chefe, lorde William Peel. O texto, redigido com grande empenho e meticuloso cuidado, é um documento fascinante que reflete a concepção sionista de direito a partir dos anos 1930.
A fim de se entender por que o país pertencia ao povo de Israel, o texto explicava que era necessário começar do começo, com o livro do Gênesis. A Terra havia sido prometida a Abraão por um poder divino conhecido e aceito por todos. José, filho de Jacó, foi o primeiro rebento da raça a ser exilado da Terra (268) e Moisés foi o primeiro sionista que pretendeu retornar. O primeiro exílio despachou a nação para a Babilônia, de onde ela rapidamente voltou para sua terra por força da bravura mental nacional. Essa determinação mental também foi responsável pela revolta dos macabeus, que estabeleceram outra vez um grande reino judaico. Durante o período romano, a Terra foi o lar de quatro milhões de habitantes, e duas revoltas nacionais resultaram no deslocamento de alguns judeus de sua terra nativa, causando sua dispersão entre as nações. Mas nem todos os judeus foram exilados; muitos permaneceram em sua terra, a Palestina continuou sendo o centro territorial do povo judeu ao longo de toda a sua existência. A conquista árabe resultou em exílios adicionais, e o regime estrangeiro oprimiu amargamente os judeus do país. Todavia, informa o memorando, os judeus que permaneceram apegaram-se com firmeza à pátria, e os “enlutados do Sião” voltaram para Jerusalém e lá ficaram. Para os judeus, o Muro das Lamentações sempre foi o lugar mais sagrado do mundo. Nesse sentido, todos os movimentos messiânicos haviam sido sionistas em essência, ainda que não se classificassem explicitamente como tal.
Bah! O que isso teria a ver com 1 Samuel 8?
O estudo histórico dedicou espaço significativo a figuras britânicas solidárias como Disraeli, lorde Palmerston e outros defensores do povo de Israel, transformando-os em sionistas ativos. De fato, o memorando dedicou mais espaço a Shaftesbury do que a Abraão e Moisés somados, e claro que não fez menção à aspiração secreta do lorde de converter todos os judeus ao cristianismo (269). Apenas Herzl e o nascimento do sionismo tiveram mais páginas que o sionismo cristão. De acordo com o documento, a história judaica no todo foi direcionada para o aparecimento da ideia sionista, do movimento sionista e da atividade sionista. Não foi feita menção aos direitos da maioria não judaica da Palestina, que, de momento, vivia no mesmo pequeno território.
Esse documento teórico crítico não foi assinado. Não sabemos quem foram seus autores, mas é bastante seguro presumir que tenha sido escrito pelos novos historiadores da Universidade Hebraica de Jerusalém, chefiados por Ben-Zion Dinur, patriarca do estudo do passado dentro da jovem comunidade sionista. Esse importante historiador político deixou sua marca em numerosos aspectos do memorando, inclusive na ênfase da centralidade da Terra ao longo de toda a história judaica, no fato de que as duas revoltas do período antigo não foram seguidas de exílios de verdade e de que a conquista árabe resultou em mais exílios, e no fato de que sempre houve uma presença judaica no território.
Aqueles que estabeleceram os fundamentos para a concepção do direito histórico não eram especialistas legais. Eram basicamente historiadores, estudiosos bíblicos e geógrafos (270). Da década de 1930 em diante, a maioria dos historiadores sionistas trabalhou arduamente para estabelecer e preservar a “Terra de Israel” como foco da experiência judaica. É durante esse período que vemos o início da produção efetiva e consistente de um novo tipo de identidade coletiva que remodelou o passado judaico, tornando-o mais territorial. Como a historiografia judaica – de Isaac Markus Jost, o primeiro estudioso judaico do passado da era moderna, a Simon Dubnow, o mais importante historiador judaico de seu tempo – não havia sido palestinocêntrica nem sionista, os historiadores da Universidade Hebraica tiveram que despender grande esforço para remover suas perigosas obras não nacionalistas. Ao mesmo tempo, tiveram não só que elaborar uma narrativa demonstrando que sempre houve um povo judeu, originado na Terra de Israel, como também contrabalançar e expurgar a longa tradição judaica que fazia oposição ao “retorno ao Sião” como meta secular nacional dos judeus do mundo.
Nos primórdios desse processo, a fim de consolidar a concepção do direito judaico à Terra, importantes ativistas sionistas, como Israel Belkind, David Ben-Gurion, Yitzhak Ben-Zvi e outros, tentaram provar que os árabes do país eram antigos descendentes dos judeus. Entretanto, a revolta de 1929 deu um rápido fim à “unificação etnorracial desses dois componentes do povo”. Como resultado, Ben-Zion Dinur e seus colegas encarregaram-se de convencer os leitores judeus de que, entre a destruição do Templo e o período moderno, tinha havido uma presença judaica mais autêntica na Terra de Israel. Eles argumentaram que sempre houve fortes comunidades judaicas na Terra, reforçadas e ampliadas por ondas de imigração judaica ao longo das gerações. Não era uma coisa simples provar essas questionáveis teses, mas, com grande dose de persuasão, um forte desejo de acreditar na retidão da abordagem, e o apoio consistente e financiamento do sistema sionista, a construção desse novo passado foi posta em marcha e por fim alcançou pleno sucesso pedagógico.
A fonte que melhor reflete esse impulso cego para documentar uma presença judaica consistente na suposta pátria como base do direito judaico à Terra é a antologia em vários volumes Sefer ha-Yishuv, cuja publicação teve início em 1939 (271). O projeto foi dirigido por Samuel Klein, primeiro geógrafo importante da Universidade Hebraica de Jerusalém, e continha todos os fiapos de evidência de presença judaica na Palestina entre 70 d.C. e 1882. Em sua introdução à coleção, Ben-Zion Dinur reconhece que, “ironicamente, a Terra, cujas alterações no destino fundem-se com a nação dispersa para formar uma só unidade histórica, ainda não recebeu a atenção que merece da historiografia judaica” (272). Isso marcou o início da escrita de uma nova história tanto do povo quanto da Terra, cuja natureza pouco mudou até hoje.
Dinur não era apenas um escritor talentoso, mas também um agente polivalente da memória. Organizou dúzias de volumes e coletâneas de documentos, publicou periódicos e por fim tornou-se membro do Knesset (o Parlamento israelense) e de 1951 a 1955 atuou como ministro da Educação do jovem país. Uma entrevista com Dinur oferece uma boa visão geral de seu legado ideológico. Publicada sob o título “Nosso direito à Terra”, a entrevista teve como subtítulo: “Os árabes na Terra de Israel têm todos os direitos, mas não têm direito sobre a Terra de Israel”, esclarecendo sua doutrina teórica e reivindicação empírica (273). A narrativa histórica de Dinur era sempre lúcida, e ele retornava a ela em todas as oportunidades. Os árabes haviam conquistado a terra em 634 d.C. e nela haviam permanecido como ocupadores estrangeiros desde então. Os judeus, em contraste, sempre se mantiveram apegados à sua pátria e nunca a abandonaram, ainda que às vezes fossem marginalizados dentro dela. Com uma lógica histórica e legal que pode soar irônica hoje em dia, esse líder da esquerda sionista e pioneiro da historiografia israelense sustentou:
A ocupação não cria posse histórica. A posse de um ocupador da terra que ele conquista é válida apenas se o proprietário daquela terra está ausente e não se opõe ao roubo por um longo período de tempo. Mas, se o proprietário está presente em sua terra […] marginalizado por centenas de anos, [isso] não diminui seus direitos, [mas] sim os intensifica (274).
Os criadores de um mito são, em geral, os primeiros a acreditar nele. De fato, os historiadores que trabalharam ao lado de Dinur, todos eles imigrantes europeus e não nativos “marginalizados” da Palestina, não pensavam diferente. Yitzhak Baer, Gershom Scholem, Israel Heilprin, Joshua Prawer, Nahum Slouchz e outros empregaram seus consideráveis talentos nos respectivos campos de estudo para provar que a história judaica nunca foi teológico-religiosa, mas sempre teológico-nacionalista. Ou seja, nunca foi a fábula de longo prazo de uma comunidade de crentes que adotaram rituais singulares de adoração, mas sim a história de uma nação que sempre se empenhou para alcançar sua meta suprema: o retorno à Terra de Israel. Yitzhak Baer, o historiador mais proeminente a trabalhar ao lado de Dinur, articulou a essência da narrativa sionista no início de sua carreira profissional, enquanto interpretava as obras do século XVI do Maharal de Praga com patriotismo entusiástico:
Deus designou uma herança de terra a cada povo, e a herança do Povo de Israel é a Terra de Israel. É seu lugar natural, e tudo que é arrancado de seu lugar natural perde sua percepção natural até retornar ao seu lugar (275).
Isso não quer dizer que não haja valor nos muitos estudos produzidos por esses estudiosos ao longo de muitos anos. Entretanto, a maioria dos mecanismos conceituais subjacentes aos estudos sobre a “Terra de Israel” resultaram em realizações empiricamente imperfeitas, comprometendo suas conclusões historiográficas.
Depois de uma campanha de uma década para incorporar no éthos sionista a consciência guiada pelos direitos, não é de espantar que os autores da Declaração de Independência do Estado de Israel em 1948 considerassem óbvio que o estabelecimento desse Estado na Terra de Israel fosse justificado pelo direito duplo, “natural e histórico”, à Terra (276). Entretanto, após o estabelecimento e estabilização do Estado, historiadores, arqueólogos, filósofos, estudiosos bíblicos e geógrafos continuaram a trabalhar para reforçar o direito histórico e seus subprodutos, buscando transformá-los em axiomas – imunes a todos os esforços analíticos para refutá-los.
De Ze’ev Jabotinsky a seus herdeiros no começo do século XX, intelectuais e políticos da direita sionista consideraram seu direito à terra óbvio e pouco esforço fizeram para esclarecê-lo. Entretanto, é importante enfatizar que nem mesmo eles limitam-se à filosofia do “direito” para justificar a conquista da terra. A corrente revisionista do sionismo sempre acreditou sinceramente que a história é uma estrutura cronológica na qual nada de fundamental jamais muda. De acordo com isso, o direito à terra é conceitualizado como um direito eterno, que mantém peso idêntico no passado, no presente e no futuro. Por esse motivo, o direito territorial permanece intacto de geração para geração, e deixará de existir apenas com a destruição do planeta. Com base nisso, Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel no final da década de 1970 e início dos anos 1980, foi capaz de resumir essa herança com grande simplicidade: “Retornamos à Terra de Israel não em virtude do poder, mas em virtude do direito, e graças a Deus tivemos o poder para concretizar o direito” (277).
Contra essa posição inequívoca, um grupo de estudiosos mais matizados, filiados à esquerda sionista, há muitos anos considera o direito judaico à Terra uma questão problemática que ainda está por ser totalmente resolvida. A cada geração, faz-se necessária uma repetida autopersuasão por meio de complexa retórica moral; nem sempre é uma tarefa fácil. Por exemplo, o historiador Shmuel Ettinger argumentou que pode não ter existido um direito, mas a afinidade de longa data do povo judeu com a Terra – ou seja, o fato de que, ao longo de milhares de anos, os judeus nunca esqueceram sua Terra, viram o exílio como uma situação antinatural e sempre buscaram retornar a seu lugar de origem – justificou a restauração e lhe conferiu validade. A despeito de seu conhecimento sobre a história da fé judaica, Ettinger conseguiu proclamar com certeza científica: “Em sua criação religiosa e pensamento nacional, a Terra de Israel permaneceu o centro importante, o coração da nação judaica” (278).
Em contraste, Yehoshua Arieli, um historiador tão digno de respeito quanto Ettinger, estabeleceu a premissa de que, assim como os direitos criam afinidade, a afinidade pode se tornar direito. “Com base nisso, a afinidade histórica tornou-se um direito em virtude do reconhecimento público internacional [a Declaração Balfour e o Mandato da Palestina] da reivindicação sionista para a solução da questão judaica” (279). O fato de o “reconhecimento público internacional” na verdade equivaler à Grã-Bretanha e ao reconhecimento do colonialismo ocidental de suas próprias ações, sem consideração pela população nativa, foi deixado de lado quando se tornou necessário apresentar uma justificativa moral para a colonização sionista a qualquer custo.
O cientista político Shlomo Avineri também preferiu, de modo típico, realçar a afinidade em vez do direito:
Não há dúvida de que temos uma afinidade histórica com todas as partes da Terra de Israel histórica, e essa Terra de Israel […] inclui não só Judeia, Samaria e Gaza, mas também áreas que não estão sob nosso controle hoje (nossa afinidade com Monte Nebo e Amã é mais tênue do que nossa afinidade com Nablus?). Entretanto, nem todos os lugares com que temos uma conexão devem ficar sob nosso controle político (280).
A isso, um colono sagaz da “Judeia e Samaria” poderia muito certamente ter respondido: “Não existe obrigação de trazer para o nosso controle político, mas é desejável”.
Com esse objetivo, Saul Friedländer, um importante historiador israelita, mobilizou uma análise racional mais subjetiva. Na opinião dele, o direito judaico à terra é sui generis porque o povo judeu define-se como povo apenas por seus laços com a terra […] Durante toda a sua existência na Diáspora, por quase dois mil anos, os judeus sentiram-se expulsos, dispersos, exilados de sua terra ancestral, para a qual ansiavam retornar. É uma história singular. Penso que um vínculo tão forte, um vínculo tão fundamental, dá a esse povo um direito a essa terra. Só os judeus colocaram um valor tão alto nela e a consideraram insubstituível, mesmo que por um tempo – e um tempo que durou séculos – tenham vivido em outros lugares (281).
Além da problemática do temporário e do permanente em uma asserção em parte historiográfica e em parte mitológica, Friedländer falha em reparar que, mesmo que não fosse essa a intenção, suas palavras serviram para apoiar a ideologia dos colonos judeus israelenses nos territórios ocupados. Ele escreveu essas palavras no momento em que os colonos estavam começando uma campanha nacional para pôr em prática seu “forte vínculo” com o coração de sua terra histórica ao perguntar por que tinham direito a Tel Aviv, Jaffa e Haifa, cidades não judaicas da planície costeira, mas não às antigas Jerusalém, Hebron ou Belém.
Chaim Gans, um importante estudioso legal, ponderou sobre a questão do direito histórico em profundidade e, em uma declaração muito mais coerente com a narrativa sionista que com a justiça distributiva, por fim reduz o direito judaico ao “direito de territórios formativos” (282). Felizmente para o sionismo, seu “território formativo” não jazia no coração da Inglaterra ou no meio da França, mas sim em uma região colonial povoada apenas por árabes impotentes.
Indo contra o consenso que havia tomado forma e se aprofundado dentro da sociedade israelense, em especial após as conquistas de 1967, todos esses estudiosos sustentaram que os judeus possuem conexões com “a Terra” em sua totalidade e têm direitos nacionais na “Terra”, mas não têm direito a toda a “Terra”. Essa distinção pode ser importante, pois deriva de um senso moral de desconforto diante do controle contínuo sobre uma população que não desfruta de direitos, mas ainda não se mostrou capaz de se traduzir em políticas significativas e efetivas. O principal motivo para isso foi que a maioria dos intelectuais sionistas de esquerda posteriores não conseguiu entender que, embora as conexões religiosas não tivessem necessariamente que se traduzir em direitos, isso era necessário para os laços de posse de feição patriótica, pois tais direitos sempre se incluíram nos paradigmas de posse sobre territórios pátrios, e esses paradigmas estão profundamente embutidos em todas as pedagogias nacionais. Isso quer dizer que, no caso da cultura política israelense, a área considerada como constituinte da Terra de Israel é em última análise vista como propriedade do povo judeu, e abandonar partes dessa terra imaginária é considerado o equivalente a um dono de propriedade desistir de uma parte de seus bens de bom grado. Embora, é claro, tal cenário seja possível, a maioria das pessoas concordaria que se trata de algo raro e problemático.
A despeito do discurso racionalizante que a acompanha desde sua concepção, a colonização sionista nunca perdeu muito tempo com nuances éticas que tivessem o potencial de limitar ou de impedir por completo seu domínio sobre a terra. Como em todas as outras colonizações, as únicas fronteiras que restringiram o empreendimento sionista foram aquelas ditadas pelos limites de seu poder, não as resultantes de concessões ou de busca por um acordo pacífico com os habitantes locais. Ainda sabemos muito pouco sobre o significado de “concessão” de propriedade no pensamento sionista, o que nos leva agora a duas questões adicionais: (1) de acordo com o imaginário sionista, que porções da terra sempre pertenceram, sem dúvida, ao povo judeu?; (2) que terra a visão nacionalista julga sagrada, e essa terra já teve fronteiras concretas?
Geopolítica sionista e a redenção da Terra
O sionismo colonizador, que tomou emprestada expressão “Terra de Israel” do Talmude, não ficou lá muito satisfeito com as fronteiras fixadas pela lei judaica. Conforme já notado, as linhas que delimitavam a terra sagrada eram pequenas, estendendo-se apenas de Acre a Ashkelon. Além disso, a terra contida por essas fronteiras não era suficientemente contígua para servir de pátria nacional. Para os Olei Bavel (tradicionalmente, os “exilados” que “retornaram” da Babilônia), a Terra de Israel não incluía Gaza, Beit-She’na, Tzemah, Cesareia e outros lugares. As fronteiras da terra prometida pelo divino eram muito mais atraentes que as do organismo legal religioso e possuíam um imenso potencial de evolução para um grande país judaico, um território digno de seu nome, coerente com as vastas áreas de colonização europeia que existiam no começo do século XX.
No livro do Gênesis, está escrito: “Naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: ‘A sua prole eu dou essa terra, do rio do Egito ao grande rio, o rio Eufrates’” (15:18). Dessa maneira, os autores dos primeiros livros da Bíblia, que muito provavelmente tinham vindo da Babilônia, incorporaram parte de sua terra de origem à Terra Prometida teológica. É interessante notar que essas linhas de demarcação basearam-se em fronteiras naturais, no caso rios. E, como diferentes textos bíblicos foram escritos por diferentes autores, com diferentes imaginações territoriais, existem outras fronteiras igualmente demarcadas. No livro dos Números, Deus promete a Moisés fronteiras pouca coisa menos impressionantes: do rio do Egito (Wadi El-Arish), passando pelo atual deserto de Neguev ao mar Morto, à atual Amã e dali, em linha curva, até a montanha dos Drusos na bacia de Damasco, e então ao norte, no que hoje é a cidade libanesa de Tiro (nem sempre foi fácil identificar os locais; ver, por exemplo, Números 34:3-12). No livro de Josué, vemos de novo uma versão mais generosa: “Todo lugar que as solas de seus pés vão palmilhar eu dei a vocês, assim como prometi a Moisés. Do deserto ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Grande Mar na direção do poente, será seu território” (1:3-4). O reino imaginário de Davi e Salomão também quase corresponde à Terra Prometida, estendendo-se até a Mesopotâmia (Salmos 60:2) (283).
Quando Heinrich Graetz escreveu o primeiro livro de história protonacionalista em meados do século XIX, inventou um povo judeu no sentido moderno da palavra e localizou o nascimento desse povo em uma terra exótica e misteriosa do Oriente Médio: “Essa faixa de terra era Canaã (agora conhecida como Palestina), fazendo fronteira com a Fenícia ao sul e situada na costa do Mediterrâneo” (284). As fronteiras a que esse estudioso pioneiro se refere são obscuras e indefinidas, e assim permaneceriam por um tempo entre os sionistas que participavam dos congressos anuais na virada do século XX. Os Amantes do Sião, os primeiros colonos, também não tinham certeza sobre a extensão de sua terra sagrada.
Ao mesmo tempo, em seu Livro sobre a Terra de Israel, publicado em Jerusalém em 1883, Eliezer Ben-Yehuda, um dos inventores da nova língua hebraica, imaginou essa nova terra de acordo com as “fronteiras da Torá de Moisés”, de Wadi El-Arish a Sídon, de Sídon ao monte Hermon, e de 52 graus a 55 graus a leste, por uma área total aproximada de 33.600 quilômetros quadrados (285). Em 1897, Israel Belkind, o primeiro sionista prático, desenhou um mapa da Terra de Israel que chegava até Acre ao norte, ao deserto da Síria a leste e ao rio do Egito ao sul: “O Jordão separa a Terra de Israel em dois trechos diferentes”, afirmou Belkind, cuja avaliação foi subsequentemente adotada pela maioria dos colonos do período (286). Um sumário de geografia compilado pela associação dos primeiros professores sionistas oferece um modelo experimental para estudos da pátria baseado nas mesmas fronteiras generosas. A terra retratada é grande e larga, com um rio Jordão cheio a correr poderosamente pelo meio (287). Em 1918, ativistas sionistas deram um passo adiante na demarcação das fronteiras da Terra de Israel, dessa vez de uma forma um tanto mais científica, quando David Ben-Gurion e Yitzhak Ben-Zvi decidiram “sensata e racionalmente” mapear as fronteiras do país, que, como era de se esperar, não eram compatíveis com as fronteiras da pequena Palestina.
No que dizia respeito ao futuro fundador do Estado de Israel e seu colega, as fronteiras da promessa bíblica eram por demais extensas e indefensáveis, ao passo que as fronteiras do mandamento talmúdico eram por demais exíguas e não se adequavam à situação natural da Terra e às necessidades de uma grande nação. De acordo com os dois autores, as fronteiras desejadas da Terra de Israel deveriam ser traçadas objetivamente, de acordo com considerações físicas, culturais, econômicas e etnográficas, da seguinte forma:
A oeste – o mar Mediterrâneo […] Ao norte – o rio Litani, entre Tiro e Sídon […] Ao sul – a linha de latitude que passa em diagonal de Rafiah a Aqaba […] A leste – o deserto da Síria. A fronteira leste da Terra de Israel não deve ser demarcada de forma precisa […] À medida que o impacto destrutivo do deserto diminuir […] as fronteiras da Terra a leste serão desviadas para o leste, e a área da Terra de Israel se expandirá (288).
Em outras palavras, não é preciso dizer que a Terra de Israel incluía a margem leste do rio Jordão até Damasco e o que mais tarde seria demarcado como o Iraque, bem como a região de El-Arish (a despeito de que, conforme os autores, essa área estivesse localizada fora da “Palestina turca”). O importante aqui é notar o fato de que ambas as margens do Jordão constituem uma entidade natural indivisível. Essas fronteiras não são ideológicas ou maximalistas, afirmaram os autores, mas mais realistas e mais plausíveis para acomodar o reagrupamento do povo judeu.
Ben-Gurion e Ben-Zvi eram ambos revolucionários socialistas na época, e nesse estágio inicial de suas carreiras políticas prestavam pouca atenção à diplomacia. Por outro lado, os líderes do movimento sionista estavam muito mais apreensivos e tendiam a ser extremamente cautelosos ao expressar suas visões sobre a demarcação do Estado judaico que buscavam estabelecer. Todavia, as fronteiras esboçadas pelos dois “esquerdistas” estavam de fato localizadas bem dentro do consenso nacional em cristalização. No mesmo ano em que Ben-Gurion e Ben-Zvi escreveram seu livro, Chaim Weizmann escreveu uma carta pessoal para sua esposa na qual exprimia apoio ao estabelecimento de um Estado judaico de ambos os lados do rio Jordão. Esse Estado, que deveria cobrir 60 mil quilômetros quadrados e controlar as nascentes do rio, era o único que ele acreditava ter condições de manter a existência econômica da comunidade judaica na Palestina (289).
No memorando sionista apresentado à Liga das Nações em 1919, as reivindicações territoriais do movimento já eram largamente compatíveis com as fronteiras propostas por Ben-Gurion e Ben-Zvi um ano antes. Aqui também a terra judaica é concebida como contendo a Transjordânia, mas só até a ferrovia de Hejaz, isto é, até a linha que se estendia de Damasco a Amã (290). Quando, durante uma sessão fechada do Comitê de Ação Sionista, Weizmann foi criticado pela disposição em aceitar essas fronteiras “exíguas”, o líder, que no ano seguinte se tornaria presidente da Organização Sionista, respondeu o seguinte:
As fronteiras que propusemos nos proporcionam espaço suficiente. Vamos preencher primeiro o espaço dentro de nossas fronteiras. Será preciso uma geração de colonização judaica para chegarmos à ferrovia de Hejaz. Uma vez que a alcancemos, teremos condições de cruzá-la (291).
Em 1937, quando Samuel Klein, o pai da geografia israelense, escreveu seu influente livro A história do estudo da Terra de Israel na literatura judaica e geral, o cartógrafo que havia nele impressionou-se com o fato de a Bíblia refletir “precisão científica também na demarcação das fronteiras da Terra”. Para ele, assim como para seus leitores, era claro que a terra de Canaã era apenas o “oeste da Terra de Israel” (292), e quase todos os futuros geógrafos do Estado de Israel seguiriam essa avaliação. De fato, no ano 2000, um antigo especialista em fronteiras da Universidade de Tel Aviv ainda se sentiria confortável usando o termo “científico”, que percebia como um termo geográfico completamente profissional, não como uma expressão desnecessária de política linguística (293).
Os leitores israelenses de hoje com certeza vão achar estranho saber que, do final do século XIX até pelo menos a Guerra dos Seis Dias de 1967, a expressão “Terra de Israel” conforme usada pela tradição sionista sempre incluiu a margem leste do rio Jordão e as colinas de Golan. A lógica por trás desse entendimento era simples, e Ben-Gurion explicou-a com grande clareza:
A visão manifestada às vezes até entre sionistas de que a Transjordânia não é a Terra de Israel baseia-se em completa falta de conhecimento sobre a história da natureza do país. É sabido que o domínio dos hebreus sobre o lado leste do Jordão precedeu sua conquista do lado oeste do Jordão (294).
De acordo com o mito bíblico, 2,5 tribos de Israel assentaram-se a leste do Jordão, e Davi e Salomão também governaram lá. Portanto, da perspectiva da história judaica, essa região não era menos importante que a margem oeste do rio, para não falar dos baixios costeiros da Palestina-Canaã, que, como sabemos, não eram de especial interesse para os antigos filhos de Israel. Interesses econômicos também sugeriram o desejo de controlar as nascentes de água de ambas as margens do Jordão.
Nos primeiros estágios da imaginação territorial nacional judaica, o rio Jordão serviu não como um divisor de fronteira, mas como um curso d’água ligando duas partes de uma terra unida. Por esse motivo, a terminologia comum usada em toda literatura sionista acadêmica e política falava de uma “Terra de Israel oeste” e de uma “Terra de Israel leste”, ao passo que a “Terra de Israel Completa” constituía uma entidade geográfica única que abrangia ambas. Nesse contexto, retirar-se de qualquer parte dessa Terra era considerado uma dolorosa concessão nacional.
De fato, ainda que os primeiros esforços de colonização fossem levados a cabo na Terra de Israel oeste, relativamente mais verde e mais fértil, alguns ocorreram a leste do Jordão, principalmente no norte. De Laurence Oliphant, o primeiro cristão sionista (mencionado no capítulo anterior), a Charles Warren, outro cristão sionista ativo, e ao barão Edmond de Rothschild, alguns até atribuíram um grau de prioridade à colonização do outro lado do Jordão. Um quinto das áreas compradas pelo barão localizavam-se a leste do rio, onde a terra era mais barata e estava mais prontamente disponível, a população era menos densa, e o assentamento estrangeiro atraía menos atenção. Em 1888, um assentamento temporário havia sido estabelecido a leste do mar da Galileia por um grupo colonizador conhecido como Bnei Yehuda, e em 1891 foi feita uma tentativa de assentamento na terra a leste da montanha dos Drusos. Várias associações começaram a comprar terra, basicamente ao sul das colinas de Golan e na região nordeste do Jordão; apenas a exclusão das colinas de Golan da área sob domínio britânico em 1920 deteve as tentativas de assentamento ali. O corte da Transjordânia do Mandato Britânico da Palestina em 1922 causou grande decepção no setor sionista. O fato de que o lar nacional judaico agora não incluía as áreas a leste do rio gerou muita queixa, mas não neutralizou o apetite territorial sionista por um país grande. A suposição sionista predominante foi de que a divisão era apenas temporária e no fim seria anulada. Em 1927, uma grande usina de eletricidade foi construída em Naharayim, onde o rio Yarmuk aflui para o Jordão, e um assentamento judaico foi estabelecido ao lado. Na década de 1920, as esperanças de colonização judaica ainda não haviam desaparecido (295).
O sonho de uma ampla pátria bíblica sofreu um golpe poderoso com os violentos confrontos de 1929 e mais traumas com a eclosão da Revolta Árabe em 1936. Como resultado do levante maciço da população nativa da Palestina, o governo britânico nomeou a Comissão Peel para investigar a causa da violência e propor contramedidas. Em 1937, a despeito do grande esforço em contrário do lobby sionista, a comissão chegou à conclusão de que a Palestina tinha que ser partilhada (296).
Depois da “concessão” da “Terra de Israel leste” em 1922, a perda de grandes porções da “Terra de Israel oeste” foi considerada intolerável dentro do movimento sionista. Intelectuais proeminentes da comunidade judaica na Palestina se opuseram imediatamente. Figuras políticas importantes e facções se uniram para se opor à partilha, incluindo Menachem Ussishkin, Ze’ev Jabotinsky, Berl Katznelson, Yitzhak Tabenkin, a esquerda sionista e os sionistas religiosos. Líderes mais pragmáticos, como Ben-Gurion e Chaim Weizmann, não só pediram a aceitação da proposta de Peel, como até conseguiram convencer o XX Congresso Sionista a dar sua aprovação morna ao plano, basicamente por causa das difíceis condições encaradas pelos judeus europeus na época (297).
A lógica deles foi semelhante ao raciocínio de Herzl durante o debate sobre Uganda. Sustentaram que era melhor conseguir um pequeno Estado judaico naquele momento do que arriscar o que já havia sido alcançado por meio da colonização. Além disso, o movimento sionista não tinha muita escolha. Naquele estágio do empreendimento nacional, apenas a estreita cooperação militar e diplomática com os governantes britânicos poderia rechaçar e reprimir a rebelião da população local, que durava três anos e tinha por alvos simultâneos o poder colonial estrangeiro e a comunidade de colonizadores sionistas que se expandia sem parar.
Entretanto, isso não significou que os defensores da repartição tivessem desistido do sonho de obter o controle da Terra de Israel Completa. Quando indagado sobre as partes do país que não haviam sido incluídas na área de controle judaico, Chaim Weizmann destacou, com seu singular estilo de humor, que elas não iriam a lugar algum. Logo depois do XX Congresso, Ben-Gurion, que a essa altura era o chefe da executiva da Agência Judaica, falou à imprensa britânica:
O debate não foi a favor da indivisibilidade de Eretz Israel ou contra. Nenhum sionista pode renunciar à mais ínfima porção de Eretz Israel. O debate foi sobre qual das duas vias levaria à meta comum mais rápido (298).
No balanço geral das considerações de 1937, como seria no caso do plano de repartição das Nações Unidas uma década mais tarde, a possibilidade de se alcançar uma maioria judaica soberana era mais atraente que a efetivação a longo prazo do mito da Terra Completa. No final da década de 1930, os líderes sionistas da corrente central do movimento começaram a tomar cuidado extremo e chegaram à conclusão de que era melhor “abster-se de falar sobre mapas”. O mito da Terra continuou a guiar a política sionista e até 1967 ainda não fora substituído. Outro éthos igualmente decisivo e mobilizador limitou a meta histórica: a construção de uma nação “étnica”, vivendo em seu Estado soberano, que não corresse risco de assimilação ou integração dentro da grande massa de habitantes locais. A emigração judaica para a Palestina de início havia sido bastante modesta em comparação com a emigração em massa para o oeste. Confrontado com o subsequente extermínio dos judeus europeus, o fervor territorial sionista esfriou temporariamente, e seus líderes aprenderam a conduzir políticas mais equilibradas.
A disposição para aceitar fronteiras estreitadas foi em essência, portanto, um produto de táticas pragmáticas e flexíveis e uma operação de política “etnocêntrica” fundamental. A longo prazo, essa provou-se a estratégia mais eficiente. Desse modo, a diplomacia pode ser vista como uma mera tradução política sofisticada do princípio colonizador de “outro dunam (um dunam = mil metros quadrados), outra cabra” que havia orientado a conquista sionista da terra desde o princípio. Criar fatos consumados tem sido um princípio orientador da política sionista desde o princípio, e continua sendo até hoje.
A colonização em si teve um início lento no final do século XIX (299). Levada a cabo à sombra da ampla e mobilizadora imagem conhecida como redenção da Terra, foi, na prática, um empreendimento cauteloso, calculado, de várias fases. Como outros conceitos-chave orientadores dentro do éthos sionista – tais como a “Terra de Israel”, à qual um judeu poderia apenas “ascender” (oleh) e jamais “emigrar” –, a compra e cultivo inicial da terra são referidos por uma expressão mitificada, “redenção da terra”. Na tradição judaica, a palavra “redenção” significava salvação e renascimento, limpeza e pureza, e a liberação dos prisioneiros das mãos inimigas. Esse significado triplo injetou poder nas necessidades psicológicas dos novos imigrantes, que se tornaram mais do que meros lavradores do solo. Afinal, os pequenos burgueses, mesmo aqueles atingidos pela pobreza, nunca querem se tornar agricultores. Não: eles tinham ido redimir a terra que ficara desolada e abandonada após o exílio de seus ancestrais há cerca de 1,9 mil anos.
Os poucos colonizadores-imigrantes que chegaram à Palestina a partir dos anos de 1880 eram uma mistura de judeus tradicionais e homens e mulheres jovens saturados do populismo radical predominante na Rússia da época. Ambos os grupos costumavam invocar o termo “redenção”, junto com sua aura envolvente. No final da década de 1880, uma pequena associação conhecida como Redentores do Sião havia sido estabelecida, e o programa dos Amantes do Sião em 1887 afirmava que “a essência para redimir o país é a compra de terra [karkà] e sua redenção dos gentios” (300).
Era um projeto colonialista baseado em uma ideia de purificação.
O termo entranhou-se cada vez mais nas ondas de imigração subsequentes, em especial entre os jovens idealistas. No sionismo, a redenção do agricultor escravizado, típica do romance populista russo, foi substituída pela redenção da própria terra. Para os “pioneiros”, a terra tornou-se um foco de desejo místico e até sexual (301). A terra, portanto, era concebida como tendo estado metaforicamente vazia até a longamente aguardada chegada dos pioneiros que vieram para redimi-la. A imagem abrangente de uma terra desolada integrava o processo de redenção. A desolação significava um ambiente especial, sem fronteiras, virginal, aguardando ansiosamente o yishuv (a comunidade sionista organizada na Palestina) para penetrá-la e fertilizá-la. De acordo com essa concepção, a terra abandonada era uma combinação sombria de deserto e pântano até o momento histórico de ser adentrada pelos pioneiros (302). Ainda que camponeses “estrangeiros” estivessem vivendo na região judaica, não era provável que fizessem a terra inculta vicejar, pois eram, em essência, limitados e atrasados. Também não amavam a Terra de verdade; isso, só os sionistas eram capazes de fazer.
Para todos os líderes sionistas e a maioria dos intelectuais sionistas, era mais conveniente imaginarem-se não como conquistadores de terras estrangeiras, mas como salvadores da Terra de Israel, que sempre foi deles. Aaron David Gordon, um importante pensador do movimento operário sionista, definiu de forma efetiva esse mito ainda em evolução em 1912:
O que estamos indo fazer na Terra de Israel? Redimir (para nossos propósitos, não faz diferença se no sentido amplo ou restrito da palavra) e reviver o Povo. Essas, porém, não são duas metas separadas, mas dois aspectos da mesma coisa. A Terra não pode ser redimida sem se reviver o Povo, e o Povo não pode ser revivido sem a redenção da Terra. A compra monetária da Terra não pode ser redenção no sentido nacional se não for cultivada por judeus (303).
De 1905 em diante, a nova ênfase no valor da redenção inerente ao trabalho em si foi reflexo de uma nova geração de imigrantes socialistas. Também expressou uma crítica indireta à tendência dos habitantes das colônias apoiadas por Edmond de Rothschild, bem como outros colonizadores judeus, de empregar basicamente trabalhadores sazonais não judeus. A crítica sionista desse tipo tornou-se parte do consenso dentro da iniciativa de assentamento, e talvez aí resida o segredo de seu sucesso: a redenção não podia ser alcançada por meio do uso de mão de obra árabe.
As colonizações da era moderna acomodaram muitos tipos diferentes de controle territorial. Tempos atrás, os estudiosos dividiram a colonização europeia em uma série de categorias: colônias de ocupação de um exército conquistador (Índia e grandes porções da África, por exemplo), colônias mistas de colonizadores e nativos (América Latina), colônias de plantio (sul dos Estados Unidos, África do Sul, Argélia e Quênia) e colônias de assentamento “étnicas” puras (os puritanos no nordeste dos Estados Unidos, os britânicos na Austrália e Nova Zelândia). Claro que esses são apenas arquétipos. Na realidade, os modelos não eram absolutos, e havia muitos casos intermediários (304).
A colonização judaica da década de 1880 começou como uma mistura do modelo de plantio e do modelo puro. Os primeiros moshavot (hebraico para “colônias”, e nome dos primeiros assentamentos estabelecidos na Palestina), de início, abstiveram-se de se integrar com a população local, mas rapidamente foram forçados a contar com ela de maneira crescente. Em certos aspectos, o processo de assentamento sionista lembrou várias fases da colonização europeia da Argélia, que já estava em andamento nesse período. Por esse motivo, o barão de Rothschild conseguiu encaixar-se nos planos com relativa facilidade, e, embora a assistência financeira por ele fornecida de início tenha salvo a existência dos assentamentos judaicos, mais adiante ele condicionaria o financiamento a racionalização e produtividade, forçando com isso que se tornassem lucrativos. Essas medidas deixaram certos setores do cultivo agrícola dependentes de mão de obra barata, que os “nativos” podiam fornecer e com os quais os “pioneiros” não conseguiam competir. Como resultado, números significativos de colonos foram forçados a deixar a Palestina e emigrar para países do Ocidente.
No fim, a solução foi a nova onda de jovens imigrantes radicais, que de fato eram elementos dos círculos radicais expulsos pela força centrífuga da Revolução Russa de 1905. Durante essa onda de imigração, compreendeu-se que a redenção da terra tinha ser combinada com a conquista da mão de obra. Isso levou ao surgimento de um modelo de colônia pura que, por um lado, baseava-se no mito etnocêntrico e, por outro, exprimia a necessidade econômica básica da promoção da colonização.
Gershon Shafir, sociólogo nascido em Israel que vive e trabalha nos Estados Unidos, foi o primeiro a analisar de forma efetiva e discutir com clareza e em grande detalhe os atributos dessa nova e original forma de assentamento (305). Somado ao éthos comunal-coletivista que os imigrantes levaram consigo a partir da borrasca revolucionária na Rússia, o modelo prussiano implementado na Alemanha durante a segunda metade do século XIX desempenhou papel importante. O governo do Segundo Reich, para coibir a emigração de agricultores de língua alemã para as cidades dos Estados Unidos e sua gradativa substituição por agricultores poloneses, começou a financiar o assentamento de “mais” lavradores “alemães” nas regiões etnicamente “ameaçadas”.
O sociólogo judeu alemão Franz Oppenheimer aprendeu com essa experiência histórica. Após visitar a Palestina em 1910, foi contagiado pelo entusiasmo a respeito da “nova raça de senhores judeus” que estava surgindo na Palestina e era capaz de se portar de forma agressiva com os árabes (306). E, como a Organização Sionista carecia dos meios desfrutados pelos governantes alemães, ele recomendou aos colegas sionistas que adotassem o modelo de assentamento etnocomunal, que considerava a solução geral para as contradições do capitalismo desenfreado no mundo inteiro.
Tendo como pano de fundo o impasse do movimento sionista no período em questão, o projeto nacional-cooperativo pioneiro de Oppenheimer foi calorosamente recebido. Instituições sionistas rapidamente adotaram a ideia de se ter grupos comunais de colonos. A despeito dos fracassos iniciais, essa prática começou sua lenta evolução rumo à estrutura de assentamento que mais tarde viria a ser conhecida como movimento kibutz. O kibutz – o coroamento da redenção da terra – não foi produto apenas do idealismo igualitário que os jovens colonos levaram consigo da Rússia e que forneceu combustível psicológico para sacrifício e esforço. Foi também um produto histórico engendrado por duas necessidades econômicas locais: (1) a necessidade de se criar um setor de produção fechado ao mercado de mão de obra competitiva (isto é, aos trabalhadores árabes mais baratos); e (2) a necessidade de assentamento coletivo na terra, em um contexto em que a instalação baseada em famílias nucleares era particularmente difícil de se manter (devido à relativamente densa e com frequência hostil população local).
O modelo de Oppenheimer funcionou. Para começar, a terra do kibutz não era privada, mas pertencia ao Fundo Nacional Judaico (Keren Kayemeth le-Israel), da Organização Sionista Mundial, e era, portanto, propriedade da “nação”. Não podia ser vendida, e podia ser arrendada apenas para judeus. Em 1908, um gabinete sediado em Jaffa, conhecido como Escritório da Palestina, agente da Organização Sionista, começou a atuar como entidade responsável pela compra da maior parte da terra. Arthur Ruppin, um homem talentoso, resoluto e, muito mais que qualquer outro líder sionista, responsável pelo crescimento dos ativos rurais da “nação”, foi nomeado chefe da nova instituição (307).
Depois da Primeira Guerra Mundial, e em especial após o estabelecimento da Federação Geral de Trabalhadores Judaicos na Terra de Israel, ou Histadrut, em 1920, o movimento kibutz, que sempre consistiu de uma minoria seleta da população judaica, tornou-se a ponta de lança da jovem sociedade colonizadora. O papel do kibutz como o mais dinâmico redentor da terra conferiu-lhe um status hegemônico que se manteria nas décadas vindouras, mesmo depois do estabelecimento do Estado de Israel, e seu papel na segurança, como um baluarte militar em zonas de fronteira, aumentava-lhe o status de elite. Até a guerra de 1967, a nata da elite política, cultural e militar judaica do país provinha do kibutzismo e defendia habilmente os feitos do movimento. Entretanto, após cumprir seu papel histórico, essa forma de assentamento foi parar na lata de lixo da história. Os novos assentamentos estabelecidos depois de 1967 se baseariam em um tipo de ideologia diferente e na assistência financeira do governo.
É importante lembrar que não só a terra, uma vez comprada para a nação judaica, não podia tornar-se propriedade não judaica, como também que o kibutz, com seu estilo de vida igualitário, não aceitava membros da população local em suas fileiras. Ou seja, sob nenhuma circunstância um árabe podia entrar para um kibutz. E, mais adiante, quando alguma mulher de um kibutz desejava viver com um israelense palestino, em geral era forçada a deixar a coletividade pioneira (308). Nesse sentido, o socialismo comunal sionista funcionou como um dos mecanismos mais efetivos para a manutenção de uma sociedade colonizadora pura, não só por meio de suas práticas exclusivas, mas também como um modelo moral para a sociedade como um todo.
A luta para excluir a mão de obra árabe do mercado de trabalho sionista não se restringiu à criação de coletividades produtoras cooperativas. Todos os outros assentamentos que foram estabelecidos – tanto agrícolas quanto urbanos – também eram exclusivamente para judeus. Somada a essa política intencional de segregação, teve início uma intensa campanha política/ideológica, executada sob o slogan “trabalho hebreu” (avoda ivrit), em todos os setores produtivos da comunidade sionista. Empregadores de todos os segmentos da economia sentiram a forte pressão para evitar a contratação de árabes independentemente das circunstâncias. Exatamente nos mesmos anos em que a propaganda na Alemanha pedia a demissão dos judeus de seus postos e o fechamento de lojas judaicas (Juden raus!), o Mandato da Palestina era palco de uma abrangente campanha pública sionista contra toda interação econômica com a população local. Em ambos os casos, as campanhas foram mais eficientes do que o esperado. Como resultado, muitos novos imigrantes judeus chegaram à Palestina na década de 1930, onde àquela altura haviam surgido dois mercados econômicos quase completamente separados: um judaico, outro árabe (309).
O grosso do esforço foi conduzido pelo Histadrut, uma organização destinada exclusivamente aos judeus (que abriu suas portas para os israelenses palestinos apenas em 1966). O Histadrut não era um simples sindicato operário: era uma estrutura toda-abrangente que estabeleceu e mantinha uma ampla variedade de empreendimentos, dirigia obras públicas, fornecia serviços médicos e bancários, e também atuava em outras atividades. Conhecido como Sociedade dos Trabalhadores (Hevrat ha- Ovdim), o Histadrut operou como base de poder da esquerda sionista até o final da década de 1970 e com o passar do tempo evoluiu para uma espécie de Estado dentro do Estado.
É importante lembrar que essa ala esquerda – tanto a federação operária quanto a esquerda política
– não veio a existir por meio do mesmo processo que originou a esquerda europeia, ou seja, do conflito entre capital e trabalho. Ela nasceu, isso sim, das necessidades da “conquista da Terra” e da construção de colônias nacionais puras. Por esse motivo, nunca surgiu um movimento social-democrata de base ampla na classe trabalhadora dentro da comunidade sionista ou subsequentemente em Israel. A moralidade da esquerda sionista sempre foi puramente intragrupo e, portanto, sempre pôde abraçar franca e desinibidamente a moralidade bíblica. Na verdade, a esquerda sionista nunca teve uma tradição de universalismo profundamente arraigada, e isso, entre outras coisas, ajuda a explicar a rapidez com que se livrou de todos os valores de igualdade social quando sua hegemonia se extinguiu perto do final do século XX.
A colonização sionista foi um processo singular de colonização por ter sido executada por um movimento nacional que de início não dependia política e economicamente de um país materno imperialista (310). Até 1918, obteve sua base de operações na Terra sem a assistência de autoridades locais e, às vezes, a despeito de sua oposição. Embora o Mandato Britânico tenha criado uma proteção política e militar que facilitou e abrigou a expansão da comunidade sionista na Palestina, essa proteção teve limitações significativas. O principal impulso por trás da colonização sionista também diferiu de outros projetos colonizadores no fato de o ganho econômico não ser a motivação primária. A terra palestina era cara e, quanto mais o movimento sionista comprava, mais o preço subia. A compra de terra também foi singularmente problemática comparada a outros empreendimentos coloniais. Certas partes de terreno, conhecidas em árabe como mush, não eram realmente propriedade privada; eram cultivadas em cooperativa por uma coletividade aldeã. As propriedades disponíveis para compra eram, na maioria, grandes fazendas de efêndis ricos que viviam em outros lugares, e comprar a terra deles exigia a expulsão dos inquilinos que até então a haviam cultivado e morado ali. De fato, foi isso que aconteceu na prática, conforme descrito vividamente no ensaio de Yitzhak Epstein, que em 1907 advertiu o movimento sionista sobre os perigos envolvidos na desapropriação.
A furtiva reforma agrária ocorrida na Palestina entre 1882 e 1947 teve o mesmo efeito geral de reformas semelhantes em outras partes do mundo: a transferência da posse da terra de poucos para muitos. Entretanto, na Palestina, esse fluxo da propriedade rural foi da comunidade nativa para a comunidade assentada. Com base nisso, 291 prósperos assentamentos judaicos agrícolas estavam estabelecidos em 1947. Todavia, devemos lembrar que, por volta de 1937, as instituições sionistas haviam comprado apenas 5% de toda a terra cultivável privada do Mandato da Palestina, que se concentrava na maior parte na planície costeira e nos vales do interior. Na época em que a partilha foi oficialmente endossada pelas Nações Unidas, em novembro de 1947, apenas 11% de toda a terra do país, e 7% de toda a terra cultivada, havia passado à posse judaica.
Às vésperas da aprovação da resolução de partilha das Nações Unidas, David Ben-Gurion escreveu as seguintes frases em seu diário pessoal:
O mundo árabe, os árabes da Terra de Israel com a ajuda de um, alguns, ou possivelmente todos os países árabes […] provavelmente vão atacar o yishuv […] Devemos […] defender o yishuv e os assentamentos e conquistar toda ou uma grande fatia da Terra, e manter a ocupação até a efetivação de uma política de assentamento autorizada (311).
Embora a antevisão pragmática do estadista nesse caso fosse muito mais aplicável à realidade pós-1967 do que pós-1948, a guerra do final da década de 1940 e a política agrária israelense implantada em seu rastro provocaram a completa transformação das relações de posse da terra no país.
Do assentamento interno à colonização externa
A comunidade sionista ficou radiante com a resolução de 1947 referente à divisão da Palestina e ao estabelecimento de um Estado judaico. Meros dois anos haviam se passado desde o fim do massacre épico dos judeus europeus, e dezenas de milhares de refugiados aos quais fora negada permissão para emigrar ainda viviam em acampamentos temporários, a maioria na Alemanha (o autor deste livro nasceu e passou os primeiros anos de sua vida em um desses campos). Os países ocidentais acharam conveniente livrar-se dos refugiados judeus canalizando-os para o Oriente Médio. Era chegada a oportunidade do sionismo, que estava estagnado. A despeito da brutal perseguição antijudaica que caracterizou o período, apenas meio milhão de imigrantes chegaram à Palestina entre 1924, quando os Estados Unidos praticamente fecharam as portas à imigração, e 1947, quando o número de judeus no Mandato da Palestina atingiu aproximadamente 630 mil. Na mesma época, a população árabe do país totalizava mais de 1,25 milhão.
Embora em retrospecto não tenha se revelado o melhor para eles, a recusa dos árabes em apoiar a repartição de seu país e reconhecer o Estado judaico era lógica e compreensível. Muito poucas populações do mundo teriam concordado em ser colonizadas por estrangeiros famintos por terra que lentamente adquiriam porções de seu território, que não estavam dispostos a viver junto com elas e aspiravam estabelecer sua própria nação-Estado. Além disso, a partilha das Nações Unidas concedeu apenas 45% da faixa de terra do Mandato da Palestina para seu 1,25 milhão de habitantes “nativos”, enquanto à população colonizadora foi alocada 55% da terra. Embora parte da área judaica consistisse de deserto, parecia claro, baseado na relação demográfica entre árabes e judeus na época, ser improvável que a repartição fosse considerada justa por aqueles que ela discriminava.
Igualmente absurdo da perspectiva dos veneráveis habitantes da Palestina era o fato de que, pelo plano original das Nações Unidas, os grandes latifúndios de cerca de 400 mil árabes, ou aproximadamente um terço da população árabe da Palestina, teriam acabado dentro das fronteiras do Estado judaico proposto. É uma ironia da história que, não fosse pela guerra de 1948, na verdade iniciada por líderes árabes, o recém-estabelecido Estado de Israel deveria incluir uma grande minoria árabe que teria adquirido força com o passar do tempo, por fim opondo-se à natureza isolacionista do Estado judaico e possivelmente até à sua própria existência. Parece improvável que o novo Estado pudesse iniciar grandes expulsões em massa sem conflito militar. Também parece improvável que centenas de milhares de habitantes árabes tivessem fugido se não fosse por causa das ferozes batalhas.
Durante anos, a retórica sionista tentou convencer o mundo em geral e os defensores do sionismo em particular que os árabes da Palestina haviam fugido em reação à propaganda de seus líderes. Entretanto, desde a publicação dos estudos de Simba Flapan, Benny Morris, Ilan Pappé e outros (312), sabemos que não foi esse o caso – os líderes da população local não recomendaram sua partida, e a Nakba (o êxodo palestino decorrente da guerra de 1948) com certeza não foi executada por conselho dos líderes árabes. Muitos palestinos fugiram por medo, e as forças judaicas usaram uma variedade de métodos para encorajá-los a fazer isso (para melhor entendimento desse processo, ver o posfácio deste livro). Muitos foram carregados em caminhões e levados para o mais longe possível. No total, mais de 400 aldeias foram destruídas e perto de 700 mil habitantes – mais que toda a população judaica do país na época – tornaram-se refugiados sem-teto.
O debate que se desenrolou há poucos anos, focado em determinar se a maioria dos palestinos escolheu ir embora “de modo voluntário” ou de fato foi expulsa é importante, mas, na minha opinião, não tem importância decisiva. O debate quanto à “limpeza étnica” ser sistemática ou apenas espontânea e parcial também é importante da perspectiva da história e da propaganda, mas é menos relevante que a premissa ética fundamental de que as famílias foragidas das balas sibilantes e dos bombardeios têm reconhecido o direito humano básico de retornar para suas casas uma vez cessadas as hostilidades. Todavia, é amplamente sabido (e sobre esse ponto não existe debate acadêmico) que, desde 1949, Israel recusou-se terminantemente a permitir a volta dos refugiados, embora a maioria não tenha tomado parte na luta (313). Somada à recusa categórica, o jovem Estado de Israel rapidamente aprovou a Lei do Retorno de 1950 – uma lei que permite a todos que comprovem ser judeus emigrar para Israel e receber cidadania plena e imediata, mesmo que sejam cidadãos plenos em seus próprios países e não tenham sido perseguidos por causa da religião ou da origem étnica. Além disso, mesmo que subsequentemente decidam retornar para o país de origem, esses imigrantes judeus do Estado de Israel não têm os direitos confiscados na sua “pátria histórica”.
Durante a guerra de 1948, o jovem Estado também conseguiu modificar de modo significativo as fronteiras atribuídas pela resolução das Nações Unidas. Os territórios recém-ocupados não foram devolvidos com a assinatura do tratado de armistício, e sim, em vez disso, imediatamente anexados. Nesse contexto, é importante lembrar que, embora as instituições sionistas aceitassem a ideia da repartição e do estabelecimento do Estado de Israel, não por acaso suas fronteiras não são mencionadas em sua Declaração de Independência. Ao final da guerra de 1948, Israel controlava 78% do Mandato da Palestina, ou da “Terra de Israel oeste” (314). Contudo, mais importante que a expansão de suas fronteiras, foi o “desaparecimento” dos árabes – o verdadeiro milagre que o novo país estava esperando, ainda que não tivesse sido realmente planejado.
A despeito da fuga e expulsão de 700 mil palestinos, 100 mil milagrosamente conseguiram permanecer no local ao longo de toda a guerra, e uns outros 40 mil voltaram para suas casas durante a implementação dos acordos de armistício ou tiveram êxito em cruzar a fronteira de volta pouco depois. Esses árabes “afortunados”, que haviam se tornado uma minoria em seu próprio país da noite para o dia, receberam cidadania israelense conforme exigido de forma explícita pela resolução de partilha das Nações Unidas, mas a maioria foi forçada a viver sob um sistema estrito de governo militar até o final de 1966. Separados da população judaica imigrante, que continuou a se expandir, foram isolados em uma zona de assentamento da qual só era permitido que saíssem após receber autorização dos militares. Seus movimentos eram restringidos, e as chances de encontrar emprego longe de casa tornaram-se ínfimas. Esse estado de coisas, somado à legislação israelense, que proíbe especificamente casamentos civis entre pessoas classificadas como judias e não judias, permitiu ao Estado sionista continuar sua bem-sucedida implementação da política de colonização “étnica” pura (315).
Como as hostilidades da guerra de 1948 continuaram, os kibutzim apoderaram-se espontaneamente dos campos abandonados de seus antigos vizinhos árabes que haviam fugido ou sido expulsos de suas casas e aldeias, e suas abundantes safras foram colhidas por seus novos lavradores. Israel estabeleceu assentamentos fora das fronteiras do plano de repartição antes mesmo do final da guerra e, em agosto de 1949, já existiam 133 desses assentamentos. Pouco depois teve início a nacionalização maciça da propriedade de “ausentes” – uma classificação legal aplicada não só a refugiados externos, mas a muitos árabes palestinos que permaneceram em Israel como cidadãos e que por isso vieram a ser referidos pela paradoxal expressão “ausentes presentes”. Por meio da Lei de Propriedade de Ausentes de 1950, o Estado desapropriou cerca de dois milhões de dunams, representando aproximadamente 40% de toda a terra árabe de posse privada. Ao mesmo tempo, o Legislativo israelense adotou medidas para garantir a transferência legal de toda a terra estatal do Mandato Britânico da Palestina (somando 10%) para o Estado de Israel. No todo, essas ações resultaram na desapropriação de dois terços da terra que pertencia aos palestinos israelenses. No final do século XX, quando constituíam 20% da população israelense, os palestinos israelenses detinham apenas 3,5% da terra dentro das fronteiras pré-1967 de Israel (316).
Depois de 1948, a “redenção da terra”, a “drenagem dos pântanos” e o “fazer o deserto florescer” ficaram imbuídos de novo incentivo e ímpeto, e eram agora administrados por autoridades estatais soberanas. Parte da terra foi transferida a preços simbólicos para a Agência Judaica e o Fundo Nacional Judaico, ambos organismos extraterritoriais cujos estatutos proibiam que transferissem terra para não judeus. Dessa maneira, uma porção considerável da terra desapropriada tornou-se propriedade que não pertencia aos cidadãos do novo Estado, mas sim dos judeus do mundo. Ainda hoje, 80% da terra de Israel não pode ser comprada por não judeus (317).
“Judaização do país” substituiu gradativamente a “redenção da terra” como novo lema e tornou-se consenso tanto na esquerda quanto na direita sionista. Mais tarde, a expressão “judaização da Galileia” adquiriu popularidade devido à firme maioria árabe que continuava a povoar a região. Como a população de Israel triplicou de 1949 a 1952 em consequência da imigração em massa após o estabelecimento do Estado, as autoridades tiveram condições de povoar as terras com dezenas de milhares de novos cidadãos judeus. Os kibutzim, moshavim e, em menor grau, as cidades planejadas, receberam grandes porções de terra de graça. Em 1964, haviam sido estabelecidos 432 novos assentamentos, incluindo 108 kibutzim (318). A maioria dos kibutzim foram estabelecidos em “zonas limítrofes” ao longo das fronteiras a fim de impedir o movimento transfronteiriço de refugiados árabes (a quem o jargão israelense do período chamava de infiltrados) tentando retornar a suas aldeias ou recuperar algo de sua propriedade perdida. Um número significativo também cruzou a fronteira para se vingar dos desapropriadores. Apenas em 1952, 394 “infiltrados” foram mortos, e um grande número de novos colonizadores foram feridos. Os refugiados palestinos acharam difícil aceitar a fronteira que os separava de suas casas e campos. Para muitos israelenses, a fronteira também não era nítida.
Nas duas décadas anteriores a 1967, Israel pareceu ter aceitado as linhas do armistício demarcadas em 1949 como suas fronteiras finais. O grande desejo do movimento sionista de alcançar a soberania havia sido preenchido tanto na teoria quanto na prática. O Estado de Israel fora reconhecido pela maioria dos países, ainda que não pelos vizinhos árabes, e a maciça emigração judaica para o novo país tinha continuado sem parar desde a década de 1950. No mesmo período, o Estado teve êxito em levar para Israel sobreviventes do Holocausto que não tiveram permissão para emigrar para os Estados Unidos, bem como uma grande parcela de judeus árabes rapidamente enxotados dos países árabes como resultado do conflito com Israel e do surgimento do nacionalismo. Nesse ínterim, a imensa energia investida na organização econômica e cultural da nova sociedade, junto com a necessidade de concluir o povoamento dos 78% do Mandato Britânico da Palestina sob controle israelense, refreou o surgimento de um irredentismo empenhado na busca da apropriação da Terra de Israel ancestral em sua totalidade. Com exceção dos membros do movimento jovem Betar da direita sionista, que continuaram na cantoria fervorosa do refrão “o Jordão tem duas margens, esta é nossa, e a outra também”, de Ze’ev Jabotinsky, a pedagogia nacional não empregou retórica explícita sugerindo a aspiração de romper e expandir as fronteiras do Estado de Israel. Os primeiros 19 anos do Estado pareceram ter facilitado a consolidação de uma nova cultura israelense com o patriotismo focado muito mais na linguagem, cultura e território já povoado por judeus.
Mas, ao mesmo tempo, não se deve esquecer que em todas as escolas estatais os estudos da Bíblia desempenharam papel principal em moldar a imaginação territorial nacional de todas as crianças israelenses, exceto as dos segmentos árabe e judaico ultraortodoxo. Todo estudante sabia que Jerusalém, a cidade de Davi, foi conquistada pelos árabes; todo graduado do sistema de educação israelense tinha conhecimento do fato de que a Caverna de Machpela, onde seus supostos antepassados estavam sepultados, era agora uma mesquita islâmica. Uma prática prevalente nos livros escolares de geografia era a tendência de obscurecer as linhas do armistício e em vez delas enfatizar as “amplas fronteiras físicas” da pátria histórica (319). Embora não se traduzisse na propaganda política cotidiana, a Terra de Israel mítica continuou a habitar os interstícios da consciência sionista.
A população israelense em geral não percebeu as linhas do armistício como constituindo as fronteiras finais do Estado israelense. Somada à direita sionista, que nunca parou de sonhar com uma Israel de grande escala, e o partido de esquerda sionista Ahdut Ha’avodah, cujo apetite por terra nunca diminuiu (320) também havia uma divisão de gerações que foi astutamente ressaltada pela socióloga Adriana Kemp (321). A geração de israelenses nativos que cresceram no Mandato da Palestina nas décadas de 1920 e 1930, em uma atmosfera formada em parte pela experiência de assentamento em curso, teve uma dinâmica psicológica de recusa em reconhecer as limitações e obstáculos territoriais. Jovens israelenses, talvez mais proeminentemente representados por Moshe Dayan e Yigal Alon, adotaram o que se poderia chamar de nacionalismo etnoespacial. Durante a guerra de 1948, esses israelenses foram os melhores combatentes e mostraram-se excelentes comandantes, mas também foram notavelmente irrefreáveis e determinados na evacuação geral das aldeias árabes.
Essa geração de combatentes ficou descontente com os acordos do armistício de 1949 e sentiu que, caso tivesse recebido permissão para fazê-lo, as jovens Forças de Defesa de Israel teriam continuado a avançar pela pensínsula do Sinai e conquistado a Margem Oeste com facilidade (322). De fato, durante a década de 1950, ex-soldados de combate cruzavam a fronteira em atos de aventureirismo que desafiavam os limites “exíguos e artificiais” do país. Fazer caminhadas noturnas até a cidade nabatiana de Petra tornou-se moda para muitos jovens israelenses, e aqueles entre eles que foram abatidos surgiram como heróis culturais da noite para o dia (323). E, em reação às travessias de fronteira por “infiltrados” palestinos, as Forças de Defesa de Israel estabeleceram a Unidade 101 sob o comando de Ariel Sharon, uma unidade que cruzava as fronteiras sem hesitar e atacava aldeias e acampamentos suspeitos de servir de bases palestinas. Muitos novos israelenses consideravam as fronteiras mais como zonas limítrofes flexíveis do que como limites permanentes e inequívocos (324).
Entretanto, foi a Guerra do Sinai de 1956 que expôs alarmantes camadas de imaginação territorial que não haviam vindo à tona na política israelense em tempos de paz. A nacionalização do canal de Suez pelo líder egípcio Gamal Abdel Nasser levou a uma coalizão armada composta por Grã-Bretanha, França e Israel, com o objetivo de invadir o Egito e derrubar o regime. Foi um reflexo colonial padrão, que Israel julgou adequado usar sob o pretexto de que sua participação impediria infiltrados de penetrar em seu território.
Um encontro preparatório ocorreu em 1956 no subúrbio parisiense de Sèvres, com a presença do primeiro-ministro israelense David Ben-Gurion, do primeiro-ministro francês Guy Mollet e do secretário de Relações Exteriores britânico John Selwyn Lloyd. Ben-Gurion apresentou um ousado plano para reorganizar o Oriente Médio: após a vitória militar, o reino hachemita da Jordânia seria dividido em dois, com o Iraque, então pró-britânico, recebendo a Margem Leste em troca da promessa de ali reassentar os refugiados palestinos, e Israel recebendo a Margem Oeste como uma região semiautônoma. Além disso, reivindicou Ben-Gurion, Israel teria permissão para mudar sua fronteira norte para o rio Litani e anexar o estreito de Tiran e o golfo de Eilat em sua totalidade (325).
O fundador do Estado israelense não voltou às concepções territoriais de 1918. Agora Ben-Gurion estava sinceramente pronto para ceder o leste da Transjordânia. Entretanto, sua nova visão também refletia uma mudança a respeito da península do Sinai ao sul: em sua juventude, esse ativista sionista socialista não havia considerado a área ao sul de Wadi El-Arish como parte da Terra de Israel. Não foi coincidência, durante sua viagem a Paris em 1956, ele ter passado algum tempo lendo referências históricas feitas pelo geógrafo bizantino Procópio sobre um reino judaico na ilha de Tiran conhecido como Yotvat.
A rápida vitória militar da coalizão na península do Sinai injetou vida e vigor renovados no líder israelense de 70 anos de idade, que demonstrou publicamente que sua ânsia por território não havia se dissipado com a velhice. Em uma carta para a brigada das Forças de Defesa de Israel que conquistou Sharm el-Sheikh, ele escreveu: “Eilat será outra vez o principal/primeiro porto judaico ao sul […] E Yotvat, [hoje] chamado Tiran […] será outra vez parte do Terceiro Reino/Comunidade Israelense [i.e., judaico]” (326). Assim como havia considerado a anexação de território conquistado fora das fronteiras do plano de repartição uma ação nacional “natural” em 1948, o apaixonado primeiro-ministro israelense agora retratava a conquista da península do Sinai como a liberação de regiões autênticas da pátria. Cada vez que surgia um contexto internacional em que o sonho territorial pudesse ser ligado ao poder, a “Terra de Israel” voltava ao cenário central e de novo tornava-se o foco de trabalho pragmático.
Em 14 de dezembro de 1956, apenas dois meses depois do fim da luta, o primeiro assentamento israelense foi estabelecido em Sharm el-Sheikh. Foi chamado de Ofira, significando “rumo a Ofir”, uma região mencionada na Bíblia hebraica (327). As Forças de Defesa de Israel já haviam começado a se retirar de partes da península do Sinai, mas seu chefe do Estado-Maior, Moshe Dayan, que iniciou o projeto, permaneceu convencido de que era possível estabelecer-se ao longo das margens do mar Vermelho. O primeiro-ministro foi visitar a nova aldeia de pescadores, onde proferiu um discurso sobre colonização judaica, ativando a esperança de implantação de assentamentos adicionais ao longo da costa.
Um segundo assentamento foi instalado no mesmo período em Rafiah, no sul da Faixa de Gaza. Soldados da brigada Nahal (Juventude Pioneira Combatente) das Forças de Defesa de Israel instalaram-se em um acampamento do exército abandonado e começaram a arar mil dunams. A meta era estabelecer uma cadeia de assentamentos o mais rápido possível para interceptar a faixa da península e transformá-la em território israelense. Também havia o plano de fazer um grupo do movimento Hashomer Hatzair estabelecer uma vila de pescadores nas praias de areia branca da região. Dayan era responsável pela execução das medidas práticas da operação de assentamento, e nisso recebeu pleno respaldo de seu eterno rival político, Yigal Alon. Em dezembro de 1956, Alon, o promissor jovem líder da esquerda sionista, declarou confiante:
Se estivermos verdadeiramente decididos a defender Gaza […] estou certo de que a cidade de Samson permanecerá uma cidade israelense, parte do Estado de Israel. Essa política é coerente com nosso direito histórico à Faixa, nosso interesse em nossa existência e o princípio que nos guia – o princípio da inteireza da Terra (328).
Mas a primeira iniciativa de assentamento fora das linhas do armistício de 1949 logo recebeu um golpe mortal. Uma resolução das Nações Unidas pedindo a retirada de toda a península do Sinai, combinada com a pressão norte-americana e soviética, pôs fim às esperanças de Ben-Gurion e seus jovens colegas de estabelecer o “terceiro reino israelense”. Além disso, a repentina retirada compulsória esfriou o entusiasmo de Israel por anexações, e seus líderes, parecendo ter aprendido a lição, começaram a restringir os ímpetos de colonização até então característicos da ação estatal. Embora as fronteiras de Israel possam não ter sido completamente pacíficas nos anos 1957-1967, Israel pôs fim ao regime militar imposto a seus cidadãos árabes, e uma atmosfera de normalização impregnou sua presença no Oriente Médio. O fato de nesse período Israel ter entrado para o grupo dos países detentores de armas nucleares também pode ter contribuído para um maior sentimento de segurança e calma entre a elite política e militar de Israel.
“De todas as guerras árabe-israelenses, a guerra de junho de 1967 foi a única que nenhum lado quis. A guerra resultou de uma degeneração da crise que nem Israel, nem seus inimigos foram capazes de controlar” (329). Essa caracterização concisa foi escrita por Avi Shlaim, um estudioso do conflito árabe-israelense. Poderíamos apenas acrescentar que, a despeito da visão então prevalente de que Nasser não era a favor da guerra e os generais das Forças de Defesa de Israel desempenharam um papel indireto na causa da deflagração, é difícil refutar a conclusão de que o líder egípcio foi o principal responsável pela crise. Embora seja verdade que, no final da guerra de 1956, o Egito, embora inocente de qualquer crime, tenha sido punido ao ser forçado a desmilitarizar a península do Sinai e aceitar a implantação de uma força internacional de emergência no local, tal punição não serve de justificativa histórica para o discurso bélico (ainda que vazio) transmitido pelos meios de comunicação egípcios. Nasser caiu em uma armadilha que ele mesmo havia montado e que as Forças de Defesa de Israel mostraram-se peritas em explorar (330).
Em 1967, aos 19 anos de idade, Israel pode ter alcançado uma assombrosa vitória militar, mas, como resultado, caiu em uma armadilha ainda maior. Israel não começou a guerra, nem planejou conquistar as partes da Terra de Israel que havia “perdido” em 1948 (mesmo que sempre tenha havido planos de contingência para tal possibilidade), todavia não foi surpresa ter êxito na conquista. A alegria da vitória de Israel intoxicou muitas pessoas, imbuindo-as da profunda sensação de que agora qualquer coisa era possível. A mentalidade de cerco oriunda das linhas do armistício – ou “fronteiras de Auschwitz”, como dizem que o ministro de Relações Exteriores israelense Abba Eban chamou-as – foi substituída por sonhos de espaço, um retorno a antigos cenários, elevação espiritual e a imagem de um império judaico lembrando o reino de Davi e Salomão. Um grande segmento da população israelense sentiu que enfim havia obtido as partes da pátria para as quais a visão sionista, quase desde o princípio, havia dirigido a imaginação nacional. De fato, já em 1967, o governo israelense emitiu uma ordem ao Departamento de Cartografia de Israel para não mais marcar as linhas do armistício de 1949 – “a linha verde” – nos mapas do país. Dali em diante, os alunos das escolas de Israel pararam de aprender sobre as anteriores fronteiras “temporárias” do país.
Logo após a conquista de Jerusalém Oriental e antes mesmo de a guerra acabar, Moshe Dayan declarou: “Retornamos aos nossos locais mais sagrados. Retornamos a fim de nunca mais nos separarmos deles. Especialmente nessa hora, estendemos a mão em paz aos nossos vizinhos árabes” (331). Não deveria ser surpresa, portanto, que em 28 de junho, dada a atmosfera hipnótica e eufórica, o Knesset israelense votasse pela anexação de Jerusalém Oriental e da área circunjacente, e ao mesmo tempo anunciasse a intenção de empenhar-se pela paz e por negociações diretas com todos os inimigos em troca da retirada dos territórios na península do Sinai e nas colinas de Golan. Hoje é difícil imaginar como figuras israelenses sensatas possam ter pensado que os líderes árabes, humilhados pela derrota, concordariam em dar início a conversas de paz sinceras com Israel à luz da imediata anexação oficial da Al-Quds árabe e muçulmana pelo “Estado judaico”. Todavia, foi essa a lógica israelense sionista que prevaleceu no verão de 1967. Em grande medida, essa lógica parece estar em vigor até hoje (332).
Em setembro de 1967, poucos meses depois do fim da guerra, foi publicado o “Manifesto pela Terra de Israel Completa”. Os signatários consistiam basicamente de figuras associadas ao movimento operário israelense, mas também incluíam nomes da direita sionista. No documento, alguns dos maiores intelectuais israelenses da época declararam formalmente: “A Terra de Israel agora é possuída pelo povo judeu […] temos obrigação legal para com a integridade de nossa Terra, e nenhum governo de Israel tem o direito de ceder essa integridade” (333). Poetas como Nathan Alterman, Haim Gouri, Yaakov Orland e Uri Zvi Grinberg uniram-se para promover a integridade territorial da pátria. Autores proeminentes como Shai Agnon (S. Y. Agnon), Haim Hazaz, Yehuda Borla e Moshe Shamir juntaram-se a figuras da segurança e militares como o ex-chefe do Mossad Isser Harel e o general Avraham Yoffe em um esforço para impedir que os políticos israelenses recuassem. Até mesmo professores altamente louvados, ganhadores de prêmios, como Dov Sadan e Harold Fisch forjaram uma aliança com ex-combatentes do Levante do Gueto de Varsóvia, tais como Yitzhak Zuckerman e Zivia Lubetkin, para encorajar o assentamento em todas as partes da Terra de Israel. Muitos outros indivíduos nutriam opiniões semelhantes, mas preferiram não fazer declarações que lhes pareciam óbvias e supérfluas. A antiquíssima tradição de não “falar sobre mapas” em público agora havia se espalhado entre a maioria da elite política, econômica e cultural.
No decorrer dessa vitória, Israel apoderou-se do controle da península do Sinai, das colinas de Golan e da Margem Ocidental, incluindo Jerusalém Oriental. Israel conseguiu “liberar-se” da península do Sinai dentro de uma década, basicamente como resultado da sangrenta guerra de 1973 e da eficiente intervenção do presidente norte-americano Jimmy Carter, mas ainda está para surgir um redentor externo capaz de libertar Israel das colinas de Golan, da Margem Ocidental e da Jerusalém árabe. Além disso, instituições judaicas pró-sionistas que mantiveram relações relativamente frias com o pequeno e fraco Estado de Israel antes da vitória relâmpago de 1967 de repente tornaram-se defensoras juramentadas do novo, grande e forte Israel (334). Assim, com o apoio financeiro e político dos “judeus da Diáspora”, que cuidavam de seus ativos expandidos além-mar sem qualquer desejo real de viver lá em pessoa, o Estado de Israel começou a afundar no atoleiro de ocupação e opressão contínuas. Nesse contexto, a iniciativa de assentamento sempre em expansão e o regime militar, que implantou uma versão local de apartheid que não ousa dizer seu nome com uma lógica histórica quase indecifrável, tornaram-se integrantes da estrutura da experiência israelense.
Em 1967, Israel não teve tanta sorte quanto em 1948. As transferências de população em larga escala ainda haviam sido possíveis dentro da realidade pós-guerra do final da década de 1940 e começo dos anos 1950, mas eram muito menos aceitáveis no mundo pós-colonial do final da década de 1960. Com exceção dos numerosos habitantes locais das colinas de Golan que fugiram e foram expulsos durante e imediatamente após a luta, bem como os habitantes de três aldeias palestinas arrasadas na região de Latrun, perto de Jerusalém, e de um campo de refugiados próximo a Jericó, a maioria da população conquistada – os palestinos da Margem Ocidental e da Faixa de Gaza – permaneceu em suas casas. Embora umas poucas vozes clamassem pela expulsão imediata da população local (335), Israel entendeu claramente a impossibilidade de fazer isso. Portanto, não é coincidência que o primeiro assentamento a ser implantado, aproximadamente um mês depois do término da luta, ficasse localizado nas havia pouco “evacuadas” colinas de Golan e que 32 assentamentos adicionais tenham sido estabelecidos na região desde então. A ausência de uma grande população local encorajou Israel a anexar o território oficialmente em 1981, indicando desprezo pela possibilidade de um futuro acordo de paz com a Síria. Subjacente a essa medida estava a suposição de que, assim como o mundo foi forçado a aceitar as conquistas de 1948, também teria que vir a aceitar o controle israelense sobre as conquistas de 1967.
O primeiro assentamento do Nahal também foi logo instalado na península do Sinai: o Neot Sinai, erguido a nordeste de El-Arish em dezembro de 1967. Essa iniciativa pioneira foi seguida por outros 20 assentamentos permanentes na região. Pelos termos do tratado de paz final entre Israel e Egito em 1979, todos eles estavam sujeitos à evacuação forçada junto com a retirada das forças militares israelenses. O primeiro assentamento israelense na Faixa de Gaza só foi estabelecido em 1970, sendo seguido por outras 17 prósperas instalações, todas evacuadas por Israel em 2005.
Mas, bem no coração da “pátria histórica”, os assuntos foram tratados desde o início com o uso de estratégias diferentes e sob a influência de bagagem emocional muito diferente. Na primeira década depois da guerra, a velha esquerda sionista permaneceu no poder em Israel. Como vimos, essa esquerda sionista não tinha apetite territorial menor que a direita sionista. Diferentemente da direita sionista, porém, a esquerda sionista tinha um senso de pragmatismo que resultou em comedimento em pontos decisivos da história – 1937, 1947, 1957 – e que em 1967 fizeram com que hesitasse e pensasse antes de agir.
Um fator importante era a preocupação israelense de que as duas grandes superpotências da época se engajassem de novo em uma ação diplomática conjunta, forçando Israel a se retirar de todos os territórios que havia ocupado. Mas 1967 não era 1957, e dessa vez, para seu grande infortúnio, Israel não foi submetida a qualquer pressão internacional séria. O segundo e mais problemático fator era que, na época da conquista, a Margem Ocidental tinha uma população de 670 mil palestinos, com potencial de crescimento demográfico acentuado. Estabelecer assentamentos judaicos no meio dessa população teria colocado em questão o princípio da colônia pura que vinha guiando o movimento sionista desde os primeiros passos na Palestina. Devido à alta taxa de natalidade da população árabe incorporada ao Estado em 1948, Israel jamais considerou conceder-lhe cidadania. Manter a Margem Ocidental como região autônoma, governada por Israel, mas sem a instalação de assentamentos, como alguns oficiais da inteligência propuseram, era mais compatível com os interesses do Estado. Todavia, a natureza de longo prazo do empreendimento sionista no fim mostrou-se decisiva.
O estabelecimento do primeiro assentamento na Margem Ocidental foi apoiado por diversos fatores: veneração dos mortos, o mito da terra roubada e a erradicação do insulto nacional. Em setembro de 1967, poucos meses depois da guerra, Kfar Etzion foi estabelecido nas ruínas de um assentamento judaico que havia sido evacuado e destruído durante a guerra de 1948 (o mesmo ocorreu em Kfar Darom, na Faixa de Gaza). Lógica semelhante guiou o grupo que invadiu um hotel em Hebron e declarou sua intenção de reavivar a antiga comunidade judaica da cidade, que havia sofrido dolorosa injúria em 1929 e fora forçada a evacuar a cidade de vez em 1936 (336). Mas se, no primeiro caso, o assentamento foi estabelecido em uma área subjacente à linha do armistício de 1949 e com isso recebeu apoio total e imediato do governo, o segundo assentamento foi estabelecido bem no coração da população palestina. Dessa forma, o assentamento judaico em Hebron deve ser visto como um momento crucial na história do conflito israelense-palestino.
Em retrospecto, podemos identificar três momentos significativos na longa história da ocupação e dos assentamentos nos territórios ocupados – momentos que muito provavelmente foram decisivos em moldar o futuro tanto de Israel quanto de seus vizinhos. O primeiro foi a anexação unilateral por Israel de Jerusalém Oriental e área circunjacente sem levar em consideração os desejos dos habitantes locais e sem lhes conceder cidadania plena. Israel nunca uniu verdadeiramente a cidade, a menos que entendamos o termo “unificação” como aplicável não a pessoas, mas a pedras, poeira, casas e sepulcros. Essa ação específica de anexação, na época apoiada até mesmo pelos que se diziam defensores da paz como Uri Avnery, representou a vitória completa do mito sobre a lógica histórica e do solo santo sobre o princípio da democracia.
Os outros dois momentos decisivos estão ligados à cidade de Hebron, onde se encontram os túmulos dos patriarcas e matriarcas judaicos. Um ocorreu quando os novos pioneiros israelenses invadiram a cidade durante a Páscoa judaica de 1968, e o primeiro-ministro Levi Eshkol, um moderado, pediu que fossem imediatamente removidos. Mas a força combinada de um mito poderoso e da crescente pressão pública, que Yigal Alon e Moshe Dayan efetiva e cinicamente traduziram em capital político pessoal, levou-o a ceder e concordar com uma concessão: o estabelecimento do assentamento judaico de Kiryat Arba, adjacente à cidade árabe de Hebron. Com a represa rachada, Israel começou lenta mas firmemente a se infiltrar na Margem Ocidental.
O terceiro momento veio em 1994, logo após o massacre de 29 devotos muçulmanos na cidade de Hebron pelo médico israelense americano Baruch Goldstein. À luz do profundo choque público que causou, o evento proporcionou ao primeiro-ministro Yitzhak Rabin a rara oportunidade de evacuar os colonos não só de Hebron, mas quem sabe até de Kiryat Arba. Tal decisão teria solidificado as intenções coalescentes de desenredar Israel da ocupação de toda a Margem Ocidental ou de parte dela e fortalecido significativamente as forças de conciliação entre os palestinos. Mas o mito da terra ancestral e o medo de protestos públicos mais uma vez subjugaram a reação do primeiro-ministro Rabin, uma figura política que se tornava mais moderada. Embora tenha recebido o Prêmio Nobel da Paz, Rabin apoiou o assentamento “de segurança” nos territórios ocupados. De fato, durante seu segundo mandato como primeiro-ministro (1992-1995), a construção de assentamentos continuou praticamente no ritmo anterior. Ele foi assassinado em novembro de 1995, embora não tenha ousado evacuar nenhum assentamento judaico (337).
As várias encarnações do Partido Trabalhista – que perdeu o controle do governo pela primeira vez em 1977, voltou ao poder em 1992 e de novo compôs o governo em 1999 – comportaram-se em relação à atividade de assentamento na Margem Ocidental como uma vaca querendo ser ordenhada. Longe de rechaçar aqueles que vinham ordenhá-lo e que com frequência empregavam meios ilegais para fazê-lo, o Partido Trabalhista no fim deu-lhes seu leite com muito pesar, conciliação e amor. De acordo com os princípios desposados por esse governo de esquerda moderada, os assentamentos “positivos” (estabelecidos de acordo com o Plano Alon de 1967) eram ostensivamente “assentamentos de segurança”, localizados principalmente em áreas que não possuíam população palestina densa, tais como o vale do Jordão expandido, sendo distintos dos novos bairros judaicos que cercariam a Jerusalém árabe pela eternidade.
Mas uma minoria dinâmica e ativa encontrou uma causa comum no ímpeto de colonização e empurrou o regime hesitante em frente. No começo do presente capítulo, discutimos a pequena corrente nacionalista-religiosa que se uniu ao movimento sionista em 1897, imbuída de forte fé no poder de Deus e na fraqueza fundamental do crente individual. Entretanto, cada passo na apropriação da Terra aumentou a santidade desta e a tornou mais importante aos olhos dos nacionalistas religiosos. A substituição de Deus pela Terra como foco central do sionismo religioso e a mudança da espera passiva por um Messias para um engajamento ativo na ação nacional para apressar sua chegada ocorreram muito antes de 1967, mas foram relegadas à margem política do nacionalismo religioso. Depois da assombrosa vitória militar israelense, a mudança da passividade para a atividade passou a atrair o lobby político religioso nacional que fazia parte da coalizão governante.
Em Kfar Etzion, já em 1967, e mais ainda em Hebron em 1968, vemos o surgimento de um novo tipo de vanguarda que começou a dar o tom do assentamento. Graduados em escolas religiosas e alunos de yeshivas nacionalistas que até então haviam ocupado a margem da cultura israelense de repente tornaram-se os heróis do momento. Enquanto os colonos sionistas a partir do começo do século XX haviam sido basicamente sionistas socialistas seculares, dali em diante o segmento mais dinâmico de conquistadores da Terra veio envolto em talliths e usando os quipás de tricô nacionalisticamente simbólicos. Eles também desprezavam os “pacifistas humanistas” que questionavam a autenticidade da promessa da Terra por Deus, assim como gerações anteriores de judeus religiosos haviam desprezado o nacionalismo moderno que havia transformado a Terra em foco de adoração ritual. Assim nasceu o movimento pioneiro conhecido como Gush Emunim – o Bloco dos Fiéis –, que facilitou a expansão dos assentamentos israelenses nos territórios ocupados e lhes permitiu atingir proporções muito maiores do que teriam alcançado de outra forma.
Embora o Gush Emunim represente uma minoria da sociedade israelense, nenhuma outra corrente, facção ou coalizão política teve êxito em opor-se à sua retórica, baseada no conceito do direito incontestável do Povo de Israel à sua Terra. À luz dos antecedentes ideológicos e territoriais do nacionalismo judaico, todo o setor sionista sentiu-se consistentemente compelido a se submeter às exigências dessa minoria, mesmo quando isso perturba o balanço político, diplomático, econômico e lógico do Estado soberano existente (338). Como vimos, até mesmo as forças mais moderadas foram incapazes de sustentar resistência de longo prazo ao discurso patriótico triunfante em defesa da propriedade territorial nacional.
A ascensão da direita sionista ao poder em 1977 acelerou significativamente o ritmo da colonização. Menachem Begin, que “cedeu” toda a península do Sinai em troca de um tratado de paz com o Egito em 1979, ao mesmo tempo fez tudo que pôde para promover o assentamento judaico na Margem Ocidental. Desde a implantação de Kfar Etzion em 1967, essa região testemunhou a instalação de mais de 150 assentamentos, cidades e aldeias, e muitos outros postos avançados (339). Na época em que este livro foi escrito, o número de israelenses vivendo nos assentamentos superava meio milhão. Nem todos são colonos ideológicos buscando liberar a Terra de Israel de ocupantes estrangeiros. Alguns são colonos econômicos que vivem na Margem Ocidental porque isso lhes permite ter uma casa com um pouco de terreno e vista da montanha a preço simbólico. Além do mais, com o auxílio de generoso financiamento do governo, a qualidade dos serviços pedagógicos, médicos e de previdência social fornecidos nos assentamentos pioneiros é muitíssimo superior à da parte que fica dentro da Linha Verde. Enquanto a situação da previdência social nesta última desandou bastante rápido, nos territórios ocupados expandiu-se e floresceu. Algumas pessoas inclusive compraram casas nos territórios como investimento, baseadas na expectativa de que serão bem indenizadas caso Israel imponha uma retirada forçada.
A maioria dos assentamentos foram construídos por operários palestinos vivendo sob ocupação militar. Eles trabalhavam nos assentamentos de dia, às vezes construindo até mesmo as cercas de segurança, e voltavam para suas aldeias à noite. Na época da eclosão da Primeira Intifada, no final de 1987, a força de trabalho palestina também havia penetrado em setores de negócios nas cidades, kibutzim e moshavim situados no território soberano israelense. De modo involuntário, e por interesses puramente econômicos, Israel foi se transformando em uma típica colônia de plantio, com uma população pacífica e submissa que carecia tanto de cidadania quanto de soberania trabalhando para patrões que possuíam não só cidadania e soberania, como também um senso de paternalismo protetor. Foi a fantasia paternalista de Moshe Dayan que moldou a ocupação “esclarecida”, que resistiu ao teste do tempo por 20 anos apenas para colapsar por completo em 1987. Essa política de ocupação “suave” retardou o levante palestino por uma década, permitiu ao mundo continuar indiferente e facilitou uma colonização sorrateira e contínua. Por fim, entretanto, contribuiu de forma indireta para a eclosão de uma enorme rebelião.
A intifada popular e o terrorismo brutal que a acompanhou minaram as calmas relações de controle e ao fazer isso salvaram de novo o princípio do Estado “etnodemocrático”. Israel mandou os “invasores” palestinos de volta a seus locais de residência na Margem Ocidental, cessou a simbiose econômica que estava em andamento até então e começou a importar mão de obra barata dos mercados do leste da Ásia. A onda maciça de imigrantes chegados da União Soviética, que se desmoronava nesse mesmo período, abasteceu Israel com mão de obra adicional (340); nesse caso (para consternação dos ultraortodoxos nacionalistas), Israel não estava muito interessada se essas mãos eram judaicas, contanto que fossem “brancas”.
Entre 1967 e 1987, o padrão de vida dos palestinos subiu significativamente, e a taxa de natalidade moveu-se de acordo. Em 2005, a população da Margem Ocidental situava-se em 2,5 milhões, enquanto a população combinada da Margem Ocidental e da Faixa de Gaza era de 4 milhões. Desde então esses números continuam a subir. Aqueles nascidos sob a ocupação no final da década de 1960 tornaram-se os líderes do levante no final dos anos 1980 e começo dos 1990 e preencheram as bases da resistência popular armada. A despeito de jamais terem conhecido outro regime, esses jovens palestinos depressa entenderam que pouquíssima gente no planeta no final do século XX compartilhava da situação incomum de oficialmente não possuir cidadania, soberania e pátria em um mundo onde tal status havia se tornado quase inteiramente inviável e, na opinião da maioria, totalmente intolerável.
A maior parte dos israelenses ficou surpresa com a nova agitação e teve dificuldade para entender. “Eles têm uma vida melhor que todos os outros árabes na região”, foi uma justificativa prevalente no discurso governista israelense. Os intelectuais da esquerda sionista, que se sentiam desconfortáveis vivendo permanentemente junto a um sistema de apartheid velado, comunicaram-se uns com os outros por meio de uma sofisticada terminologia de protesto a respeito dos “territórios administrados” (ha-shtakhim ha-mukhzakim), em oposição a “territórios ocupados” (ha-shtakhim ha-kvushim). Mais que nada, eles temiam que a ocupação em curso danificasse o caráter “judaico” do Estado e se consolavam com a suposição básica de que era algo apenas temporário, mesmo depois de existir pelo dobro do tempo do Israel “de flancos estreitos” pré-1967. Isso resultou na consolidação da indiferença moral em relação ao controle colonial, uma indiferença reminiscente da atitude de numerosos intelectuais ocidentais em relação ao capitalismo no período que precedeu a Segunda Guerra Mundial (341).
As intifadas que eclodiram em 1987 e 2000 ocasionaram mudanças mínimas na realidade espacial. A Primeira Intifada resultou dos Acordos de Oslo e no estabelecimento da Autoridade Palestina, que recebeu apoio europeu e norte-americano e por isso ajudou a reduzir o custo israelense da ocupação, mas nada fez para desacelerar a colonização. De fato, desde a assinatura dos acordos em 1993, a população assentada quase triplicou. A Segunda Intifada, em contraste, resultou na erradicação dos assentamentos israelenses na Faixa de Gaza. Entretanto, não é segredo que a iniciativa do primeiro-ministro Ariel Sharon, que criou uma “reserva indígena” hostil à qual foi negado o direito de comunicação direta com o mundo exterior (342), tinha por objetivo primário evitar um compromisso global com a liderança palestina. Na verdade, ambas as retiradas unilaterais de Israel – do Líbano em 2000 e da Faixa de Gaza em 2005 – foram planejadas e executadas, sem negociações, com a meta de permitir a Israel conservar outros territórios (especificamente, as colinas de Golan e a Margem Ocidental). Mesmo a cerca de segurança que Israel construiu a fim de reduzir o número de bombardeios suicidas mortíferos perpetrados dentro de suas fronteiras não foi erguida ao longo da fronteira de 1967, mas sim cortando o território palestino de modo a circundar um grande número de assentamentos. Ao mesmo tempo, assentamentos localizados do lado de fora da cerca continuaram a ficar mais fortes e novos postos avançados foram estabelecidos.
De Menachem Begin no final da década de 1970 a Yitzhak Rabin e Ehud Barak nos anos 1990, até os primeiros-ministros israelenses do começo do século XXI, os líderes de Israel estiveram dispostos, sob pressão, a conceder aos palestinos uma autonomia limitada e dividida, cercada e estilhaçada por terra, ar e zonas marítimas sob controle israelense. O máximo que estiveram dispostos a aceitar foram dois ou três bantustões que acatassem submissos os ditames do Estado judaico (343). Como era de se esperar, a segurança sempre proporcionou justificativas para essa posição, pois o discurso da guerra defensiva continua a moldar os principais contornos da identidade e consciência judaico-israelense. Mas a profunda realidade histórica oculta por esse discurso é bastante diferente: mesmo hoje, a elite política de Israel – tanto de esquerda quanto de direita – acha extremamente difícil reconhecer o direito dos palestinos à plena autossoberania nacional em áreas situadas dentro do território que a elite considera Terra de Israel. Na visão dessa elite, tal território é exatamente o que seu nome declara: uma herança ancestral que sempre pertenceu ao “Povo de Israel”.
Em sua quinta década, a ocupação parece estar pavimentando uma via territorial para a evolução de um Estado binacional, à medida que a crescente penetração de colonos israelenses em áreas palestinas densamente povoadas parece impedir qualquer tentativa de futura separação política. Em nível psicológico, porém, a natureza opressiva do controle israelense, a crítica internacional e, mais importante, a violenta e desesperada resistência palestina contribuem para a consciência cada vez maior entre muitos israelenses de “um povo habitando sozinho” (Números 23:9). A postura mantida pelo fictício ethnos israelense reflete uma mistura de desprezo e medo em relação aos vizinhos, gerada por sua própria natureza fictícia e falta de confiança em sua identidade cultural-nacional (especialmente diante do Oriente Médio). Os israelenses continuam se recusando a viver junto, e com certeza a viver junto e em igualdade, com os Outros que residem em meio a eles.
Sob circunstâncias extremas, essa contradição fundamental poderia levar Israel ao deslocamento agressivo dos árabes que vivem sob seu controle – quer vivam segregados como cidadãos israelenses de segunda classe, ou, tendo sido encerrados no sistema singular de apartheid, sejam privados de cidadania. Sem dúvida, todos nós somos capazes de imaginar as formas como essa perigosa política etnoterritorial, sem saída, poderia degenerar em um evento de levante civil em massa de todos os não judeus dentro da “Terra de Israel Completa”.
Em todo caso, na época da redação deste livro, um compromisso de peso – envolvendo o recuo israelense para as fronteiras de 1967, o estabelecimento de um Estado palestino ao lado de Israel (tendo Jerusalém como capital conjunta) e a formação de uma confederação entre duas repúblicas democráticas soberanas, cada uma pertencente a seus respectivos cidadãos – parece um sonho que se afasta, cada vez mais tênue com o passar dos dias e fadado a desaparecer no abismo do tempo (344).
Após duas difíceis intifadas, grandes segmentos da sociedade israelense cansaram das mitologias da Terra. Mas esse despertar e cansaço ideológicos, e o hedonismo e individualismo subjacentes, ainda estão longe de gerar um resultado eleitoral estável e significativo. Até aqui, não testemunhamos uma mudança decisiva na opinião pública rumo à remoção maciça dos assentamentos e a um acordo justo a respeito de Jerusalém. Embora a cada confronto os israelenses fiquem cada vez mais sensíveis à perda de vidas de soldados de Israel, ainda é preciso que surja um movimento de massa pela paz. A moralidade sionista intragrupo ainda desfruta de hegemonia absoluta. E não só o equilíbrio do poder dentro de Israel ainda não mudou de direção, como na verdade as correntes etnorreligiosas e seculares-racistas ficaram mais fortes. Pesquisas realizadas na época da redação deste livro refletem que 70% de todos os judeus israelenses acreditam ingênua e sinceramente que são membros do povo escolhido (345).
O crescente isolamento diplomático de Israel na região e no mundo não parece perturbar a elite política e militar israelense, cujo poder depende da contínua sensação de cerco. Enquanto os Estados Unidos – sob pressão dos lobbies pró-sionistas judaicos e evangélicos, bem como de representantes da indústria de armas (346) – continuarem a apoiar o statu quo e a dar a Israel a sensação de que suas políticas são legítimas e seu poder é ilimitado, as chances de progresso rumo a um acordo significativo permanecem no máximo escassas.
Sob essas condições históricas, a perspectiva de se combinar interesses racionais com uma visão baseada em moralidade universal parece puramente utópica. E, como sabemos, no começo do século XXI, o poder das utopias praticamente desapareceu.
Notas
175. Com isso não quero insinuar que o sionismo cristão teve uma influência “conceitual” direta sobre o nascimento do nacionalismo judaico na Europa oriental. É difícil encontrar traços inequívocos de tal influência no pensamento dos intelectuais protonacionalistas e sionistas de descendência judaica. Todavia, com certeza é possível que o evangelismo sionista tenha criado um ambiente europeu que contribuiu de forma indireta para a ascensão da ideia. Para mais informações sobre esse assunto, ver Raz-Krakotzkin, Amnon. “A narrativa nacional do exílio: historiografia sionista e judeus medievais”. Tel Aviv, 1996. Tese (Doutorado) – Universidade de Tel Aviv, pp. 297-301 (em hebraico). O surgimento do nacionalismo judaico resultou em estreito contato entre sionistas cristãos e judaicos, do qual o mais proeminente foi o relacionamento entre Theodor Herzl e o clérigo anglicano William Hechler em Viena. Sobre isso, ver Duvernoy, Claude. Le prince et le prophète. Jerusalém: Publications Departament of the Jewish Agency, 1966.
176. Ver o informativo artigo de Elqayam, Avraham. “Eretz ha-Zevi: retrato da Terra de Israel no pensamento de Nathan de Gaza”. In: Ravitsky, Aviezer (org.). A Terra de Israel no pensamento judaico moderno. Jerusalém: Yad Ben-Zvi, 1998, pp. 128-85 (em hebraico). É importante notar ainda que os frankistas, o maior movimento sabatiano na Polônia do século XVIII, também não consideraram a emigração para a Terra Santa como uma meta messiânica primordial. Ver Divrei ha’adon (Palavras do Senhor), de Jacob Frank (em hebraico).
177. Um dos principais elementos que distingue o judaísmo do sionismo são as posições divergentes sobre o messianismo, que o judaísmo rejeita, mas o sionismo recorda com nostalgia. Não por coincidência, estudiosos sionistas como Gershom Scholem, Joseph Klausner, Yehuda Kaufman e muitos outros admiravam e louvavam anseios messiânicos históricos. Para mais sobre isso, ver Salmon, Yosef. Não provoque a Providência: a ortodoxia nos limites do nacionalismo. Jerusalém: Shazar, 2006, p. 33 (em hebraico).
178. Horowitz, Isaiah Halevi. As duas tábuas do pacto, 2.3.11. Sobre as ideias do Sheloh, ver Ravitzky, Aviezer. “Awe and Fear of the Holy Land in Jewish thought”. In: Ravitzky (org.). Terra de Israel, pp. 7-9.
179. Eybeschutz, Jonathan. “Parashat Ekev”. In: Ahavat Yonatan. Hamburgo: Shpiring, 1875, 72. Ver também a primeira seção de Sefer Yaarot Hadvash, 74, e Ravitzky. “Respeito e medo”. In: Terra de Israel, pp. 23-4.
180. Sobre a emigração hassídica, ver o louvável livro de Barnai, Jacob. Historiografia e nacionalismo: tendências na pesquisa sobre a Palestina e o povoamento judaico, 634-1881. Jerusalém: Magnes, 1996, pp. 40-159 (em hebraico).
181. Mendelssohn, Moses. “Remarks concerning Michaelis’ response to Dohm (1783)”. In: Mendes-Flohr, Paul & Reinharz, Jehuda (orgs.). The Jew in the modern world: a documentary history. Oxford: Oxford University Press, 1995, pp. 48-9. Para o texto original em alemão, ver Mendelsohnn, Moses. Gesammelte Schriften 3. Hildesheim: Gerstenberg, 1972, p. 366.
182. Como Martin Buber, Ronsezweig concebia os judeus como uma comunidade de sangue. Entretanto, diferente de Buber, recusava-se a ligar o sangue à terra e rejeitava a visão da Terra Santa como pátria: “Nós mesmos depositamos nossa confiança no sangue e nos afastamos da terra […] Por esse motivo, a lenda tribal do povo eterno começa de outra forma que não com indigenismo. Apenas o pai da humanidade […] brotou da terra […] os ancestrais de Israel, porém, imigraram”. Rosenzweig, Franz. The star of redemption. Trad. para o inglês Barbara E. Galli. Madison: University of Wisconsin Press, 2005, p. 319. Sobre a posição de Buber a respeito da conexão orgânica entre terra e nação, ver Buber, Martin. Entre o povo e sua terra. Jerusalém, Schocken, 1984 (em hebraico).
183. Sobre as posições antissionistas desse filósofo, ver Cohen, Hermann. Ensaios escolhidos de Jüdische Schriften. Jerusalém: Bialik, 1977, pp. 87-104 (em hebraico), e Religion und Zionismus, Crefeld: Blätter, 1916.
184. Apenas em 1937, após a ascensão do nazismo e dentro do ambiente liberal do nacionalismo americano, o judaísmo progressista começou a entrar em acordo com a ideia nacionalista judaica. Depois da vitória israelense na guerra de 1967, sua identificação com o Estado de Israel ficou completa, e em 1975 até juntou-se à Organização Sionista Mundial. Para mais sobre isso, ver Meyer, Michael
A. Response to modernity: a history of the Reform movement in Judaism. Nova York: Oxford University Press, 1988. Infelizmente, o autor do estudo dedica muito pouca atenção à luta entre judaísmo liberal e sionismo (pp. 326-7).
185. Der Israelit, 79/80, 11 de outubro de 1898, p. 1460, citado em Zur, Yaakov. “Sionismo e ortodoxia na Alemanha”. In: Avni, Haim & Shimoni, Gideon (orgs.). Sionismo e seus oponentes no povo judeu. Jerusalém: Hassifriya Hazionit, 1990, p. 75 (em hebraico).
186. Hirsch, Samson Raphael. “The eighth letter: the founding of the Jewish people”. In: The nineteen letters. Nova York: Feldheim, 1995, pp. 115-6.
187. Diário, I, 24 de dezembro de 1895. In: Herzl, Theodor. Escritos. Tel Aviv: Neuman, 1960, p. 212 (em hebraico).
188. 7 de junho de 1895. In: ibid., p. 35.
189. Güdemann, Moritz M. Judaísmo nacional. Jerusalém: Dinur, 1995 (em hebraico).
243. Ibid., p. 27.
244. Ibid., p. 28.
245. Ibid. Embora Güdemann use os termos “Terra Santa” e “Palestina”, a tradução em hebraico substitui esses termos pelo termo padrão de “Terra de Israel”.
246. Ibid., p. 20. Para a resposta de Herzl, ver “O judaísmo nacional do dr. Güdemann”, no Ben-Yehuda Internet Project: http://benyehuda.org./herzl/herzl_009.html (em hebraico).
247. Ver Weinmann, Melvin. “The attitude of Isaac Mayer Wise toward zionism and Palestine”. American Jewish Archives, 3 (1951), pp. 3-23.
248. O primeiro livro antissionista judaico foi Tursz, Dob-Baer. Herzl’s dream. Varsóvia: Tursz,1899. Sobre esse livro e os textos de rabinos que se opuseram ao sionismo, ver o minucioso Salmon, Yosef. “O sionismo e os ultraortodoxos na Rússia e na Polônia 1898- 1900”. In: Salmon. Religião e sionismo: primeiros encontros. Jerusalém: Hassifriya Hazionit, 1990, pp. 252-313 (em hebraico).
249. Embora eu não tenha listado os nomes de rabinos de fora do império russo, os oponentes francos do sionismo também incluíam a maioria dos rabinos da Hungria, tanto tradicionalistas quanto reformistas (Neologs). Do rabino Chaim Elazar Spira (o Munkaczer Rebbe) ao rabino Isaac Breuer, rabino dr. Lipót Kecskeméti, todas as correntes do judaísmo ficaram unidas na ferrenha oposição ao sionismo. Para mais sobre Spira, ver Ravitzky, Aviezer. “Munkács and Jerusalem: ultra-orthodox opposition to zionism and agudaism”. In: Almog, Shmuel; Reinharz, Jehuda & Shapira, Anita (orgs.). Zionism and religion. Hanover, NH: Brandeis University Press, 1998, pp. 67-92. Sobre Kecskeméti, ver Friedländer, Yehuda. “Pensamento e ação dos rabinos sionistas e antissionistas na Hungria”. Ramat Gan, 2007. Tese (Doutorado) – Bar-Ilan University, pp. 123-43 (em hebraico).
250. Landa, S. Z. & Rabinovich, Y. (orgs.). O livro da luz para os justos: contra o método sionista. Varsóvia: Haltar, 1900 (em hebraico), p. 18.
251. Ibid., p. 53.
252. Ibid., p. 58. Ver também “Statement by the Lubbavitcher Rebbe Shulem ben Schneersohn, on zionism (1903)”. In: Selzer, Michael (org.). Zionism reconsidered. Londres: Macmillan, 1970, pp. 11-18.
253. Teitelbaum, Yoel. Vayoel Moshe. Brooklyn: Jerusalem Publications, 1961 (em hebraico).
254. Para o melhor e mais abrangente estudo sobre a oposição judaica ao nacionalismo publicado até agora, ver Rabkin, Yakov. A threat from within: a century of Jewish opposition to zionism. Londres: Zed Books, 2006.
255. O movimento sionista não pôde e não poderia realmente salvar os judeus das mãos dos nazistas. Entretanto, sua abordagem geral do genocídio foi bastante problemática. Sobre esse assunto, ver o corajoso e pioneiro livro de Beit-Zvi, Shabtai. Post-Ugandan zionism on trial: a study of the factors that caused the mistak es made by the zionist movement during the Holocaust. S. B. Beit-Zvi, 1991. Sobre a atitude do movimento sionista em relação às vítimas da perseguição nazista e do antissemitismo antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, ver Schubert, Herzl. A Questão de Evian no contexto de sua época. Tel Aviv, 1990. Dissertação (Mestrado) – Tel Aviv University, 1990 (em hebraico).
256. Herzl, Theodor. The Jewish State, Mineola, NY: Dover Publications, 1988, p. 95. Nesse contexto, é importante lembrar que Leon Pinsker, o protossionista que precedeu Herzl, ainda não considerava a Palestina como país de destino exclusivo dos judeus. Em seu ensaio “Auto-emancipation”, de 1882, Pinsker escreveu: “A meta de nossos presentes esforços deve ser não a ‘Terra Santa’, mas uma terra nossa. Não precisamos de nada além de um grande pedaço de terra para nossos irmãos pobres, que deverá permanecer de nossa propriedade e da qual nenhum estrangeiro possa nos expulsar” (http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/pinsker.html).
257. Rubanovitch, Ilya. “Chto delat evreiam v Rosii?”. Vestnik Narodnoi Voli, 5 (1886), p. 107, citado em Frankel, Jonathan. Prophecy and politics: socialism, nationalism, and the Russians Jews, 1862-1917. Cambridge: Cambridge University Press, 1981, p. 129. Mais tarde, argumentos semelhantes seriam defendidos por membros do movimento Bund. Ver, por exemplo, o ensaio em iídiche de Alter, Victor. Der Emet Wagen Palestina. Varsóvia: Die Welt, 1925.
258. Para uma tradução em inglês do artigo de Ahad Ha’am, ver Dowty, Alan. “Much ado about little: Ahad Ha’am’s ‘Truth from Eretz Israel’, zionism, and the Arabs”. Israel Studies, 5:2 (2000), pp. 154-81. Essa citação está em ibid., pp. 161-75.
259. Para uma tradução em inglês do artigo de Epstein, ver Dowty, Alan. “ ‘A question that outweighs all others’, Yitzhak Epstein and zionist recognition of the Arab issue”. Israel Studies, 6:1 (Primavera de 2001), pp. 34-54. Essa citação está em ibid., p. 39. Ver também um panfleto de Epstein, A questão das questões na colonização do país. Jaffa: Hever Emunei Hayishuv, 1919 (em hebraico).
260. O professor Yeshayahu Leibowitz, que se considerou um sionista até a morte, pode ser visto como o autêntico herdeiro espiritual dos primeiros membros do movimento Mizrachi.
261. Embora os nazistas justificassem a anexação da Alsácia-Lorena com alegações de direitos históricos, basearam sua exigência de anexação dos Sudetos no direito de autodeterminação. Foram os tchecos que, em 1919, convenceram os aliados vitoriosos a punir os alemães vencidos com a incorporação da região de idioma alemão à nova Tchecoslováquia, baseados em “direitos históricos” remontando aos tempos da monarquia boêmia. Hitler fez uso efetivo desse ato em sua propaganda nacionalista antes de ascender ao poder e a seguir na esfera internacional. Os “direitos históricos” também desempenharam um papel no amargo conflito entre Polônia e Lituânia durante a primeira metade do século XX.
262. Lilienblum, Moses Leib. O renascimento de Israel na terra de nossos ancestrais. Jerusalém: Zionist Organization, 1953, p. 70 (em hebraico).
263. Ibid., p. 71.
264. Almog, Shmuel. Sionismo e história. Jerusalém: Magnes, 1982, p. 184 (em hebraico).
265. Berdichevsky, Micah Joseph. “Da Terra de Israel a simplemente a Terra…”. In: Escritos de Micah Joseph Berdichevsk y. Vol. 8. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad, 2008, p. 270 (em hebraico).
266. Citado em Shimoni, Gideon. The Zionist ideology. Hanover: Brandeis University Press, 1995, pp. 352-3.
267. Jerusalém: Jewish Agency for Palestine, 1936.
268. Ibid., p. 4.
269. Ibid., pp. 23-5.
270. Entretanto, um estudo “legal” foi escrito por um autor religioso. Ver Gafni, Reuven. Nosso direito histórico-legal a Eretz-Israel. Jerusalém: Tora Ve’avoda Library, 1943 (em hebraico). Esse estudo sustenta que, embora os judeus sempre tenham mantido uma conexão histórica, legal e moral com a Terra, “não existe uma conexão espiritual nacionalista entre essa terra e os árabes. Eles instalaram-se como cidadãos individuais movidos por interesse econômico […] e portanto a Terra de Israel não possui história nacional árabe” (p. 58). Anos depois, um historiador israelense reiterou essa lógica com as seguintes palavras: “A singularidade dessa terra ao longo de gerações baseou-se apenas no espírito do Povo de Israel, e é só por causa dessa realidade e dessa consciência enraizadas no Povo de Israel que podemos falar de uma história da Terra de Israel”. Em contraste com seus habitantes originais, que não a consideravam singular, “para o Povo de Israel […] a terra tornava-se singular como resultado da entrada dos Filhos de Israel nela”. Shavit, Yaacov. “A Terra de Israel como unidade histórico-geográfica”. In: Efal, Israel (org.). A história de Eretz Israel. Vol. 1. Jerusalém: Keter, 1982, p. 17 (em hebraico).
271. Klein, Samuel (org.). Sefer ha-Yishuv. Vol. 1: Do período do Segundo Templo à conquista da Terra de Israel pelos árabes. Tel Aviv: Dvir, 1939 (em hebraico).
272. Ibid., p. 9.
273. Dinur, Ben-Zion. “Nosso direito sobre a Terra”. In: Cohen, Mordechai (org.). Capítulos da história de Eretz-Israel. Vol. 1. Tel Aviv: Ministério da Defesa, 1981, pp. 410-4 (em hebraico). É interessante considerar como os palestinos de hoje em dia fazem uso da mesma frase substituindo a palavra “árabes” por “judeus”.
274. Ibid., pp. 410-1.
275. Baer, Yitzhak. Galut. Nova York: Schocken Books, 1947, pp. 118-9.
276. A palavra “direito” (zek hut) aparece na Declaração de Independência israelense oito vezes. O direito é natural aparentemente porque uma parte do povo judeu sempre “permaneceu” em sua terra, e histórico porque ela lhe pertenceu antes de ser “exilado” à força 1,9 mil anos antes.
277. Begin, Menachem. “O direito que criou o poder”. In: Nedava, Joseph (org.). Nossa luta pela Terra de Israel. Tel Aviv: Betar, 1986, p. 27 (em hebraico).
278. Ettinger, Shmuel. “O particularismo histórico e a relação com a Terra de Israel”. In: Antissemitismo moderno, op. cit., p. 260.
279. Arieli, Yehoshua. História e política. Tel Aviv: Am Oved, 1992, p. 401 (em hebraico). David Ben-Gurion já havia entendido que a reivindicação não era moralmente forte quando escreveu: “Estou aqui por direito. Não estamos aqui em virtude da Declaração Balfour ou do Mandato da Palestina. Estávamos aqui muito antes disso […] É o poder do Mandato que está aqui em virtude do Mandato”. Ben-Gurion. “A declaração de Israel em sua Terra” (depoimento ao Comitê de Investigação Anglo-Americano). Jerusalém: The Jewish Agency, 1946, pp. 4-5 (em hebraico).
280. Avineri, Shlomo. Ensaios sobre sionismo e política. Jerusalém: Keter, 1977, p. 66 (em hebraico).
281. Hussein, Mahmoud & Friedländer, Saul. Arabs and Israelis: a dialogue. Nova York: Holmes, 1975, pp. 175-6.
282. Gans, Chaim. The limits of nationalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 118.
283. Sobre esse assunto, ver Brawer, Moshe. As fronteiras de Israel: passado, presente e futuro. Tel Aviv: Yavneh, 1988, pp. 41-51 (em hebraico).
284. História dos judeus. Vol. 1 (1855). Tel Aviv: Jezreel, 1955, p. 5 (em hebraico).
285. Ben-Yehuda, Eliezer. O livro da Terra de Israel. Jerusalém: Yoel Moshe Salomon, 1883, p. 12 (em hebraico).
286. Citado em Bar-Gal, Yoram. Pátria e geografia em cem anos de educação sionista. Tel Aviv: Am Oved, 1993, p. 126 (em hebraico).
287. Ibid., p. 34.
288. Ben-Gurion,David & Ben-Zvi, Yitzhak. A Terra de Israel no passado e no futuro. Jerusalém: Yad Ben-Zvi, 1980, p. 46 (em hebraico). Em sua Memórias, que Ben-Gurion escreveu anos mais tarde, ele explica que, “em todos os períodos, a região norte da Transjordânia, que o Acordo Sykes-Picot destinou à França, foi parte integrante da Terra de Israel […] O crescimento da população judaica na Terra de Israel aumentará a conexão de seus habitantes com as colheitas trazidas da Transjordânia”. Memórias. Vol. 1. Tel Aviv: Am Oved, 1977, p. 164-5 (em hebraico).
289. A carta, datada de 17 de junho de 1918, é citada em Gil, Eliezer Pney. A concepção das fronteiras de Eretz Israel. Tel Aviv, 1983. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Tel Aviv, p. 7 (em hebraico).
290. Galnoor, Itzhak. The partition of Palestine: decision crossroads in the zionist movement. Albany: SUNY Press, 1995, p. 37-9. Em um livro turístico de 1921 encomendado pela Companhia Expressa Terra de Israel, a ferrovia de Hejaz aparece como a fronteira natural da terra dos judeus. Ver Peres, Yeshayahu. A Terra de Israel e seu segredo do Sul. Jerusalém, Berlim, Viena: Hertz, 1921, p. 19 (em hebraico).
291. Citado em Eilam, Yigal. “História política, 1918-1922”. In: Lissak, Moshe (org.). A história da implantação judaica em Eretz Israel desde a primeira alyiah. Vol. 1. Jerusalém: Bialik, p. 161 (em hebraico).
292. Klein, Samuel. A história do estudo da Terra de Israel na literatura judaica geral. Jerusalém: Bialik: 1937, p. 3 (em hebraico). Ver também Brawer, A. J. A Terra: um livro para estudar a Terra de Israel. Tel Aviv: Dvir, 1927, p. 4 (em hebraico).
293. Biger, Gideon. A Terra de múltiplas fronteiras: os primeiros cem anos da delimitação das novas fronteiras Palestina-Eretz Israel, 1840-1947. Sede Boqer: Ben-Gurion University, 2001, p. 15 (em hebraico).
294. Ben-Gurion, David. “Os limites de nossa terra” (1918). In: Nós e nossos vizinhos, op. cit., p. 41. Mesmo depois de 1967, Benjamin Akzin, estudioso legal da Universidade Hebraica de Jerusalém, continuou a afirmar: “Concedemos a parte leste da Terra de Israel, a despeito de nossos direitos a ela”. Tfutzot Hagolah (1975), p. 27 (em hebraico).
295. Para um relato abrangente de todos os esforços de assentamento empreendidos a leste do rio Jordão e os sonhos territoriais que os acompanharam, ver Ilan, Zvi. Esforços de colonização judaica na Transjordânia, 1871-1947. Jerusalém: Yad Ben-Zvi, 1984 (em hebraico).
296. A proposta para se estabelecer um Estado judaico e um Estado árabe exigia, de acordo com a íntegra do Relatório da Comissão Real da Palestina, uma troca de população que teria retirado 225 mil árabes de suas casas e apenas 1.250 judeus.
297. Sobre os argumentos contra e a favor da proposta, ver o abrangente livro de Dothan, Shmuel. A controvérsia sobre a partição no tempo do Mandato. Jerusalém: Yad Ben-Zvi, 1979 (em hebraico).
298. Citado em Sykes, Christopher. Crossroads to Israel: Palestine from Balfour to Bevin. Londres: New English Library, 1967, p. 212. Em uma reunião da executiva da Agência Judaica, em 7 de junho de 1938, Ben-Gurion declarou de forma explícita que, no fim, ele pretendia anular a repartição e se expandir para toda a Terra de Israel, baseado, é claro, em um “acordo árabe-judaico”. Ver excerto das minutas da reunião em Karsh, Efraim. Fabricating Israeli history: the new historians. Londres: Frank Cass, 1997, p. 44.
299. Em meados da década de 1890, o número de colonos judeus na Palestina estava em dois mil. Isso pode ser comparado aos 1,4 mil colonos templários vivendo na região na época. Aaronsohn, Ran. “Dimensão e natureza da primeira vaga da nova colonização judaica em Eretz-Israel (1882-1890)”. In: Ben-Arieh, Yehoshua; Ben-Artzi, Yossi & Goren, Haim (orgs.). Estudos histórico-geográficos sobre a colonização de Eretz Israel. Jerusalém: Yad Ben-Zvi, 1987, pp. 9-10 (em hebraico).
300. Citado em Almog, Shmuel. “Redenção na retórica sionista”. In: Kark, Ruth (org.). Redenção do solo na Terra de Israel: ideologia e prática. Jerusalém: Yad Ben-Zvi, 1990, p. 16 (em hebraico).
301. Ver Kark, Ruth. “A Terra e a ideia da redenção da terra na cultura tradicional e na Terra de Israel”. Kark a, 31 (1989), pp. 22-35 (em hebraico). Ver também Neumann, Boaz. Terra e desejo no início do sionismo. Tel Aviv: Am Oved, 2009 (em hebraico).
302. Sobre o papel da terra erma na concepção sionista e sua associação com o deserto, ver Zerubavel, Yael. “O deserto como espaço mítico e lugar de memória na cultura hebraica”. In: Idel, M. & Grunwald, I. (orgs.). Mitos na cultura judaica. Jerusalém: Zalman Shazar, 2004, pp. 227-32 (em hebraico).
303. Gordon, A. D. Cartas e escritos. Jerusalém: Hassifriya Hazionit, 1954, p. 51 (em hebraico).
304. Para mais sobre isso, ver Fieldhouse, David Kenneth. The colonial empires: a comparative survey from the eighteenth century. Londres: Macmillan Press, 1982.
305. Shafir, Gershon. Land, labor and the origins of the Israeli-Palestinian conflict, 1882-1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
306. Almog. “Redenção na retórica sionista”, op. cit., p. 29.
307. Ver a descrição de Ruppin da ideia de k ibutz em seu artigo de 1924, “O grupo” (Ha-Kvutsa), em Trinta anos construindo Eretz Israel. Jerusalém: Schoken, 1937, pp. 121-9 (em hebraico). Para uma versão em inglês desse livro, ver Ruppin, Arthur. Three decades of Palestine: speeches and papers on the building of the Jewish national home. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1936.
308. O kibutzismo do Hashomer Hatzair, movimento marxista-sionista que apoiava um Estado binacional de maioria judaica, também relutava em aceitar árabes como membros.
309. A comparação envolvida aplica-se apenas à política etnocêntrica de segregação da década de 1930 e não deve de maneira alguma ser entendida como sugerindo uma analogia entre a campanha nazista de extermínio dos anos 1940 e a iniciativa de assentamento sionista, que foi e sempre permaneceu destituída de qualquer traço da ideia de exterminar os outros. Sobre a ideia e as práticas do “trabalho hebreu” que já estavam sendo implementadas na década de 1920, ver Shapira, Anita. A batalha frustrada: a controvérsia sobre o trabalho judeu, 1929-1939. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad, 1977 (em hebraico). Originalmente tese de doutorado de Shapira, é interessante apesar do difuso tom apologético.
310. Para uma comparação interessante entre a colonização sionista e outros processos de colonização, ver Pappé, Ilan. “Zionism as colonialism: a comparative view of diluted colonialism in Asia and Africa”. South Atlantic Quarterly, 107:4 (2008), pp. 611-33.
311. Citado em Bar-Zohar, Michael. Ben-Gurion: uma biografia política. Vol. 2. Tel Aviv: Am Oved, 1978, p. 663 (em hebraico).
312. Flapan, Simba. The birth of Israel: myths and realities. Nova York: Pantheon Books, 1987; Morris, Benny. The birth of Palestinian refugee problem revisited. Cambridge: Cambridge University Press, 2004; Pappé, Ilan. The ethnic cleansing of Palestine. Londres: Oneworld, 2006. Ver também Ben-Eliezer, Uri. A criação do militarismo israelense, 1936-1956. Tel Aviv: Dvir, 1995, pp. 232-79 (em hebraico). Deve-se notar que esses acadêmicos foram precedidos por estudiosos palestinos que sublinharam esses fatos repetidas vezes ao longo dos anos.
313. Sobre a recusa de Israel em permitir a volta dos refugiados, ver Morris. The birth of the Palestinian refugee problem revisited, op. cit., pp. 309-40. Sobre o acordo vacilante e evasivo de Israel, sob forte pressão americana, de permitir o retorno de 100 mil dos 700 mil refugiados, ver pp. 570-80 da mesma fonte.
314. A partilha recomendada pela Comissão Peel alocava ao Estado judaico uma área de aproximadamente 5 mil quilômetros quadrados, e o plano de repartição das Nações Unidas em 1947 concebeu o estabelecimento do Estado judaico em 14 mil quilômetros quadrados do Mandato da Palestina. Em contraste, as linhas do armistício de 1949 continham 21 mil quilômetros quadrados; hoje, na época da redação deste livro, Israel controla 28 mil quilômetros quadrados, uma área maior que o Mandato Britânico da Palestina, mas ainda muito longe da visão de Ben-Gurion e seus aliados em 1918.
315. O governo militar agiu com base nas Regulamentações de Defesa (de Emergência) que Israel herdou do regime colonial britânico pré-1948. Para mais sobre a situação dos palestinos israelenses durante esse período, consultar o inovador The Arabs in Israel, de Sabri Jiryis. Nova York: Monthly Review Press, 1976. A versão original em hebraico desse livro traduzido foi concluída pouco antes da suspensão do governo militar em 1966.
316. Sobre a judaização da terra na sequência imediata do estabelecimento do Estado de Israel, ver o abrangente estudo de Kimmerling, Baruch. Zionism and territory: The socio-territorial dimensions of Zionist politics. Berkeley: University of California Press, 1983, pp. 134-46.
317. Yiftachel, Oren. “Ethnocracy, geography, and democracy: comments on the politics of the judaization of Israel”. Alpayim, 19 (2000), pp. 78-105.
318. Sobre a discriminação interna judaica entre “asquenazim” e “mizrahim” na alocação da terra, ver Yiftachel, Oren. “Construção da nação e a repartição do espaço na etnocracia israelense: colonização, terra e disparidades étnicas”. Iyunei Mishpat, 21:3 (1998), pp. 637-64 (em hebraico).
319. Para mais sobre isso, ver Bar-Gal. Pátria e geografia, op. cit., pp. 133-6.
320. Sobre as visões desse movimento político na Terra de Israel, ver a pequena coletânea publicada em memória de Yitzhak Tabenkin, o líder do movimento: Fialkov, Aryeh (org.). A colonização e as fronteiras do Estado de Israel. Efal: Yad Tabenkin, 1975 (em hebraico). Especificamente, ver o breve testemunho do general Rehavam Ze’evi, ex-chefe das Forças de Defesa, nessa coletânea (pp. 25-31).
321. Kemp, Adriana. “From territorial conquest to frontier nationalism: the Israel case”. Tel Aviv University: The David Horowitz Institute, Paper 4, 1995, pp. 12-21.
322. Em 24 de março de 1949, Yigal Alon mandou uma carta para David Ben-Gurion na qual expressou oposição às linhas do armistício e propôs uma fronteira alternativa, baseado na asserção de que “não se pode imaginar uma linha mais robusta que a linha do Jordão, que corre por toda a extensão do país”. Ele confirmou essa posição em uma entrevista de 1979, na qual recordou com nostalgia: “Perto do final da Guerra da Liberação, surgiu uma chance única na qual era possível tomar destemidamente toda a Terra de Israel oeste”. Tzur, Ze’ev. Da controvérsia sobre a partição ao Plano Alon. Efal: Yad Tabenkin, 1982, p. 74 (em hebraico).
323. Ver Shafran, Nessia. “The Red Rock in retrospect”. In: Amir, Aharon (org.). Keshet Te’uda: the old Land of Israel. Ramat Gan: Masada, 1979, pp. 169-89 (em hebraico).
324. Sobre a relutância de Israel em reconhecer as linhas do armistício de 1949 como fronteiras finais, ver o importante trabalho de Kemp, Adriana. Falando de fronteiras: a formação do território político de Israel, 1949-1957. Tel Aviv, 1997. Tese (Doutorado) – Tel Aviv University, 1997 (em hebraico). Ver também Kemp, Adriana. “From politics of location to politics of signification: the construction of politcal territory in Israel’s first years”. Journal of Area Studies 12 (1998), pp. 74-101.
325. Shlaim, Avi. The Iron Wall: Israel and the Arab world. Londres: Penguin, 2001, pp. 171-2.
326. Citado em Morris, Benny. Israel’s border wars, 1949-1956. Oxford: Oxford University Press, 1993, p. 444. No mesmo dia em que a carta foi enviada, Ben-Gurion fez referência a Procópio em um discurso ao Knesset.
327. Ver Rapoport, Meron. “A colonização já tinha sido sonhada por Moshe Dayan em 1956”. Haaretz, 10 de julho de 2010 (em hebraico).
328. Alon, Yigal. “Libertar a Faixa”. LaMerhav, 12 de dezembro de 1956 (em hebraico).
329. Shlaim. The Iron Wall, op. cit., p. 236.
330. Poucos dias antes da guerra, o coronel Eli Zeira, que mais tarde atuaria como diretor da inteligência militar israelense, informou seus subordinados, oficiais da unidade de elite Sayeret Matkal: “Haverá guerra dentro de uma semana. Dois ou três exércitos árabes vão tomar parte, e vamos derrotar todos eles dentro de uma semana […] E o empreendimento sionista dará mais um passo adiante para a sua realização”. Citado em Edelist, Ran. Onde foi que erramos? Jerusalém: November Books, 2011, p. 25-6 (em hebraico).
331. As palavras de Dayan foram transmitidas pela Voz de Israel em 7 de junho de 1967 e estão citadas no amplo estudo de Naor, Arye. Grande Israel: teologia e política. Haifa: Haifa University Press, 2001, p. 34 (em hebraico).
332. Uma das comoventes canções patrióticas que expressa esse espírito paradoxal e enganoso depois da guerra de 1967 é “Sharm el- Sheikh” (letra de Amos Ettinger, música de Rafi Gabay). A letra inclui as seguintes linhas: “Sharm El-Sheikh, retornamos para você mais uma vez. Você está em nosso coração, sempre em nosso coração […] A noite chega, trazendo outro sonho, traz na água uma esperança de paz”.
333. O manifesto foi publicado no mesmo dia (22 de setembro de 1967) nos jornais israelenses de maior leitura: Yedioth Aharonot, Maariv, Haaretz e Davar. Para uma análise informativa, ver Miron, Dan. “Te’uda b’Israel”. Politics, agosto de 1987, pp. 37-45 (em hebraico).
334. Isso derivou-se não só da admiração pelo poder israelense, mas também do declínio dos nacionalismos tradicionais, que exigiam lealdade inequívoca a uma só pátria, e ao fortalecimento simultâneo das identidades comunitárias transnacionais através do mundo ocidental.
335. Ver, por exemplo, a declaração pública do autor Haim Hazaz, ganhador do Prêmio Israel de Literatura e figura importante no mundo intelectual israelense: “Existe a questão da Judeia e de Efraim, que contêm grandes populações que terão que ser evacuadas e enviadas para países árabes vizinhos […] Cada povo na sua – Israel na Terra de Israel, e os árabes na Arábia”. Hazaz, Haim. “Things of substance”. In: Ben-Ami, Aharon (org.). The book of the Whole Land of Israel. Tel Aviv: Friedman, 1977, p. 20.
336. Sobre a importância do assentamento judaico em Hebron, ver Feige, Michael. Um espaço, dois lugares: Gush Emunim, Paz Agora e a construção do espaço israelense. Jerusalém: Magnes, 2002, pp. 101-25 (em hebraico).
337. Deve-se notar que, nos Acordos de Oslo, Israel não concordou em parar com os assentamentos em troca da concordância da delegação palestina de repudiar o terrorismo e a violência. Em discurso ao Knesset em 6 de outubro de 1995, Rabin enunciou os princípios que o guiavam no processo: a unidade de Jerusalém (incluindo o assentamento de Ma’ale Adumim), uma entidade palestina que seria criada nos territórios não teria o status de Estado, o não retorno às fronteiras pré-1967 e uma fronteira de segurança que se estenderia através do vale do Jordão.
338. Isso é válido exceto a respeito da política da água na Margem Ocidental. A forma como a água é administrada nos territórios ocupados é lucrativa tanto para os assentamentos judaicos quanto para o Estado de Israel.
339. Sobre o mundo dos colonos, o ritmo de assentamento e as relações com os diferentes governos israelenses, ver Eldar, Akiva & Zertal, Idith. Lords of the Land: The war over Israel’s settlements in the occupied territories, 1967-2007. Nova York : Nation Book s, 2009.
340. Sobre isso, ver Portugali, Juval. As relações envolvidas: sociedade e espaço no conflito israelo-palestino. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad, 1996, pp. 204-6 (em hebraico).
341. Para o estudo mais abrangente publicado até hoje a respeito do sistema de controle militar sobre o povo palestino e a capacidade da cultura e política israelenses de lidar com isso, ver Azoulay, Ariella & Ophir, Adi. Ocupação e democracia entre o mar e o rio (1967). Tel Aviv, Resling, 2008 (em hebraico).
342. Uso o termo “reserva” para me referir à Faixa de Gaza porque uma maioria decisiva de seus habitantes são descendentes de refugiados palestinos da guerra de 1948. Ariel Sharon é conhecido como um dos arquitetos do assentamento israelense na Margem Ocidental.
343. Israel fez de tudo em seu poder para dividir a Margem Ocidental ao meio com uma construção maciça no espaço territorial entre Jerusalém e Jericó.
344. A população palestina e palestina israelense que vive entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão situava-se em 5,6 milhões em 2011, e o número de judeus israelenses no mesmo espaço era de 5,9 milhões. Em muito pouco tempo, haverá igualdade demográfica entre as duas populações. Ver Ravid, Barak. “O espectro demográfico continua vivo, mas a direita tenta enterrá-lo”. Haaretz, 3 de janeiro de 2012 (em hebraico).
345. Ver Hasson, Nir. “80% of the Jews in the country believe in God”. Haaretz, 27 de janeiro de 2012.
346. Uma grande fatia da generosa ajuda norte-americana a Israel permanece nas mãos dos fabricantes de armas e munição dos Estados Unidos. Para mais sobre a coalizão pró-sionista, ver Mearsheimer, John J. & Walt, Stephen M. The Israel lobby and U. S. foreign policy. Nova York: Farrar, Straus and Giroux, 2007.