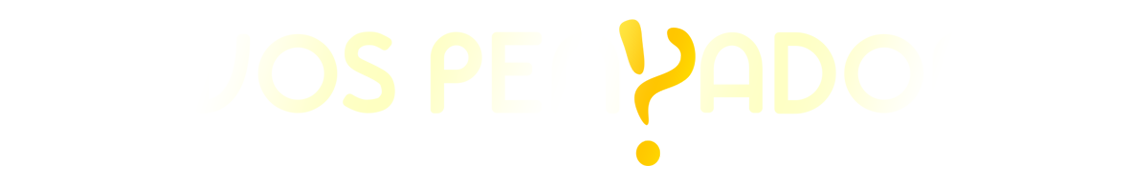Sionismo
Estamos lendo o livro de Shlomo Sand (2012), intitulado A Invenção da Terra de Israel: Da Terra Santa à Terra Pátria. São Paulo: Benvirá (Saraiva Educação), 2014.
Este é o terceiro artigo da série. Reproduzimos abaixo o terceiro capítulo de A Invenção da Terra de Israel, que trata da questão do sionismo.
Rumo ao sionismo cristão: e Balfour prometeu a Terra
Assim como aqueles que visitaram Atenas entendem melhor a história grega […] também terá uma percepção mais clara do sentido da Escritura sagrada aquele que fita a Judeia com seus próprios olhos e recorda nos próprios locais as histórias dessas antigas cidades, cujos nomes ou ainda são os mesmos ou mudaram.
JERÔNIMO PREFÁCIO DAS CRÔNICAS, CERCA DE 400 D.C.
Pois na Palestina não propomos sequer passar pela formalidade de consultar os desejos dos atuais habitantes do país […] O sionismo, seja certo ou errado, bom ou mau, está enraizado em tradições perpétuas, em necessidades atuais, esperanças futuras de importância bem mais profunda que os desejos e preconceitos dos 700 mil árabes que agora habitam aquela terra antiga.
LORDE ARTHUR JAMES BALFOUR MEMORANDO, 11 DE AGOSTO DE 1919.
No ano 70 d.C., Tito destruiu o Templo de Jerusalém na esperança de pôr um fim no desafio monoteísta ao regime idólatra de Roma. Ele e seus associados “sustentaram que o Templo devia ser destruído sem demora a fim de erradicar por completo as religiões judaica e cristã” (147). O futuro imperador e seus conselheiros estavam equivocados tanto a curto quanto a longo prazo. As duas revoltas subsequentes – a das comunidades judaicas por todo o sul da bacia do Mediterrâneo nos anos 115-7 d.C., e a de Bar Kokhba na Judeia nos anos 132-5 – mostram que o poder do jovem monoteísmo não arrefeceu imediatamente após a demolição do Templo. Em vez disso, o ímpeto com que a cristandade espalhou-se na sequência da severa repressão da última revolta indicou que a sede por um Deus único, abstrato, não poderia ser aniquilada simplesmente pela destruição física de um local de adoração.
Não sabemos com exatidão quando o lugar de adoração conhecido na tradição hebraica como Segundo Templo foi construído. Infelizmente, não temos nenhuma evidência arqueológica da existência de um Primeiro Templo, embora possamos presumir que ficasse situado no local de uma antiga casa de adoração que existia antes da cristalização do monoteísmo javeísta. De acordo com a tradição, uma Pedra Fundamental (even hashtiya) que se pensava ser a pedra angular do universo ficava em seu centro. Era essa pedra, entre outras coisas, que conferia santidade ao local. Mas, embora o Templo seja mencionado na Bíblia, seus autores praticamente esqueceram de nos dizer se o mandamento de peregrinação regular ao local foi observado (148). Podemos, portanto, concluir que apenas o Segundo Templo tornou-se um verdadeiro local de peregrinação, de início para os habitantes da terra da Judeia e mais tarde para o crescente número de judeus que vivia em outras partes.
No ano 19 a.C., o rei Herodes transformou o Templo em uma estrutura imponente e magnífica que atraiu grandes massas de adoradores. O judaísmo então estava no auge, e centenas de milhares de judeus e convertidos ao judaísmo enviavam contribuições de longe. A Pax Romana, que cada vez mais se enraizava pelo Mediterrâneo, permitia que grande número de pessoas viajasse pelas estradas do império com certa segurança. Esse período de paz relativa facilitou a disseminação do judaísmo e, mais tarde, do cristianismo. Além disso, resultou também em uma infraestrutura material que encorajou peregrinações a Jerusalém. Durante um período de quase 90 anos, até 70 d.C., a “casa de Deus” – significando o ponto de encontro dos céus, da terra e do abismo – serviu de centro da cada vez mais poderosa religião judaica.
O mandamento da peregrinação aplicava-se aos homens, mas não às mulheres. As peregrinações eram regularmente conduzidas nas três datas santas (regalim) do ano: Pessach (Páscoa judaica), Shavuoth e Sukkoth. Somados ao testemunho de Filo de Alexandria e à descrição fornecida por Flávio Josefo, os textos rabínicos da Lei estão repletos de referências a esse período de magnificência, no qual aparecem repetidamente os relatos de práticas rituais em torno do Templo. Além das generosas contribuições e dízimos conferidos aos sacerdotes, os peregrinos levavam consigo para Jerusalém sacrifícios exigidos e voluntários. Era uma celebração religiosa em massa que fortalecia o reino e os sacerdotes, que administravam e controlavam o evento (149).
A destruição do Templo judaico pôs fim à obrigação da peregrinação e teve impacto significativo sobre a transformação morfológica do judaísmo. Dali em diante, o papel dos sacerdotes do Templo foi cada vez mais ocupado pelos rabinos das sinagogas, da corrente interpretativa. A destruição do lugar de ritual de Jerusalém, do centro sagrado, aumentou a importância dos pequenos e animados lugares de reunião dentro das comunidades judaicas, que já contribuíam para o florescimento e expansão da população judaica. Jerusalém não seria esquecida e permaneceria no coração dos fiéis judeus até o final dos tempos. Entretanto, assim como o Templo na prática foi substituído pelas sinagogas, e assim como as oferendas de sacrifício foram substituídas pela oração, a terra de verdade – o terreno em si – foi substituído pela tradição oral.
Peregrinação depois da destruição: um ritual judaico?
Se houve peregrinações para homenagear um morto nos anos posteriores a 70 d.C., elas desapareceram quase por completo após a repressão da revolta de Bar Kokhba em 135 (150). Como sabemos, os romanos arrasaram brutalmente a Jerusalém judaica e estabeleceram a cidade idólatra de Aelia Capitolina sobre as ruínas. Os circuncidados foram proibidos de entrar na cidade, de modo que, até a cristianização do império no início do século IV d.C., o ponto focal da fé judaica continuou na maior parte fora dos limites dos judeus. A situação não melhorou muito após o triunfo da cristandade por todo o império. Jerusalém tornou-se então uma cidade santificada cristã com muitas igrejas, e só depois da chegada dos exércitos do Islã no começo do século VII os judeus enfim tiveram permissão para entrar livremente e residir em sua antiga cidade santa.
Contudo, a conquista árabe também resultou na construção de duas casas de veneração muçulmanas em escala monumental – na exata localização onde, no passado remoto, havia ficado o Templo judaico. À luz do relacionamento simbiótico entre judaísmo e cristianismo, não é de espantar que tenham sido dois judeus convertidos que, de acordo com a lenda, mostraram aos vitoriosos a localização exata do Templo entre as pilhas de lixo ali amontoadas durante a era cristã. Também supomos que, em resultado das transformações físicas sofridas, o monte do Templo tenha se tornado cada vez menos atraente para os crentes judeus da corrente rabínica que aderiram à tradição oral. Conforme foi visto no capítulo anterior, foram os caraítas – os “protestantes” da religião judaica, que rejeitaram a lei religiosa judaica e conclamaram o retorno às antigas fontes e à Terra Santa – que se instalaram em Jerusalém e por isso fizeram peregrinações (151).
O Islã escolheu Jerusalém como terceiro centro sagrado mais importante, depois de Meca e Medina. Sendo uma religião que recorre ao judaísmo para algumas de suas fontes, a cidade santa situada no coração da Palestina de início foi o principal lugar para onde os adoradores dirigiam suas preces. Foi dali que Maomé ascendeu aos céus. Embora o Haj – o mandamento islâmico de peregrinação – enfocasse Meca, um número significativo de peregrinos também visitava Jerusalém. Místicos de várias correntes que consideravam a peregrinação a Bilad ash-Sham, a Terra Santa, como da maior importância religiosa, continuaram a ir lá por muitos anos (152).
Em contraste, durante o milênio entre o fim da revolta de Bar Kokhba em 135 d.C., na qual os rebeldes almejaram reconstruir o Templo, e a conquista de Jerusalém pelos cruzados em 1099, não sabemos de tentativas dos seguidores do judaísmo rabínico de fazer peregrinações à cidade santa. Conforme já observado, os judeus não “esqueceram” Jerusalém, pois uma importante faceta do judaísmo estava conectada a esse centro sagrado. Esse vínculo, porém, não se traduzia em uma ânsia de se conectar concretamente com a Terra – palmilhar seu solo, viajar nela ou conhecer sua geografia.
Embora comentaristas judeus engajem-se em longas discussões sobre as leis referentes aos rituais do Templo durante sua existência, pouco dizem sobre a peregrinação a Jerusalém após a destruição. Embora a Mishná, o Talmude e o Midrash – três textos inteiramente devotados a mandamentos positivos e negativos – incluam instruções escatológicas referentes à retomada dos rituais do Templo na chegada da redenção, não fornecem indicação sobre a importância religiosa da peregrinação antecipada. Ao contrário do cristianismo, o judaísmo não considera a peregrinação a Jerusalém um ato de penitência por transgressões ou um ato que possa purificar o crente e, portanto, não encontramos recomendação para que seja realizada. Por fim, essa difícil realidade histórica fragmentou o relacionamento físico com o centro sagrado por um período de tempo, deixando em seu rastro vínculos poderosos que eram primariamente de natureza espiritual e metafísica.
A peregrinação judaica a Jerusalém em particular e à Terra Santa em geral parece ter recomeçado apenas depois da conquista pelos cruzados. Elchanan Reiner, um estudioso das peregrinações judaicas, abordou esse tema em detalhes:
A instituição da peregrinação, conforme o formato assumido no período medieval, parece ter evoluído em proximidade especialmente estreita com a instituição da peregrinação que tomou forma nos países de origem dos cruzados, seja sob influência ou em reação ao desafio das Cruzadas. Antes do período das Cruzadas, a peregrinação institucionalizada não existia entre os judeus dos países da Igreja latina, que dirá um ritual cristalizado de peregrinação à Terra de Israel. A instituição da peregrinação deu os primeiros passos dentro das comunidades judaicas da Europa católica no século XII e começo do século XIII como resultado da terceira Cruzada, vindo a ocupar seu devido lugar no mundo religioso dos judeus da França, Espanha e finalmente Ashkenaz (153).
Por que o despertar das Cruzadas e a atenção cristã na Terra Santa “influenciaram” as comunidades judaicas da Europa? Reiner defende a hipótese de que o interesse judaico em peregrinações foi produto da competição pela Terra. Ou seja, a alegação dos cristãos de serem os verdadeiros herdeiros do Velho Testamento e, portanto, terem o direito de controlar as propriedades territoriais nele descritas suscitaram preocupação entre os judeus, deflagrando um movimento em massa de peregrinos para Jerusalém (154).
Esse argumento está longe de ser satisfatório. Mesmo que na literatura cristã encontremos argumentos de que, como resultado do sofrimento de Jesus, a Terra Santa foi prometida uma segunda vez, dessa vez para os seguidores dele, não encontramos um contra-argumento judaico substancial reivindicando a posse humana coletiva do local. Infelizmente, a análise de Reiner não explica por que a peregrinação judaica não começou a vicejar mais cedo, no século IV d.C. Afinal, foi quando a cristandade começou a declarar seu vínculo e controle sobre a Terra Santa por meio do estabelecimento de inúmeras igrejas e locais comemorativos. A análise também falha em esclarecer por que a inveja judaica da “posse” não deu início a peregrinações alarmadas das grandes comunidades próximas do Egito e da Mesopotâmia após a conquista muçulmana de Jerusalém e a construção de suas imponentes casas de adoração na cidade. Já no século IX, o caraíta Daniel al-Kumisi expressou seu assombro com a recusa dos judeus rabínicos em visitar o Sião:
Outras nações que não Israel não vêm todo mês e ano dos quatro cantos da terra por temor a Deus? Qual é então o problema com vocês, nossos irmãos em Israel, que não fazem sequer como é o costume dos gentios, vir a Jerusalém e rezar aqui? (155)
Durante esse período, ninguém impediu os judeus de visitar ou residir em Jerusalém caso fosse de seu agrado. Interpretações que atribuem um sentimento de posse sobre a Terra de Israel aos judeus da corrente rabínica parecem de natureza amplamente anacrônica. De fato, tais intepretações servem primariamente para reproduzir um sentimento de propriedade sionista moderno no mundo espiritual judaico tradicional, cuja conexão com o lugar era tipicamente caracterizada por atributos psicológicos pré-modernos e apolíticos.
A verdade é que não sabemos ao certo por que as peregrinações judaicas cessaram por completo e só ressurgiram gradualmente muito mais tarde. Tudo que podemos oferecer são conjeturas. Deve-se lembrar que, para judeus e convertidos antes da destruição do Templo, a peregrinação não era feita a lugares santos da terra da Judeia, mas sim dirigia-se inteiramente para Jerusalém, não por iniciativa pessoal, mas em datas determinadas pela Bíblia. A destruição do Templo e da parte judaica da cidade no rastro da grande revolta messiânica erradicou por completo o motivo para essa prática e, conforme já ressaltado, alterou profundamente a natureza da fé judaica. A Jerusalém geofísica desvaneceu-se na consciência dos fiéis, e a Jerusalém celestial sobressaiu-se, emergindo como o centro judaico imaginário.
O encontro entre cristãos e, mais tarde, muçulmanos convertidos – que até recentemente haviam sido judeus – e a Terra em si também pode ter dissuadido aqueles que continuaram adeptos da religião de Moisés. Enquanto a cristianização de judeus da Palestina havia sido relativamente moderada até a chegada dos exércitos árabes, o processo inicialmente lento e não necessariamente consciente de islamização iniciado no princípio do século VII parece ter por fim se tornado total e completo. De fato, levaria um período significativo antes que essa conversão em massa do povo da Terra, ocorrida ao longo de várias gerações, pudesse ser totalmente esquecida, permitindo aos judeus explorar a Terra Santa outra vez sem deparar com massas de convertidos e sua prole. Esses habitantes, pode se presumir, teriam tentado convencer os viajantes judeus a adotar seus rituais vitoriosos e o credo conquistador.
Também não devemos esquecer que, para o indivíduo judeu peregrino, a jornada da Europa para a Terra de Israel era virtualmente impossível por causa do perigo da não observância dos mandamentos. Pelo que sabemos, não existiam pousadas ou pontos de parada para judeus. Viajantes potenciais provavelmente eram desencorajados de embarcar nessa longa e perigosa jornada pelo risco de profanar o Sabá por causa da necessidade de viajar sem parar por estradas desconhecidas, da impossibilidade de rezar com um minyan (o quórum de dez judeus exigido para certas obrigações religiosas) e da dificuldade de observar as leis da dieta kosher durante a viagem (156). No fim das contas, ao fazer uma viagem para a Terra Santa, um judeu extremamente devoto seria forçado a ficar um pouquinho menos devoto.
A peregrinação judaica emergiu como uma ideia posterior à peregrinação cristã. Nunca atingiu dimensões comparáveis e assim talvez não possa ser considerada uma prática institucionalizada. Poucos peregrinos judeus partiram para a Terra Santa entre o século XII e o final do século XVIII d.C. em comparação com as dezenas de milhares de peregrinos cristãos que fizeram a viagem durante o mesmo período. Embora nessa época com certeza houvesse menos judeus que cristãos no mundo, é notável o quão pouco a Terra de Israel atraía os “filhos originais de Israel”. A despeito dos esforços da historiografia sionista ao longo de muitos anos para recolher todo fiapo de informação que refletisse a conexão concreta dos judeus com sua “pátria”, a iniciativa alcançou apenas um sucesso mínimo.
Por tudo que sabemos, o poeta e pensador rabino Yehudah Halevi foi o primeiro a decidir viajar para a Terra Santa, em 1140 d.C., embora jamais tenha concluído a viagem, ao que parece morrendo no trajeto. Não muito depois, em 1165, Maimônides e sua família deixaram o Marrocos e chegaram a Acre; o jovem filósofo visitou Jerusalém e Hebron, mas na sequência encontrou poucos motivos para retornar a esses locais, uma vez que sua família instalou-se nas proximidades, no Egito. A partir da segunda metade do século XII, temos também o testemunho de Yaakov Ben Natanel, que foi da Provença para a Palestina e deixou uma série de textos a respeito da visita. Outro texto curto do mesmo período, intitulado “Túmulos ancestrais” (Kivrei Avot), foi escrito por um judeu anônimo que parece ter saído de Damasco.
O fato mais interessante aqui é que os dois autores mais importantes a visitar e fornecer descrições detalhadas da Palestina durante esse período não foram peregrinos. Benjamin de Tudela (Espanha) e Pethahiah de Regenburg (Alemanha) foram dois pesquisadores viajantes que deixaram seus locais de residência a fim de se comunicar com as comunidades judaicas do mundo conhecido, e nessa atividade também foram até a Terra Santa. De uma perspectiva antropológica, seus testemunhos, redigidos em hebraico, são insubstituíveis (157), e suas descrições pitorescas da vida judaica em diferentes regiões, da Gália à pensínsula da Crimeia sob domínio kazar, são fascinantes. As duas narrativas refletem o papel limitado que a Terra de Israel desempenhava no imaginário judaico do período.
Esses dois intrépidos viajantes estavam muito mais interessados no povo que nos lugares físicos. Tinham curiosidade a respeito dos sítios sagrados e locais de sepultamento, mas abordam os estilos de vida e práticas religiosas com comentários muito mais originais. Benjamin e Pethahiah representam os elementos mais curiosos e alertas do mundo intelectual judaico medieval. Sem dúvida, nem tudo que relatam é plenamente exato, pois, inevitavelmente, muito do que se apresentou a eles o foi através do prisma de lendas e milagres familiares e obtiveram parte do conhecimento a partir de fontes secundárias em vez de observação pessoal. Todavia, seus relatos são de rara qualidade.
De acordo com os cálculos de Benjamin de Tudela, a população judaica da área entre Acre e Ashkelon era muito pequena se comparada com a da Babilônia, refletindo o fato de que, embora aparentemente enviassem os mortos para a Terra de Israel, os judeus não mandavam a descendência viva. Damasco impressionou-o muito mais que Jerusalém, que classificou como não mais que uma cidadezinha. Pethahiah, que transmitiu suas impressões a alunos em vez de redigi-las pessoalmente, ficou espantado com o pequeno número de comunidades judaicas no país. Ele também ficou impressionado com Damasco, com sua população judaica de dez mil, em contraste com as meras 300 famílias de judeus que então viviam na Terra de Israel. A importância relativamente menor de Jerusalém em sua história é surpreendente: de acordo com seu relato, os judeus pareciam preferir a peregrinação ao túmulo de Ezequiel na Babilônia, empreendida até por representantes dos kazares convertidos (158).
Do período entre as visitas de Benjamin e Pethahiah e o final do século VII chegou-nos um pequeno número de relatos sobreviventes de viajantes judeus que foram até a terra da Bíblia, tal como a narrativa interrompida de Shmuel Bar-Shimson sobre um grupo de rabinos basicamente da Provença (1210); a história do rabino Akiva, que foi a Jerusalém recolher dinheiro para seu yeshivah em Paris (antes de 1257); a emigração do idoso Nachmânides e o relato posterior de seu aluno a respeito disso; os comoventes poemas de Yehuda Alharizi, do início do século XIII; o elegante testemunho de Ishtori Haparchi, do começo do século XIV; e algumas outras narrativas incompletas e raras.
Entre os que chegaram à Terra de Israel nos séculos XV e XVI incluem-se o rabino Isaac ibn Alfara de Málaga (1441), rabino Meshulam de Volterra (1481), rabino Obadiah de Betinoro (1489) e rabino Moisés Basola de Pesaro (1521). A partir do século XVII, começaram a aparecer diários de viagem da Europa oriental, de Moisés Porit de Praga (1650), dos discípulos messiânicos de Judah Hahasid (início dos anos 1700), da surpreendente visita do rabino Nachman de Bratslav (1798) (159).
A peregrinação judaica, portanto, foi praticada de forma limitada por judeus ricos e cultos, em geral mas não sempre rabinos, e mercadores motivados por uma variedade de fatores nem sempre de natureza religiosa. Algumas jornadas foram o cumprimento de votos, outras o resultado de uma busca de expiação, outras ainda motivadas apenas por curiosidade e desejo de aventura. As peregrinações cristãs também podem ter fascinado não apenas peregrinos religiosos, mas também viajantes, especialmente da Itália. Uma linha de navio regular entre Veneza e Jaffa começou a operar no século XIV. Como resultado, o número de peregrinos cristãos para a Terra Santa chegou a 400 e 500 por ano (160).
O interesse e solidariedade dos viajantes judeus em relação a outros judeus são nitidamente refletidos em quase todas as narrativas. Embora não fiquem indiferentes à visão de paisagens antigas, em geral o foco dos relatos não é esse. Os relatórios de viagem são relativamente isentos de emoção e não empregam linguagem que sugira elevação espiritual ou êxtase religioso. Também salta à vista a ausência de qualquer hostilidade da parte dos “ismaelitas” – os muçulmanos locais – em relação aos viajantes judeus. As cartas dos viajantes são repletas de expressões de apreciação pela população local, que, ao contrário dos cristãos na Europa, não considerava o judaísmo uma religião inferior, desprezível (161). Esses relatos não revelam nada que impedisse os judeus de explorar a Terra Santa, e pouca coisa que os impedisse de lá se instalar. A Terra recebeu-os bem, mesmo que para muitos ela parecesse consistir apenas de deserto estéril; permaneceu sempre a terra do leite e do mel, pois, em última análise, os textos bíblicos permaneceram muito mais importantes do que aquilo que os viajantes viram com os próprios olhos.
Após fazer um voto de peregrinação, Meshulam de Volterra chegou a Jerusalém e ficou assombrado com a beleza de suas construções. Entretanto, esse frágil filho de um banqueiro da Toscana também ficou impressionado com o estilo de vida local: “Os ismaelitas e os judeus locais parecem porcos quando comem, pois todo mundo come com os dedos de um mesmo prato sem toalha de mesa, como no Egito. Seus trajes, contudo, são limpos” (162). Moisés Basola, em contraste, tem interesse muito maior por sepulcros e fornece a seus futuros leitores uma lista completa, permitindo a outros crentes seguir seus passos até os locais com facilidade (163).
De fato, a maior parte dos outros viajantes judeus visitariam e se prostrariam nos túmulos santos. Desde as sepulturas ancestrais da caverna de Machpela, até a tumba de José em Nablus e os sepulcros de Shimon Bar-Yochal e Hillel Shammai no monte Meron, os sítios de peregrinação multiplicaram-se. Moisés Porit, que escreveu em iídiche, informa-nos que os judeus já rezavam bem perto do Muro das Lamentações no século XVII:
Os judeus são proibidos de entrar no local onde ficava o Templo. O Muro das Lamentações está localizado no mesmo lugar, e os judeus têm permissão para visitar a face externa, não a face interna. Em todo caso, nos postamos e rezamos a certa distância do Muro das Lamentações e não chegamos perto por causa de sua santidade (164).
Em contraste, o diário de viagem de Moshe Haim Capsutto, que viajou de Florença até Jerusalém em 1734, enfatiza que os judeus não têm um gueto e podem viver onde quer que desejem; são aproximadamente dois mil em número [de uma população total de 50 mil, de acordo com seus cálculos], inclusive um número relativamente grande de mulheres que vieram para Jerusalém de diferentes lugares como viúvas a fim de desfrutar o resto de suas vidas na devoção (165).
Sem dúvida, muito mais judeus fizeram peregrinações a Jerusalém sem deixar uma marca literária. Um número significativo de peregrinos não sabia ler ou escrever. Também pode se presumir que muitos testemunhos perderam-se com o passar dos anos. Todavia, é evidente que a jornada à Terra de Israel não passava de uma prática marginal na vida das comunidades judaicas. Todas as comparações entre os números de peregrinos cristãos e judeus refletem que as viagens judaicas à Terra Santa eram uma gota no oceano. Conhecemos cerca de 30 textos que fornecem relatos de peregrinações judaicas durante os 1,7 mil anos entre 135 d.C. e meados do século XIX. Em contraste, para os 1,5 mil anos entre 333 d.C. e 1878, temos uns 3,5 mil registros de peregrinações cristãs à Terra Santa (166).
Os “filhos de Israel” tinham muitos motivos para a relativa indiferença e relutância física em se empenhar na peregrinação à Terra de Israel. Um é que dentro do judaísmo havia um profundo temor das correntes messiânicas com potencial de inflamar a comunidade e ameaçar a frágil existência judaica, cuja segurança dependia da graça de outras religiões governantes. O trabalho do sociólogo Victor Turner nos ensina que peregrinação sem supervisão, descontrolada, pode desestabilizar a ordem social de qualquer instituição religiosa. Comunidades conservadoras, em certos momentos preocupadas basicamente com sua própria existência, não podem acolher o projeto espontâneo e às vezes anárquico de fazer jornadas individuais ou em grupo a lugares santos, ou a “antiestrutura” que pode se desenvolver a partir da participação em tais experiências (167). Em contraste com o poder da Igreja, que tinha condições de dirigir e canalizar as peregrinações em seu benefício, as instituições comunitárias judaicas eram fracas demais para organizar peregrinações dirigidas, controladas, que servissem a seus interesses. Por esse motivo, exceto em uns poucos casos excepcionais, não encontramos encorajamento na comunidade judaica às peregrinações à Terra Santa. Também sabemos da oposição explícita às peregrinações por parte do judaísmo asquenaze quando elas gozaram uma popularidade considerada excessiva (168).
Todo caraíta que fizesse a peregrinação à cidade santa recebia o título honorífico de jerusalemita, que permanecia com ele pelo resto da vida. Na tradição rabínica, entretanto, não existe registro ou vestígio de tal classificação. Ao contrário dos peregrinos cristãos, os peregrinos judeus não eram agraciados com prestígio ou indulgências (indulgentia) que a Igreja organizada generosamente concedia aos fiéis da cidade onde Jesus foi crucificado, bem como a outros peregrinos. Além disso, ao contrário dos peregrinos muçulmanos de Meca, o indivíduo podia continuar sendo um judeu perfeitamente bom sem realizar sequer uma visita à Jerusalém terrena.
Claro que isso era válido contanto que o judeu não esquecesse a destruição da cidade santa, sendo que nesse caso sua mão direita “esqueceria sua destreza” (Salmos 137:5-6). “No ano que vem em Jerusalém”, exclamava todo judeu no Yom Kippur e na Páscoa Seder, no que equivalia a uma prece pela chegada da redenção e não um chamado à ação. Para os judeus, a cidade santa era uma região preciosa da memória, uma fonte constante de sustento da fé, e não necessariamente um sítio geográfico atrativo ao qual uma visita pudesse retardar ou impedir a chegada da salvação. Em última análise, o pensamento judaico enfocava muito mais a oração e o estudo diligente da lei religiosa judaica do que a peregrinação a um território desconhecido.
Geografia sagrada e jornadas à terra de Jesus
A despeito do mito da peregrinação de Jesus a Jerusalém na festa da Páscoa, a ideia de um ou de múltiplos centros santos não fazia parte da cristandade em seus primórdios. Embora os autores da Bíblia atribuam a Deus as palavras: “E que me façam um santuário, para que eu possa habitar no meio deles” (Êxodo 25:8), a declaração rebelde de Paulo no Novo Testamento afirma exatamente o contrário: “O Deus que fez o mundo e tudo que há nele, sendo Senhor do céu e da terra, não vive em templos feitos pelo homem” (Atos 17:24). Entretanto, como no caso de outras religiões, as gerações de cristãos que seguiriam o fundador subordinariam essa mensagem à evolução das mentalidades. A fé cristã em que Jesus trabalhou, caminhou e foi crucificado na Judeia era tão forte e presente que simplesmente não poderia ter sido modelada em um éthos de um local santo central (169).
Como vimos, na continuidade das três revoltas judaicas, os romanos tentaram arrasar Jerusalém como um centro de monoteísmo e apagar a aura de santidade que a envolvia. Entretanto, antes mesmo de o cristianismo tornar-se a religião oficial do Império Romano, vários peregrinos cristãos chegaram à cidade conturbada. O primeiro foi Melito, bispo de Sardes, que rumou para Jerusalém no século II d.C. e foi seguido por muitos outros. Também sabemos de peregrinos pioneiros que, durante o mesmo período, visitaram Belém, terra natal do filho de Deus, e Gólgota, o local de sua crucificação.
Mas foi a peregrinação à Palestina em 326 d.C. de Helena – mãe do imperador Constantino I, que se converteu ao cristianismo antes do filho – que inaugurou para valer a era da santificação cristã da cidade. De modo semelhante a uma outra Helena, a judia convertida e mãe de Izates e Monobaz II, reis de Adiabene, que visitou Jerusalém durante as primeiras décadas do século I d.C. e acrescentou esplendor ao Templo, a Helena posterior construiu as primeiras igrejas que se tornaram sítios peregrinos. A visita da imperatriz Helena começou uma tradição de séculos que se tornou parte integrante da vida da Igreja cristã.
Embora a instituição da peregrinação exista na maioria das religiões, seu papel e importância relativa variam de um credo para outro. Desde o início, as jornadas de peregrinação cristã diferiram das peregrinações festivas ao Templo judaico e da peregrinação anual muçulmana a Meca que se desenvolveu muito mais tarde. Diferente das congêneres judaicas e muçulmanas, a peregrinação cristã não se relacionava a um mandamento específico, e sua base teórica era puramente voluntária. Também diferia por não ser conduzida dentro uma estrutura formal coletiva e não ocorrer em datas estabelecidas durante o ano.
Edward David Hunt conjeturou que foi a tradição helenística romana de expedição de pesquisa, mais que a antiga peregrinação judaica, que forneceu os fundamentos culturais para a evolução da peregrinação cristã (170). O turismo erudito da pax romana brotou da curiosidade e do desejo de investigar, na tradição de Heródoto. A excitação de um encontro pessoal com lugares mencionados na literatura do passado resultou em uma onda de visitas, e as jornadas moldaram as práticas posteriores da peregrinação religiosa. Era uma atividade inteiramente intelectual, e a maioria dos que nela se engajavam eram bem-educados, muito cultos e muito bem de vida, assim como seus herdeiros, os novos monoteístas.
O profundo universalismo de que era impregada a nova religião serviu de estímulo adicional para a peregrinação cristã. Os novos crentes eram sedentos de conhecimento sobre as práticas das pessoas de lugares estrangeiros que compartilhavam de sua fé e partiram para ver por si mesmos. O primeiro destino foi a cidade de Roma, que oferecia os melhores intelectos e tesouros culturais e religiosos do mundo antigo. Por esse motivo, era lógico que a cidade se tornasse o centro sagrado primário da cristandade. A crucificação do apóstolo Pedro em Roma também resultou na construção da maior igreja do mundo, que por fim seria conhecida como o Vaticano.
A história cristã produziu numerosos locais de peregrinação, inclusive os túmulos de monges e clérigos excepcionais e os sítios de milagres. Tais lugares foram santificados e muito visitados. Mas foi a terra da Bíblia, onde os profetas profetizaram e por onde Jesus caminhou, que se tornou o local mais popular de todos. A província da Palestina logo tornou-se a Terra Santa para todos os cristãos do mundo; dezenas de milhares, se não centenas de milhares de crentes cristãos visitaram-na desde a época da peregrinação do viajante anônimo de Bordeaux em 333 d.C. até a do papa Bento XVI em 2009. Enquanto o judaísmo começou como uma religião focada em um centro físico do qual subsequentemente desligou-se por meio de um processo de espiritualização, em muitos aspectos o cristianismo desenvolveu-se em sentido contrário.
A territorialização da santidade cristã surgiu primeiramente por meio de uma vanguarda de peregrinos e dos recursos mentais e materiais à disposição da Igreja. Mesmo que a cultura sionista inicial tentasse apoderar-se do “viajante de Bordeaux” para a tradição judaica (171), o primeiro peregrino verdadeiro a nos deixar um registro foi um devoto cristão que teve êxito em introduzir uma nova tradição na consciência europeia. Esse pioneiro chegou à “Palestina, que é a Judeia” (conforme ele descreveu o país) (172) nos primeiros tempos da cristandade, enquanto as primeiras igrejas eram construídas lá. Visitou lugares bíblicos e cristãos na Cesareia, Jezreel, Citópolis, Neápolis e Jerusalém (a praça do Templo, o tanque de Siloam, a casa do sacerdote Caifás, a Torre de Davi, o Gólgota, as tumbas do profeta Isaías e do rei Ezequias, e outros). De Jerusalém, ele prosseguiu para Jericó, até a casa da prostituta Raab e o rio Jordão, onde João batizou Jesus; para Hebron, local do sepultamento de Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e Jacó e Lea; e de lá para Dióspolis, ou Lídia, e de volta para Cesareia.
A caminho da Palestina, o viajante de Bordeaux parou em Roma, mas nada teve a dizer a respeito. Também não se interessou pelos habitantes da Terra, suas paisagens físicas, seus rios ou pela qualidade do solo em seus vales. Como filho da “verdadeira Israel”, ele entendia o Velho e o Novo Testamento como uma unidade narrativa e fez registros apenas sobre lugares relevantes a sua leitura minuciosa da Bíblia. Na verdade, ele nos apresenta não o diagrama de uma jornada através de uma área real, mas sim um esboço exato, calculado, geoteológico dos lugares santos. No esforço para capturar a realidade física por trás da literatura escrita, ele, inadvertidamente, criou uma geografia sagrada.
O segundo diário de viagem que temos ao nosso dispor reforça o contorno da nova geoteologia. Egéria, uma mulher da península Ibérica, provavelmente uma abadessa que fez uma peregrinação a Jerusalém na segunda metade do século IV, registrou uma descrição de todos os locais santos do Oriente Médio, a partir das pegadas dos antigos israelitas até a caminhada final de Jesus em Jerusalém. Sem se limitar à Palestina, “que é a terra da promessa” (173), ela conseguiu explorar o local da residência de Abraão na Mesopotâmia, bem como o misterioso deserto do Sinai, pelo qual o profeta Moisés liderou as tribos de Israel. Ela descreveu a Terra Santa nos mínimos detalhes, especialmente Jerusalém, o lugar mais precioso de todos, e tentou cobrir todos os sítios mencionados em sua Bíblia Sagrada. “Um tanto curiosa” (174), de acordo com seu próprio testemunho de caráter pessoal (ela escreve na primeira pessoa), Egéria adaptou de modo persistente seus achados geográficos aos textos antigos. Em seu grande entusiasmo, acrescentou informações pouco detalhadas das perguntas feitas aos habitantes locais. Todavia, não manifestou interesse pelo presente e, como no caso do viajante de Bordeaux, não teve interesse particular pelos habitantes locais, exceto quando realizavam cerimônias rituais, com as quais se comoveu e animou.
A rica obra de Egéria revela uma nova e fundamental dimensão da peregrinação cristã que se intensificou nos anos seguintes à sua visita. Mais do que se deslocar pelo espaço, ela se moveu no tempo, usando o passado distante a fim de reforçar e institucionalizar os fundamentos de sua fé. Aprender sobre os lugares santos ajudou a proporcionar uma base concreta para uma religiosidade mais abstrata. Em seus escritos, a piedade intensa, urgente e ascética é entremeada de investigação acadêmica e parece que a geografia destina-se primeiro e acima de tudo a reforçar a “mito-história”. Ela não questiona os milagres e maravilhas das histórias cristãs da Bíblia. Em vez disso, os lugares físicos em si servem para reafirmar a veracidade de tudo que foi contado: a existência da terra concede validade à verdade divina e oferece evidência decisiva de realidade.
Dessa maneira, a peregrinação cristã à Terra Santa abarcou dois estratos intelectuais: a tradição teológica bíblica e a tradição grega de investigação. Jerônimo, o padre culto que chegou a Belém e lá permaneceu como morador permanente, ilustrou clara e publicamente esse ponto com suas obras e traduções. A despeito do desagrado com a peregrinação em massa e das reservas quanto à veneração de sítios e túmulos por si sós, ele louva a viagem erudita à “Atenas da cristandade” e a considera um importante meio complementar de investigação do significado oculto dos velhos e novos pactos. Por fim, Jerônimo propõe que a topografia é a bigorna onde o verdadeiro entendimento teológico é forjado. Cada lugar tem um nome e cada nome oculta significados secretos, cujo entendimento nos aproxima de uma compreensão da intenção divina. Quando a grande amiga de Jerônimo, Paula, a rica matrona de Roma, passeia pelos lugares santos, o que encontra é um mundo maravilhoso, todo ele alegoria. A Palestina de Jerônimo e Paula é um território imaginário; visitá-la torna-se uma espécie de viagem textual, assim como foi para Egéria e para o peregrino de Bordeaux (175).
Os diários de viagem de monges e padres refletem o quanto o cristianismo necessitava da topografia, não só para reforçar a veracidade de suas histórias, mas também, e igualmente importante, criar uma ponte entre o reino da Judeia, com seus antigos governantes e profetas, e a obra posterior de Jesus e seus leais apóstolos. A construção da continuidade entre as histórias do Velho Testamento e as narrativas dos Evangelhos foi auxiliada pela criação de uma contiguidade geográfica sagrada, que, a despeito da aplicação ao passado, carece de cronologia verdadeira. Construções antigas podiam ser atribuídas simultaneamente a diferentes períodos, e se os peregrinos deparassem com Abraão, o arameu, e João Batista caminhando de mãos dadas, com certeza ficariam agitados e empolgados, mas não inteiramente surpresos.
A certeza de que Jesus era ao mesmo tempo descendente da Casa de Davi e herdeiro espiritual dos profetas bíblicos Moisés e Elias também foi obtida identificando-se uma série de locais retratados uns perto dos outros no mesmo espaço determinado. A unidade territorial da Terra Santa ao longo de diferentes períodos serviu de prova adicional da unidade narrativa de todos os livros da Bíblia.
Todos os peregrinos que deixaram documentação escrita acrescentaram novos elementos, reforçando o conhecimento geográfico que começou a se esboçar entre os séculos IV e VI d.C. Entretanto, deve-se lembrar que a documentação escrita não era o único meio de se disseminar esse conhecimento. Quando os peregrinos voltavam a seus locais de residência, viajavam de cidade em cidade contando suas experiências aos ouvintes, em geral em troca de pagamento. Às vezes, viajavam em grupos, outras vezes, sozinhos. Embora a Igreja ocasionalmente os temesse, em geral tinha condições de canalizar as experiências para o contínuo aumento de seu poder e expansão.
O domínio bizantino marcou a primeira era de ouro da administração da geografia sagrada para os membros educados de todos os setores da Igreja. Das ilhas Britânicas à Escandinávia, Alemanha e Rússia, peregrinos medievais organizaram-se a fim de provar a Terra Santa e sentir o aroma da terra majestosa de Jesus. Para respirar o ar que o Messias respirou, foram em bandos para a Terra Santa, prontos a enfrentar tormentos e privação e arriscar a vida. Sob o domínio muçulmano, não foram tomadas medidas fortes para cessar essas peregrinações, pois os árabes locais em geral obtinham benefício material do fluxo infindável de visitantes, cuja maioria chegava com dinheiro em mãos. Além disso, o islã considerava o cristianismo uma religião irmã, a despeito da recusa enfática desta em reconhecer a outra como tal.
Por volta do ano 1000, o fluxo de peregrinos aumentou devido às noções milenaristas e escatológicas que então varreram a Europa. Mais que nunca, Jerusalém pareceu o umbigo do mundo, que se abriria para proporcionar a salvação final. De modo coerente, os cristãos que desenharam mapas durante esse período colocaram a cidade santa no centro do mundo, retratando-a como o cerne de onde tudo emergiu e para onde tudo retornaria. Embora o ano decisivo não tenha cumprido as expectativas, massas de peregrinos continuaram a visitar Jerusalém, inclusive bispos ilustres e abades famosos, ricos e reverenciados. A eles juntaram-se aventureiros, mercadores e eventuais criminosos foragidos, cuja jornada resultava em um lugar de refúgio e a oportunidade para um ato de penitência.
Só depois da queda de Jerusalém diante dos turcos seljúcidas em 1078 e da imposição de restrições de liberdade de culto na Igreja do Santo Sepulcro e outras casas de oração é que o fluxo de peregrinos diminuiu, mas não por muito tempo. A Primeira Cruzada reabriu os portões da cidade em 1099, e o fluxo de visitantes a Jerusalém permaneceu ininterrupto até os tempos modernos.
As restrições impostas pelos seljúcidas e seu assédio aos peregrinos cristãos forneceu o pretexto principal para as Cruzadas. Mas havia motivos políticos e socioeconômicos mais importantes dentro da Europa para essa explosiva onda cristã na terra de Jesus. Entre outros fatores, as causas para essa campanha invasiva e sangrenta incluíam os problemas do status social da aristocracia sem terras, o desejo de controle e expansão dentro da Igreja católica, a ânsia de dinheiro de mercadores experientes, e a procura por parte dos cavaleiros de motivos para se sacrificar (176). Parece quase certo, porém, que o extenso cultivo ideológico da geografia sagrada também contribuiu para a dimensão da mobilização e ao reforço do sentimento religioso e psicológico dos cruzados. Como resultado da disseminação dos diários dos cruzados (como um suplemento da Bíblia, não um substituto), muitos combatentes cruzados chegaram a uma região de certo modo familiar que, em um grau elevado, era percebida como tendo sido sempre sua Terra Santa. Alguns estudiosos até consideram as Cruzadas como espécie de peregrinação – quer dizer, uma peregrinação armada (177).
É interessante notar que em seu discurso de mobilização de 1095, no qual conclamou os seguidores a embarcarem na Primeira Cruzada, o papa Urbano II louvou a conquista bíblica da Terra Santa pelos “filhos de Israel” e implorou aos sucessores cristãos que seguissem os passos deles (178). Também foi dito que, quando os Cavaleiros de Jesus – conforme eles se autodenominavam – chegaram a Jerusalém em 1099, deram sete voltas ao redor da cidade descalços na esperança de repetir o milagre ocorrido em Jericó. Entretanto, como todos os crentes sérios sabem, milagres não se repetem, e os cavaleiros foram forçados a penetrar os muros da cidade sem o auxílio direto de Deus. O massacre dos habitantes da cidade – muçulmanos, caraítas, judeus e até mesmo cristãos bizantinos – faz lembrar as atrocidades contadas em detalhes na narrativa bíblica.
O reino cruzado dominou Jerusalém por 88 anos e, por um período adicional, controlou uma faixa estreita ao longo da costa da Palestina e do sul do atual Líbano. O reino foi enfim destruído em 1291. Seu controle da cidade santa durou quase o mesmo tempo que o reino independente dos macabeus, que existiu da metade do século II a.C. até a metade do século I a.C. Os cruzados tentaram convencer os numerosos peregrinos, que os viam como irmãos, a fazer seu lar em Jerusalém, de modo a reforçar o caráter cristão da cidade. Mas muitos peregrinos execraram os cruzados por seu estilo de vida tosco e secular, e sua profanação da Terra Santa, e a maioria preferiu voltar rápido para a Europa (179). No auge do processo de assentamento, os colonos cristãos na cidade somaram 30 mil, ao passo que a população total de cruzados jamais passou de 120 mil. A maioria da população trabalhadora – entre 250 mil e 500 mil pessoas – permaneceu muçulmana, com uma minoria cristã bizantina. A despeito de grandes esforços, combinados com o apoio logístico trazido periodicamente da Europa, a Palestina nunca foi verdadeiramente cristianizada. Durante os 1,3 mil anos anteriores à segunda metade do século XX, ela permaneceu uma região majoritariamente muçulmana (180).
Todavia, esses acontecimentos não arrancaram a Terra Santa do coração dos cristãos. O fato de tanto sangue cristão ter sido derramado no solo de Jesus empurrou a Terra cada vez mais para o centro do imaginário cristão. Tampouco a peregrinação diminuiu, embora os diários de viagem tenham passado por mudanças significativas. Aparentemente, o caráter missionário tão profundamente arraigado na religião da Santíssima Trindade exigia um influxo contínuo de imagens terrestres que demonstrassem a realidade espiritual. A retórica de persuasão e a disseminação da religião baseavam-se primariamente no poder da graça que já havia descido à terra. Contudo, essa redenção havia surgido não em um lugar abstrato, mas sim em um local específico, e os novos fatos que continuavam a chegar do campo serviam como um importante e efetivo componente de propaganda religiosa. Desde sua concepção, as peregrinações foram permeadas de forte impulso missionário, e o esforço para chegar a Jerusalém tornou-se parte integrante do desejo intenso de tornar o mundo inteiro cristão (181).
Perto do fim da era medieval, o peregrino retornado de Jerusalém – a personificação do autêntico crente corajoso – surgiu como herói cultural, se é que essa expressão pode ser justificadamente aplicada ao período. Sua vestimenta característica era conhecida pelos aldeões incultos, e sua imagem adorna muitas obras escritas. Era ele que trazia as últimas notícias da Terra escolhida por Deus para ter o Messias, e era ele que informava que a Terra estava sendo repetidamente profanada por hereges estrangeiros não civilizados.
Todavia, também precisamos lembrar que o forte amor dos cristãos pela Terra Santa e a admiração pelos antigos hebreus que palmilharam o solo não neutralizou a hostilidade em relação ao crente judeu que se misturou às sombras da cristandade vitoriosa. Isso era periodicamente comprovado pelos cruzados, e especialmente por aqueles que os acompanhavam, quando iam a Jerusalém. Ao retornar, os peregrinos falavam de Judas Iscariotes, traidor de Jesus (182); na visão deles, os judeus humilhados foram expulsos da Terra por causa de sua indignidade, comprovada pela existência marginal e vergonhosa nos guetos da Europa. Esse ponto de vista, disseminado entre cruzados e peregrinos, mudaria de certa forma no Ocidente com o início da Reforma.
Da Reforma Puritana ao evangelismo
A turbulência da Reforma reduziu temporariamente as ondas de peregrinação cristã. As críticas levantadas contra a corrupção da Igreja em torno da venda de indulgências, somadas às grandes dúvidas a respeito da veneração ritual de túmulos e sítios de pedra e solo, esfriaram temporariamente – mas não acabaram com – o tradicional entusiasmo pela peregrinação. Em desdobramento semelhante ao ocorrido dentro do judaísmo rabínico após a destruição do Templo, a Jerusalém celestial passou a ocupar uma posição mais exaltada que a Jerusalém física, terrena, na rebelião protestante original que acompanhou a separação do catolicismo. De acordo com a nova retórica purista, a redenção espiritual precedia a redenção do corpo, e a salvação tornou-se um processo muito mais interno e pessoal.
Esse clima renovador não tornou a Terra Santa irrelevante para os novos cristãos. De fato, em certa medida, revitalizou a Terra e trouxe-a para ainda mais perto de seus corações. Dois acontecimentos entrelaçados tiveram papel nessa dinâmica: a revolução da imprensa dos séculos XV e XVI e a tradução da Bíblia para muitas outras línguas. No decurso de quatro décadas no século XVI, a Bíblia completa apareceu nos dialetos administrativos chamados mais tarde a se tornar línguas nacionais: alemão, inglês, francês, dinamarquês, holandês, polonês e espanhol. Dentro de poucos anos mais, foi traduzida para as demais línguas literárias então em processo de cristalização e padronização. A revolução da imprensa, que desde o início mudou por completo a morfologia cultural da Europa, transformou a Bíblia no primeiro best-seller da história. Claro que os leitores ainda consistiam basicamente de membros da elite, mas agora era possível ler em voz alta as lendas teológicas e as maravilhas para comunidades em constante expansão, em línguas com as quais elas estavam mais familiarizadas.
Nas regiões tocadas pela Reforma, a Bíblia popular substituiu a autoridade papal como fonte da verdade divina. O impetuoso movimento de retorno às Escrituras, e a tendência crescente de confiar unicamente nelas e não nas instituições mediadoras, impregnou os textos de uma aura de autenticidade renovada. Dali em diante, os crentes não exigiam simbolismo ou alegoria, e ficaram autorizados a interpretar os textos escritos de forma literal. As traduções fizeram as antigas histórias parecer mais próximas e mais humanas. E, como o cenário dessas histórias era o espaço onde o precursor Abraão, o rei Davi, os profetas éticos, os heróis macabeus, João Batista e Jesus, o filho de Deus, e seus apóstolos viveram, esse espaço tornou-se familiar – porém, ao mesmo tempo, maravilhoso e misterioso. Dessa maneira, tanto o Velho quanto o Novo Testamento tornaram-se livros caracteristicamente protestantes.
Entretanto, apenas em um reino as Escrituras renovadas louvaram não só a Terra Prometida mas também o “povo precioso” escolhido para herdá-la. A Inglaterra do final do século XVI testemunhou o aparecimento de círculos de elite cultos que exibiram os primeiros sinais de protonacionalismo primitivo (183). Efetuada a separação de Roma, o estabelecimento da Igreja anglicana contribuiu de forma significativa para a construção de uma identidade local mais distinta que, como todas as futuras identidades coletivas, buscou modelos para emular.
Modelos desempenham um papel decisivo no surgimento de novos nacionalismos, hesitantes e incertos. No caso da pioneira Inglaterra, não foi coisa simples escolher um modelo histórico em torno do qual uma nova identidade pudesse cristalizar-se. A sensibilidade protonacionalista inglesa começou a surgir antes da era do iluminismo do século XVIII. Os brotos da identidade coletiva moderna, que mais tarde cresceriam em uma estrutura conceitual abrangente que definiria a vida política do mundo inteiro, começaram a nascer no solo profundamente religioso das ilhas Britânicas, não fertilizado pela dúvida. Esse fato mais tarde desempenharia papel decisivo na formação do nacionalismo inglês e subsequentemente britânico.
Por exemplo, os primeiros ingleses não tiveram a opção de considerar a antiga rainha celta Boudica como a mãe ancestral da nação inglesa, como seria proposto no século XIX. Essa líder tribal, que se rebelou contra os romanos no século I d.C., era uma verdadeira pagã, de quem poucos, se é que alguém, tinham ouvido falar no século XVI. Outra impossibilidade foi a identificação francesa com a antiga república romana, como seria proposto durante a Revolução Francesa – impossível tanto porque a Roma antiga era politeísta, quanto porque a Roma papal contemporânea era foco de hostilidade e ridículo.
A conquista forçada de uma terra pelas tribos de Israel, fortalecida pelo encorajamento de Deus; os severos juízes da Judeia, que lideraram a guerra contra os vizinhos; os corajosos macabeus, que partiram em defesa de seu Templo – esses e outros representantes do “povo” bíblico passaram então a ser vistos como modelos exaltados, dignos de emulação e identificação. Por esse motivo, o Velho Testamento recebeu prioridade sobre o Novo Testamento na Inglaterra. É verdade que era menos universal, mas em grande medida girava em torno de uma mensagem destinada a um povo escolhido, distinto. Também não mandava dar a outra face: seu Deus era ciumento e rijo em sua luta intransigente contra os inimigos idólatras. Assim, a Inglaterra que defendia sua singular Igreja de verdade e a Inglaterra que havia se designado conquistadora de vastas áreas fundiram-se às vésperas da era moderna à sombra da Bíblia hebraica.
Entre 1538, quando Henrique VIII ordenou que a Bíblia fosse colocada em todas as igrejas da Inglaterra, e a conclusão de sua nova tradução em 1611, durante o reinado de Jaime I (a Bíblia do rei Jaime), a Inglaterra acolheu os antigos filhos de Israel em seu cálido seio monárquico. Isso não significou que os judeus tenham obtido permissão imediata para retornar ao reino de onde haviam sido expulsos no ano de 1290; para isso, teriam que esperar até 1656, ou seja, até a Revolução Puritana e Oliver Cromwell. Nesse ínterim, a Inglaterra ainda não associava os orgulhosos hebreus do passado com os desprezíveis judeus do presente, e, portanto, não era absolutamente problemático considerar aqueles nobres e estes abjetos (184). Além disso, os hebreus da Bíblia agora haviam começado a falar em inglês contemporâneo, em vez do antigo e pesado latim. Esse desvio do latim e o distanciamento do catolicismo ajudaram a transformar o hebraico em uma língua pura, a ser emulada, e ela tornou-se um tema cada vez mais prestigioso e disseminado de estudo universitário. Por fim, esse processo deu origem a um novo “filossemitismo” (185).
Alguns estudiosos ingleses do período pesquisaram em busca de raízes que os ligassem biologicamente à terra de Canaã. Outros conjeturaram que os habitantes das ilhas Britânicas eram os autênticos descendentes das dez tribos perdidas. Quase toda a elite aderiu a essa tendência, e a Bíblia era a única coisa que se lia em muitas casas. O Livro dos Livros também tornou-se o foco da estrutura educacional de prestígio, e muitas crianças da aristocracia começavam a aprender sobre os heróis bíblicos antes mesmo de aprender os nomes dos antigos reis ingleses. Com frequência também aprendiam a geografia da Terra Santa antes de aprender as fronteiras do reino em que haviam nascido e crescido.
O estabelecimento da Igreja anglicana, portanto, catalisou uma nova atmosfera e, ao mesmo tempo, novas correntes de protesto anticonformista. O puritanismo rebelde, que surgiu contra o pano de fundo do uso instrumental da nova Igreja pela casa real, atraiu muitos membros e, no auge dessa efervescência religiosa, fundiu-se com as novas forças políticas e sociais, levando a uma grande revolução. Durante todo esse período, a Bíblia hebraica serviu de guia ideológico dominante não só para a Igreja no poder, mas também para a maioria de seus críticos (186).
Entre os puritanos, a rejeição de todas as instituições religiosas e da autoridade religiosa produziu uma lealdade ilimitada ao texto sem interpretações. As facções perseguidas preferiam as leis originais de Moisés em vez das regras da Igreja estabelecida, consideravam a espada de Judas Macabeu tão fidedigna quanto a missão do apóstolo Paulo e adotavam uma severidade moral que estava mais de acordo com os mandamentos de um Deus irado do que com a misericórdia e perdão de Jesus. Portanto, dentro de poucas gerações, encontramos mais nomes hebreus que nomes tradicionais cristãos entre esses grupos, e, quando perderam a força na Inglaterra e emigraram para a América do Norte, compararam-se aos leais soldados de Josué, o conquistador, prestes a herdar a terra de Canaã. Sabe-se que Oliver Cromwell também se considerava um herói bíblico. Seus batalhões cantavam salmos antes de ir para a batalha, e às vezes optavam por estratégias militares baseadas em modelos de combate relatados na Bíblia. A Inglaterra tornou-se a antiga Judeia, e a Escócia a vizinha Israel. Em grande medida, o passado distante era visto como um ensaio geral para o presente, que estava preparando o terreno para a chegada da salvação.
A tendência hebraica também resultou em reflexões sobre o restabelecimento do país da Bíblia. E quem poderia ser mais digno que os judeus de estabelecer o país, na época controlado por hereges muçulmanos? Com a eclosão da revolução, dois batistas ingleses exilados na Holanda – Johanna Cartwright e seu filho Ebenezer – pediram ao governo que a Nação da Inglaterra, com os habitantes dos Países Baixos, seja a primeira e esteja mais disposta a transportar os filhos e filhas de Israel em seus navios para a Terra prometida a seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó para uma Herança eterna (187).
Tecido não só pela petição dos Cartwright, mas também pela postura assumida na década de 1840 por lorde Palmerston, secretário de Relações Exteriores, e pela célebre carta de lorde Balfour a lorde Rotschild em 1917, esse é um fio comum ou, para usar outra metáfora, uma artéria pulsante dentro do corpo político inglês (e subsequentemente britânico). Sem essa artéria e os elementos ideológicos singulares que ela transportava, é de se duvidar que o Estado de Israel pudesse ter sido um dia estabelecido.
Conforme observado, o surgimento relativamente precoce do sentimento protonacionalista na Inglaterra, assim como a precoce separação do reino inglês do papa, desempenhou papel significativo em criar o poderoso papel ocupado pela Bíblia hebraica na construção das identidades políticas modernas do país. Não por coincidência, a primeira ideia “sionista” surgiu não entre judeus que viviam na fronteira entre a Europa ocidental e a oriental, como ocorreria séculos mais tarde, mas sim na atmosfera revolucionária/religiosa das ilhas Britânicas (188).
Os puritanos começaram a ler a Bíblia como um texto histórico muito antes de os judeus sionistas cogitarem fazer isso. Eram crentes que ansiavam pela salvação, a qual consideravam intimamente ligada ao restabelecimento do povo de Israel em sua Terra. Esse vínculo não resultava de nenhuma preocupação especial com o sofrimento judaico, sendo proveniente da crença de que a redenção cristã de toda a humanidade tinha que ser precedida pelo retorno dos filhos de Israel ao Sião. No decurso desse cenário de longo prazo, supunha-se também que os judeus se convertessem ao cristianismo. Só então o mundo veria a segunda vinda de Jesus (189).
Essa abordagem escatológica penetrou profundamente nas diversas correntes protestantes, permanecendo viva no século XXI. Enquanto este livro é redigido, ainda existem muitos grupos evangélicos dentro dos Estados Unidos que apoiam a existência de um Israel grande e forte, baseados na certeza de que tal apoio é essencial para acelerar o domínio universal de Jesus sobre a terra – e que os judeus que se abstêm da conversão devem por fim pagar o preço, isto é, desaparecer e arder no inferno, é claro.
Importante referência: “grupos evangélicos dentro dos Estados Unidos que apoiam a existência de um Israel grande e forte”. Esses grupos estão na origem das mitologias que alimentam o populismo-autoritário ou nacional-populismo bannonista e trumpista. Têm a ver, portanto, com o surgimento da extrema-direita e da direita alternativa. Não é por acaso que os bolsonaristas coloquem a bandeirinha de Israel em seus perfis nas mídias sociais.
Nesse ínterim, muitos puritanos do século XVII estavam convencidos de que, a fim de acelerar a redenção, os judeus deveriam ter permissão de voltar à Inglaterra, de onde haviam sido expulsos há mais de três séculos. Aos olhos deles, a dispersão judaica havia sido uma precondição para o subsequente reajuntamento na terra do Sião. Conforme o livro do Deuteronômio havia profetizado: “E o Senhor vai espalhar vocês entre os povos, de uma ponta da terra a outra, e lá vocês hão de servir outros deuses” (28:64). Dessa maneira, a recusa do reino inglês de permitir o assentamento dos filhos de Israel na extremidade ocidental da Europa era vista como um fator que retardava a chegada da redenção. Portanto, quando várias pessoas pediram a Cromwell que permitisse a retorno dos judeus à Inglaterra, ele aquiesceu, impondo essa autorização histórica ao Parlamento.
A mudança significativa na atitude em relação aos judeus não foi completamente destituída de interesse pessoal. Como no caso de lorde Balfour cerca de 250 anos depois, a Bíblia hebraica fundiu-se muito bem com o mundo de atividades internacionais familiar a Cromwell. O Lorde Protetor reconheceu o direito dos judeus de voltar às ilhas Britânicas não só por razões de natureza ideológica, mas aparentemente também por motivos econômicos e comerciais (190). A instabilidade que assolou a Grã-Bretanha durante os tremores da revolução enfraqueceu temporariamente o comércio exterior do jovem império. Os competidores mais ferrenhos da Grã-Bretanha eram os Países Baixos, que continuaram a avançar, adquirindo mais e mais mercados, em particular no Levante. Em grande parte, as forças mais dinâmicas na vida econômica de Amsterdã eram judaicas. A maioria eram descendentes dos anussim (judeus forçados a abandonar sua fé contra a vontade) que tinham experiência em comércio e haviam chegado a Amsterdã vindos da Espanha e de Portugal. A Inglaterra estava interessada em atrair esse capital humano para seu comércio exterior. De fato, a chegada de mercadores judeus contribuiria para uma certa melhora da economia em um estágio posterior. Os devotos puritanos também haviam comprovado seu valor como artesãos e mercadores habilidosos; como sabemos, eles e outros protestantes conseguiram desenvolver grandes porções de todo um continente de modo eficiente após a remoção da população indígena (191).
No final de sua era dourada revolucionária, os puritanos voltaram-se para o oeste, enquanto no mesmo período o reino inglês mostrava crescente interesse pelas rotas mercantis para o Oriente. Para ser mais exato, foram os mercadores do reino que demonstraram interesse, como de costume, montando o cenário para medidas políticas com seus incansáveis esforços para comprar e vender em regiões ainda não penetradas pelo comércio inglês. O alvo principal era o subcontinente indiano, mas a rota passava pelo Oriente Médio, atravessando o Império Otomano.
Em 1581, a rainha Elizabeth I concedeu à Companhia do Levante, com sede em Londres, uma concessão para negociar com o sultão otomano Murad III. Foi o primeiro passo de uma longa e sinuosa jornada que levaria a Grã-Bretanha a mandar na Índia, penetrar no império da China e por fim, em 1918, coroando a era do imperialismo, substituir o decadente poder otomano em grandes porções do Oriente Médio. A história do final do século XVI até meados do século XX criou o vasto Império Britânico, “onde o sol nunca se põe”. E, durante o mesmo período, na Grã-Bretanha em si a crença na singularidade religiosa da Terra Santa nunca desapareceu por completo.
Como resultado do florescimento do comércio no Oriente, os peregrinos não estavam mais sozinhos ao viajar para a Palestina; agora mercadores aventureiros juntavam-se a eles. A Terra em si não interessava aos mercadores como fonte de lucro, mas Jerusalém estava em sua rota, e o manto religioso que envolvia o ímpeto comercial incitou uma curiosidade especial. Os viajantes mais cultos escreviam diários de suas jornadas que vendiam bem em seus países natais. Menos repletos de descrições da geografia sagrada tão crucial para os cruzados, os relatos contam mais sobre a situação econômica da região. Entretanto, assim como seus pares ascéticos, eles também estavam bem pouco interessados na maioria muçulmana da população. Fizeram observações basicamente sobre os habitantes cristãos, e sobre uns poucos judeus aqui e ali. É verdade que eram forçados a negociar com os dirigentes locais, mas os lavradores humildes da terra na realidade não existiam para eles. Seu desprezo pela população árabe e profundo desdém pelas pessoas que consideravam bárbaros hereges tiveram impacto direto na evolução do olhar orientalista que se desenvolveria nos círculos intelectuais ocidentais.
A despeito da ascensão do intenso e revolucionário empirismo britânico, e não obstante o crescente vigor do ceticismo filosófico e do racionalismo, dos deístas a Hume (192), a cultura britânica permaneceu envolta em crenças milenaristas. Muitos grupos buscavam estabelecer elos entre versos proféticos dos textos sagrados e acontecimentos políticos contemporâneos, embora a prática pareça ter declinado em face do “iluminismo” da pequena elite cultural do século XVIII. Entretanto, os semieducados continuaram a cultivar com vigor a moralidade devota cristã de várias formas. Por meio de obras como O peregrino (The pilgrim’s progress, 1678), de John Bunyan, um best-seller que só ficou atrás da Bíblia, o popular The Land and the Book (A Terra e o Livro, 1858), do norte-americano William M. Thomson, e o romance sionista Daniel Deronda (1876), de George Eliot, a Terra Santa enveredou profundamente na mente de muitos anglo-saxões, inclusive, é claro, de muitos norte-americanos (193). Embora a estrada para o “sionismo cristão” fosse inicialmente pavimentada durante as aulas de estudo religioso ministradas nas escolas para a nobreza, em especial aos domingos, na continuidade foi ladrilhada com o auxílio da literatura popular. A lista de autores que visitaram a Palestina no século XIX revela a extensão em que a Terra incendiou a imaginação literária dos americanos, bretões e europeus em geral. Para William Makepeace Thackeray, que a visitou em 1845, para Herman Melville, em 1857, e para Mark Twain, que a visitou em 1867 e zombou da santidade cheia de ansiedade de todos os que o precederam, a misteriosa terra da Bíblia atraiu um grande número de artistas (194).
A ficção literária entrosou-se facilmente com o imaginário político contemporâneo e os primórdios hesitantes da fome por império. Após Napoleão desafiar com insolência os baluartes e as esferas de influência britânicas pela Europa e pelo mundo, começou a se cristalizar em Londres uma estratégia de certo modo mais consistente que sua política no Levante. Em 1799, durante a campanha de Napoleão ao longo da linha costeira palestina que terminou com o cerco a Acre, a marinha britânica foi em auxílio do sultão otomano e ajudou a derrotar o jovem general francês (195). Ao desenvolver uma situação favorecida com os otomanos baseada em interesses comerciais, os representantes britânicos tiveram condições de intensificar as atividades na Terra Santa.
O ano de 1804 marcou o estabelecimento da Associação Palestina, e 1809 o da Sociedade Londrina para a Promoção do Cristianismo entre os Judeus. Os esforços das duas associações foram relativamente malsucedidos, com a primeira conseguindo apenas organizar uma viagem fracassada, e a segunda convertendo ao cristianismo um pequeno número de judeus da terra da Bíblia. Entretanto, a Associação Palestina serviria de modelo para grupos posteriores. Além disso, George Stanley Faber, um dos fundadores da Sociedade para a Promoção do Cristianismo, era um professor de teologia de Oxford cujos livros provaram-se extremamente influentes e seus seguidores superavam de longe os membros registrados da sociedade. Os esforços principais desse teólogo anglicano acadêmico enfocaram a interpretação das profecias bíblicas, desde as previsões de Isaías e Daniel até as visões de João. Em 1809, Faber publicou seu famoso Gênesis, livro no qual prevê que no ano de 1867 a maioria dos judeus que seriam retornados à Palestina com a ajuda de uma grande nação marítima do Ocidente se converteria ao cristianismo (196). Muitos evangélicos compartilharam opiniões semelhantes e se viram fazendo parte da geração cujos filhos viveriam para ver a redenção. Só precisavam convencer o mundo a ajudar os judeus a retornar para “a terra deles”.
Outros membros da Sociedade para a Promoção do Cristianismo eram o missionário Alexander McCaul, colega de Faber e professor de hebraico no Kings College de Londres; Louis Way, abastado advogado que custeou boa parte do trabalho do grupo; e o conhecido clérigo evangélico inglês Edward Bickersteth, que escreveu livros e iniciou e organizou um grande número de apresentações para encorajar a emigração dos filhos de Israel para o Oriente. Ele acreditava que só o estabelecimento do reino de Israel faria o filho de Deus retornar à terra e ocasionaria a plena cristianização do mundo (197). Sua importância na promoção da ideia protossionista reside no fato de que era amigo chegado e conselheiro de lorde Anthony Ashley Cooper, o sétimo conde de Shaftesbury. Esse nobre é considerado uma das figuras mais influentes da Grã-Bretanha durante a era vitoriana. Filantropo conservador, desempenhou papel importante na legislação que limitou o trabalho infantil, proibiu o comércio de escravos e cultivou a ideia de uma restauração judaico-cristã na Terra Santa.
À luz de sua contribuição para a evolução do sionismo cristão, Shaftesbury pode ser visto, quem sabe, como o Herzl anglicano. Alguns estudiosos acreditam que ele foi o primeiro a cunhar a célebre frase que caracterizou a Palestina como “uma terra sem povo para um povo sem terra”, enquanto outros sustentam que ele foi responsável apenas por sua disseminação em massa (198). Esse lorde aristocrático via os “filhos de Israel” não apenas como crentes da religião judaica, mas como descendentes de uma raça antiga que, uma vez convertida ao cristianismo, se tornaria de novo uma nação moderna em aliança natural com a Grã-Bretanha. Exatamente por não conceber o judaísmo como uma religião legítima que pudesse continuar ao lado da fé verdadeira, Shaftesbury optou por considerar os judeus como um povo em si. Entretanto, assim como não apoiava o direito de judeus serem eleitos para o Parlamento britânico, também não acreditava que esse povo reabilitado merecesse um Estado para si (199); em vez disso, os judeus obedientes teriam que se contentar em ser protegidos pela cristandade britânica. Na verdade, o sofrimento judaico em consequência do antissemitismo não foi a motivação primária para a obra de Shaftesbury, ainda que sua sensibilidade à perseguição dos judeus fosse sincera. O que mais capturou o coração desse aristocrata devoto foi que a “restauração” no Oriente Médio poderia dar cabo da fé judaica, o que, por sua vez, assentaria as bases para a chegada da redenção ao mundo. Assim como a aquisição de novas almas tinha sido um dos fatores que atraía peregrinos para a Terra Santa, foi o profundo sentimento missionário de Shaftesbury que o levou a desenvolver a visão escatológica da restauração no Sião. O fato de ele e a Sociedade para a Promoção do Cristianismo conseguirem cristianizar apenas um pequeno número de judeus não serviu para minar sua forte fé ou enfraquecer sua atividade protossionista (200).
A devoção sem limites de Shaftesbury à ideia de um retorno judaico para o Sião lança luz não só sobre um amplo conjunto de grupos evangélicos, mas também sobre proeminentes círculos governantes. O fato de que ele fosse um membro tory do Parlamento não impediu o relacionamento próximo com lorde Palmerston, o secretário whig de Relações Exteriores e futuro primeiro-ministro, e foi Shaftesbury que em 1838 convenceu seu conhecido político a enviar o primeiro cônsul britânico para Jerusalém, um pequeno passo inicial rumo à entrada britânica na Palestina. Um ano depois, publicou um artigo na Quarterly Review de Londres no qual discutia o conjunto dos interesses econômicos britânicos na Terra Santa. Para muitas figuras britânicas da época, a incorporação de justificativas financeiras a argumentos religiosos foi uma combinação atraente. Pouco depois, Shaftesbury publicou um artigo no Times sob o título “O Estado e o renascimento dos judeus”, que também gerou repercussão e recebeu bastante retorno positivo, não só na Grã-Bretanha, mas também nos Estados Unidos. Não seria exagero dizer que esse artigo foi para o sionismo cristão o que O Estado judaico, de Theodor Herzl, foi para o sionismo judaico em 1896.
Somado a esse pano de fundo religioso no despertar da ideia sionista cristã na Grã-Bretanha – que também pode ser entendida como uma reação teórica às ondas de choque causadas pela Revolução Francesa –, o despertar também se beneficiou do processo político imediato então em andamento no Oriente Médio. Em 1831, Muhammad Ali Pasha, ex-governador do Egito, conquistou a Síria e a Palestina. Essa conquista realçou nitidamente para as grandes potências a enorme fragilidade do Império Otomano e por fim levou Grã-Bretanha e França a apoiar o governo muçulmano em declínio. Em 1840, os britânicos ajudaram os otomanos a empurrar o exército de Muhammad Ali de volta para o Egito. Em certa medida, a competição entre Grã-Bretanha, França e Rússia pela divisão territorial do “doente do Bósforo” começou a ditar as medidas diplomáticas, intensificando-se no final do século XIX. Não por coincidência, a Palestina lenta e gradualmente entraria na agenda diplomática internacional.
Em 11 de agosto de 1840, o secretário de Relações Exteriores Palmerston escreveu o seguinte a John Ponsonby, embaixador britânico em Istambul:
Seria de evidente importância para o sultão encorajar o retorno e assentamento dos judeus na Palestina porque a riqueza que levariam com eles aumentaria os recursos nos domínios do sultão; e o povo judaico, caso retornasse sob a sanção, proteção e convite do sultão, seria uma contenção a quaisquer futuros desígnios maléficos de Mehemet Ali ou seu sucessor […] Tenho que instruir Vossa Excelência intensamente a recomendar [ao governo turco] que ofereça todo encorajamento para que os judeus da Europa retornem à Palestina (201).
É claro que a ideologia de Shaftesbury jaz por trás dessa sugestão extremamente pragmática de Palmerston. O secretário de Relações Exteriores não estava excessivamente preocupado com que os judeus fossem convertidos ao cristianismo antes ou depois da emigração. Seu pequeno sonho era, isso sim, ter um trunfo estratégico sob patrocínio imperial britânico. Todavia, a conversão era um imperativo para Shaftesbury, uma precondição, e ele se esforçou sistematicamente para o estabelecimento de Israel, que no fim dos tempos se tornaria anglicana.
A Grã-Bretanha quase não possuía súditos próprios no Oriente Médio, o que levava a natureza de sua presença ali a ser colocada em questão. A colonização da região por súditos britânicos, do modo como havia sido executada na África e na Ásia, não era possível sob o domínio otomano. A ideia sionista cristã original de assentar judeus na Palestina apresentou-se como um meio de desviar desse obstáculo ao estabelecimento de um ponto de apoio imperial no Oriente Médio. Afinal de contas, os judeus eram um aliado natural da Grã-Bretanha, conhecida como o país menos antissemita da Europa e admiradora de longa data dos antigos hebreus. Claro que alemães e franceses também poderiam tomar parte nesse empreendimento conjunto europeu, no qual o capital privado dos ricos sem dúvida desempenharia um papel significativo.
A figura que serviu de exemplo vivo do potencial dos judeus do mundo de participar de uma colonização judaica foi o famoso empresário e filantropo britânico Moses Montefiore. Judeu religioso nascido na Itália, Montefiore havia recebido o título de cavaleiro de sua amiga rainha Vitória e fora nomeado xerife de Londres. Ele apoiava a ideia de fazer de Jerusalém a capital da religião judaica e trabalhou para tornar isso realidade. Em 1827, Montefiore fez sua primeira visita à Terra Santa – uma visita que o influenciou profundamente – e retornou em 1839, dessa vez com o objetivo de ajudar a comunidade judaica da cidade santa com donativos e projetos de caridade. Até apresentou a Muhammad Ali um plano para comprar terras na Palestina, na época ainda sob controle egípcio. Como era de se prever, o plano ignorava por completo os lavradores locais. Até sua morte, Montefiore visitou Jerusalém mais cinco vezes e usou todas as oportunidades possíveis para estabelecer assentamentos judaicos autônomos que não dependessem de apoio financeiro de filantropos do exterior. Contudo, seus esforços não frutificaram, e no fim ele foi forçado a fazer acordos com as instituições judaicas tradicionais de Jerusalém. Não obstante, seu sonho de transformar a Terra Santa em uma terra judaica jamais se desvaneceu. Suas conexões políticas com britânicos, otomanos e outros círculos de governo internacionais proporcionaram benefício direto para várias comunidades judaicas e ajudaram indiretamente a promover ideias protossionistas na cultura política britânica (202).
Palmerston não foi o único político britânico a começar a considerar seriamente a emigração judaica em massa para a Palestina. Mais tarde, outros nomes da administração do governo britânico também saíram em defesa da ideia. Um deles foi o coronel Charles Henry Churchill (parente distante do famoso estadista), membro da delegação militar de Damasco atraído para a visão protossionista tanto por Montefiore quanto por suas próprias crenças antiotomanas e pró-coloniais. Em suas cartas para Montefiore e em sua obra autobiográfica, Mount Lebanon, ele conclamou os judeus a se radicar na Palestina e, na tradição da expansão colonial, aconselhou a Grã-Bretanha a ali estacionar uma força militar substancial para defendê-los (203).
Outro coronel e leal defensor da restauração judaica na Palestina foi George Gawler, que também serviu por um tempo como governador da Austrália do Sul. Em contato próximo com Montefiore, com quem excursionou pela Palestina em 1849, esse oficial imperial esboçou um plano para “restaurar os judeus em sua terra”, basicamente para criar uma zona tampão segura para os britânicos entre o Egito e a Síria (204). Baseado em sua longa experiência na bem-sucedida colonização da Austrália, Gawler presumiu que seria igualmente possível implementar algumas formas de aquisição de terra na Palestina. Embora em sua opinião os árabes beduínos fossem tentar atrapalhar seus esforços, a maior parte do país era um deserto que, sob o cuidado dos judeus trabalhadores, com certeza viria a florescer. A despeito das tentativas de dissimulação, uma fértil escatologia evangélica operava por trás do projeto prático sionista de Gawler: do ponto de vista dele, a Grã-Bretanha era um emissário escolhido por Deus que redimiria Israel e o resto do mundo (205).
Havia muitos opositores a esse plano dentro do governo britânico, e um número ainda maior de pessoas completamente indiferentes à ideia da emigração judaica para a Terra Santa. Na metade do século XIX, a era colonial ainda não havia atingido seu ponto alto, e a Grã-Bretanha ainda não havia se mobilizado completamente para satisfazer sua fome voraz pelo controle de vastas áreas. Agora voltaremos nossa atenção para a figura que, mais do que qualquer outra, viria a simbolizar a transição histórica para o imperialismo e a penetração ilimitados no Oriente Médio, não só por causa de seu papel no processo, mas também por suas associações judaicas pessoais.
Os protestantes e a colonização do Oriente Médio
Tel Aviv, a maior cidade de Israel, não tem uma rua com o nome do primeiro-ministro britânico Benjamin Disraeli porque, em algum momento, o conselho municipal aprovou uma resolução proibindo a homenagem a pessoas que se converteram do judaísmo para outra religião. Entretanto, o conselho homenageou outro primeiro-ministro britânico, lorde Balfour, com uma via respeitável no centro da cidade. Ele também inspirou o nome de Balfouriya, um assentamento rural judaico no vale de Jezreel.
Como Montefiore, Benjamin Disraeli era de descendência judaico-italiana. Mas, ao contrário dos pais extremamente religiosos do filantropo protossionista, o pai de Disraeli tinha uma relação conflituosa com a comunidade judaica e converteu os filhos ao cristianismo. O futuro líder tory teve sorte por se tornar devoto anglicano, pois, em 1837, quando se elegeu pela primeira vez para a Câmara dos Comuns aos 32 anos de idade, ainda não era permitido a um judeu assumido ser eleito para o Parlamento. Disraeli sobressaiu-se rapidamente como uma figura pitoresca na política britânica. Com oratória graciosa e estratégia política perspicaz e maquiavélica, ascendeu à elite política e se tornou líder do Partido Conservador. Em 1868, foi nomeado primeiro-ministro por um breve período, cargo ao qual retornaria entre 1874 e 1880.
Assim como Montefiore, Disraeli era amigo pessoal da rainha Vitória. Do mesmo modo que fez de Montefiore cavaleiro, a amiga comum tornou Disraeli conde, um gesto que ele retribuiria nos anos por vir quando, como primeiro-ministro, sugeriu adicionar imperatriz da Índia aos títulos da rainha.
Embora fosse um político proeminente, Disraeli nunca se limitou ao trabalho político: motivado por uma paixão pela ficção literária, escreveu romances, que começou a publicar na juventude e continuou a escrever até pouco antes de morrer. Várias de suas obras literárias lançam luz sobre sua atitude em relação à sua herança judaica e à Terra Santa.
Em 1833, antes de ingressar no Parlamento, Disraeli publicou um romance sobre um messias judaico do século XII chamado David Alroy, que viveu entre o norte da Mesopotâmia e o Cáucaso. Sabemos muito pouco sobre essa figura histórica, e Disraeli não dispôs de mais fontes do que as que temos hoje. Todavia, ele retrata Alroy como um autêntico líder e descendente da Casa de Davi que jamais esquece suas raízes judaico-palestinas e que deflagra uma rebelião contra as autoridades muçulmanas a fim de salvar os judeus do mundo. O problema é que outros membros de sua “raça” abstêm-se de segui-lo, e no fim ele fracassa em realizar sua espetacular visão messiânica (206). Na edição original de The wondrous tale of Alroy, o autor inclui uma história paralela sobre um príncipe não menos misterioso chamado Iskander, que é forçado a se converter ao islamismo na juventude, mas sempre se lembra de suas raízes greco-cristãs.
Ao longo de sua vida, Disraeli movimentou-se entre a religião em que nasceu e a religião a que se filiou. Talvez por esse motivo, considerava o cristianismo a continuação lógica e melhorada do antigo judaísmo. Mesmo que pudesse ser classificado como crente, nunca foi devoto. Ele se via como um fiel cristão, mas, de acordo com a moda pseudocientífica de seu tempo, via-se como pertencendo a uma nação distinta, baseada na raça, e às vezes proclamou isso em público.
Disraeli acreditava que a questão da raça, e não da religião, era a chave para o entendimento da história do mundo. Sua orgulhosa posição a respeito da “raça hebreia” era repetida por muitos judeus cultos da Europa oriental e central e desempenhou papel significativo no reforço de sua identidade étnica “científica” emergente (207). A história sentimental de David Alroy reflete o essencialismo judaico no seu melhor, pois a missão dele é ditada pelo sangue do Messias judeu. Ao mesmo tempo, Jerusalém é retratada de maneira romântica, quase mística; em 1831, antes de se tornar político conservador, Disraeli viajou pelo Oriente Médio e visitou a cidade, que lhe causou uma impressão exótica e indelével.
Outro de seus romances famosos reflete o intenso anseio por suas “raízes” do Oriente Médio. Tancred: or the New Crusade foi publicado em 1847, quando Disraeli já era um político estabelecido. Aqui, a história gira em torno da personalidade de um jovem aristocrata inglês que decide seguir os passos de Tancredo, o antigo cruzado, a fim de chegar à Terra Santa. De início, o objetivo é descobrir e decifrar os segredos do Oriente. Então, o protagonista chega ao monte Sinai, onde ouve a voz de um anjo que o instrui a estabelecer uma “igualdade teocrática” (208). Nessa história, a visão infelizmente também não é consumada, e a ansiada simbiose entre judeus e cristãos, um produto da imaginação fértil do autor, permanece não realizada. Todavia, o enredo reflete a análise oriental que então prevalecia nos salões culturais de Londres, bem como o grande interesse em representar o antigo território como a arena em que as duas religiões nasceram. Mesmo que o autor Disraeli negue ao leitor um final feliz de verdade, o estadista Disraeli torna-se bem-sucedido, dentro da realidade histórica de seu tempo, ao deixar a Grã-Bretanha um pouco mais “asiática”, isto é, colonialista e muito maior.
Esse líder do Império Britânico nunca se tornou sionista e com certeza não era um cristão sionista. Embora pertencesse ao mesmo partido político de Shaftesbury e mantivesse estreitas relações com ele desde os anos 1860, cultivar uma restauração judaica na Palestina que por fim se tornaria uma sociedade cristã não era uma iniciativa particularmente cara ao seu coração (209). Em seu trabalho político, ele prestou um serviço fiel e inabalável à classe alta britânica. Mas, talvez sem que pretendesse, também contribuiu indiretamente para criar as condições diplomáticas que mais tarde permitiram à Grã-Bretanha adotar a ideia sionista judaica.
Em 1875, enquanto ocupava o cargo de primeiro-ministro, Disraeli foi ao barão Lionel Nathan de Rothschild, seu amigo íntimo, para solicitar ajuda na compra de 44% das ações do canal de Suez pela Grã-Bretanha. Essa importante transação foi concluída com êxito, representando o primeiro estágio da entrada tangível do império no Oriente Médio. A rota para a Ásia distante agora estava aberta, e as regiões circunjacentes ao portal marítimo – Egito e Palestina – emergiam como objetivos estratégicos da máxima importância.
Em 1878, em retribuição pelo apoio britânico aos otomanos e à custa da repressão brutal dos búlgaros, Disraeli transformou Chipre em colônia britânica. Ao mesmo tempo, deu início à conquista do Afeganistão a fim de repelir os russos e, ao fazer isso, estreitar a conexão entre o Oriente Médio e
o Extremo Oriente. Conforme já foi observado, nenhum outro político britânico contribuiu tanto para tornar o império “oriental” e vasto.
No final do século XIX, o que mais facilitou a divisão das posses coloniais, que abrangiam quase todas as partes do globo, não foram os talentos excepcionais de Disraeli e daqueles como ele em outros países. O processo foi um produto, isso sim, do tremendo desenvolvimento industrial da Europa ocidental. A desigualdade entre as sociedades dessa região e as demais continuou a aumentar e foi responsável pela rápida expansão imperial. Entre 1875 e o fim do século, o noroeste do mundo havia conquistado 25 milhões de quilômetros quadrados, somados às áreas que já controlava de antemão. Se, em 1875, 10% da África estava sob domínio europeu, em 1890, os brancos controlavam 90% do continente negro.
A desigualdade material e tecnológica foi acompanhada por um discurso orientalista que ficou cada vez mais insensível e descarado. E, se um número significativo de pensadores do final do século XVIII acreditava que todos os povos eram iguais, o tom predominante agora era dado por aqueles que tinham certeza de que a coisa não era assim. Chineses, indianos, nativos americanos, negros africanos e árabes do Oriente Médio eram considerados inferiores em comparação com os brancos europeus. E estavam, de fato, em situação de desigualdade: não tinham canhões de metal espesso, nem velozes navios a vapor, nem ferrovias resistentes e eficientes. Também possuíam poucos porta-vozes cultos. No exato instante em que a voz política e os meios de comunicação estavam tendo um impacto crescente sobre a democratização do Ocidente industrializado, os povos de descendência não europeia quase não tinham voz (210).
Os habitantes árabes da Palestina também permaneceram invisíveis aos olhos do Ocidente. Da metade do século XIX em diante, toda nova proposta para a Palestina os desconsiderava quase por completo. A renovada penetração ocidental na Terra Santa, ainda que apenas “científica” e “espiritual”, mal os mencionava. A despeito de em 1834 um grupo de agricultores locais ter se insurgido contra a ocupação egípcia, eles em geral eram considerados como nada mais que uma turba selvagem, em parte devido aos ataques incontroláveis contra habitantes não muçulmanos ocorridos durante a revolta (211).
O ano de 1865 testemunhou o estabelecimento do Fundo de Exploração da Palestina (PEF) em Londres. Embora o PEF também possuísse objetivos antropológicos, a maior parte de seu trabalho enfocou a história, arqueologia e geografia física do país. A busca pelo sagrado enraizado no passado antigo e o mapeamento colonial foram os motores do empreendimento, muito mais do que a população que lá vivia na época. Não é de espantar, portanto, que a rainha Vitória imediatamente concedesse seu patrocínio ao PEF e que Montefiore e muitos outros logo se juntassem ao projeto (212). Conforme efetivamente realçado por John James Moscrop, um historiador do fundo, a pesquisa acadêmica da organização era executada em conjunto com metas estratégicas militares, e ambas eram animadas pelo sentimento de que a Grã-Bretanha estava prestes a herdar a Terra (213). O amplo apoio desfrutado pelo PEF derivou-se em parte da rivalidade colonial da Grã-Bretanha com a França, bem como de seu grande interesse pelo canal de Suez. De todo modo, em 1890, o fundo havia dado uma grande contribuição quanto à geografia e topografia da Palestina. Numerosos associados do fundo eram pessoas do serviço de inteligência britânica cujo maior empenho, antes do controle do canal pela Grã-Bretanha, era aprender mais sobre o deserto do Sinai. Não por coincidência, entre os cartógrafos estavam T. E. Lawrence, que mais tarde se apaixonaria pelas areias amarelas da Arábia.
Lawrence da Arábia!
Não era só o deserto que os entusiasmados pioneiros britânicos consideravam espaço vazio. A vizinha Palestina, com exceção dos lugares santos, também era, em geral, vista como uma área abandonada esperando impacientemente que o Ocidente cristão a redimisse de gerações de desolação.
Nesse clima político e conceitual, não é surpresa que o público britânico considerasse a colonização da Palestina um empreendimento natural. A Terra Santa, porém, ainda fazia parte do frágil Império Otomano. Mas, quando os primeiros colonos judeus começaram a chegar aos poucos à Palestina, no início da década de 1880, como resultado dos perversos pogroms na Rússia, a ideia da colonização encontrou novos defensores na Grã-Bretanha. Até então, as visões milenaristas cristãs de Shaftesbury e os sonhos religiosos judaicos de Montefiore haviam sido vazios devido à falta de elemento humano para executá-los. Os judeus britânicos, franceses, alemães e italianos estavam engajados na integração cultural com seus países natais e consideravam intolerável a ideia de se enviar judeus para “a terra de seus ancestrais”, empurrando-os para a margem do mundo civilizado. Mas, agora, novas circunstâncias haviam criado a primeira base possível para a concretização da visão.
O surgimento do protonacionalismo local nas áreas ocidentais do império russo, que continham a Zona de Assentamento judaico, gerou uma pressão crescente sobre a grande população de idioma iídiche da região. A diferença religiosa, cultural e linguística dessa grande comunidade provocou manifestações de intolerância e antissemitismo franco e agressivo. Somado a isso, o crescimento da população na época, considerando que não havia jeito de se sair da Zona de Assentamento, resultou em deterioração econômica dentro da comunidade judaica e criou condições de vida insuportáveis. O início dos pogroms em 1881, que prosseguiram em ondas até 1905, deflagrou a emigração em massa dos judeus para o oeste. De acordo com algumas estimativas, 2,5 milhões de judeus deixaram o império russo ao fim da Primeira Guerra Mundial. Os emigrantes chegaram aos países da Europa central e ocidental e desembarcaram até nas Américas. O surgimento da judeofobia em alguns países de chegada está diretamente relacionado a esse grande movimento populacional, também responsável pela colonização inicial da Palestina, pela emergência da ideia sionista e pelo nascimento do movimento sionista.
A emigração do império russo (e da Romênia) suscitou preocupação em várias instituições judaicas na Europa central e ocidental. O medo de que a chegada de judeus da Europa oriental resultasse na escalada do antissemitismo levou à procura de formas de ajudar e/ou se livrar dos “estrangeiros”. Os líderes da comunidade judaica na Alemanha usaram todos os meios possíveis para encaminhá-los para o porto de Hamburgo e de lá fazer com que seguissem viagem diretamente para os Estados Unidos. Membros ricos das comunidades da França e da Grã-Bretanha buscaram outras maneiras de facilitar o influxo de refugiados. O barão Maurice de Hirsch, por exemplo, auxiliou ativamente no estabelecimento de colônias de imigrantes judeus na Argentina; o barão Edmond James de Rothschild fez o mesmo na Palestina (214). Ambas as iniciativas de assentamento necessitaram de repetidas infusões monetárias. Nenhuma teve sabor nacionalista.
Das centenas de milhares e até milhões de emigrantes que afluíram para o oeste, alguns, inclusive uma dúzia de jovens idealistas, começaram a rumar para a Palestina no início da década de 1880. Essa emigração a conta-gotas ainda não era significativa, e alguns emigrantes continuaram se deslocando até alcançar os países do Ocidente. Todavia, foi o princípio de um processo gradual de longo prazo.
Um dos ativistas mais dinâmicos dessa primeira tentativa de assentamento foi outro britânico cristão: Laurence Oliphant. Ex-diplomata e membro do Parlamento, Oliphant acreditava que a raça judeo-cristã estava destinada a governar a Terra Santa e em 1880 já havia publicado um interessante livro intitulado The land of Gileade (215). Como era difícil comprar terras a oeste do rio Jordão, Oliphant acreditava que seria mais fácil assentar judeus a leste. A fim de fazê-lo, os habitantes beduínos da área teriam que ser expulsos. Agricultores árabes, entretanto, seriam concentrados em reservas, como haviam feito com os índios da América do Norte, e usados como trabalhadores nas colônias judaicas. Levando consigo uma carta de recomendação de Benjamin Disraeli, Oliphant reuniu-se com o sultão otomano, a quem não conseguiu convencer dos méritos de sua visão de um assentamento judeu transjordaniano. No fim, seu plano de mobilizar fundos britânicos para a construção de uma linha ferroviária percorrendo a extensão do futuro Estado judaico permaneceu não concretizado.
Interessante paralelo com O Conto da Aia, de Margaret Atwood.
Para crédito do excêntrico Oliphant e em contraste com muitos sionistas cristãos, que pediam o envio de judeus para a Terra Santa, para lá serem convertidos ao cristianismo, enquanto eles mesmos continuavam a viver nos civilizados e confortáveis centros cristãos, ele emigrou para a Palestina e instalou-se em Haifa. Em uma ironia da história, o secretário pessoal de Oliphant em Haifa foi o poeta judeu Naftali Herz Imber, cujo poema “Tikvatenu” mais tarde serviu de base para “Hatikvah”, o hino nacional de Israel. Como vários outros imigrantes de sua geração, Imber deixou o “Sião”, objeto de nostalgia de seus poemas; depois de se mudar para a Grã-Bretanha, por fim radicou-se nos Estados Unidos.
Conforme sabemos, o movimento nacionalista judaico em si nasceu apenas no final dos anos 1890. Theodor Herzl, o autor do conceito e fundador da Organização Sionista, foi influenciado pela cultura vienense e talvez até pelo nacionalismo alemão; de início, tentou realizar sua visão não pela colonização, mas por meios diplomáticos. Após tentativas fracassadas de estabelecer laços com o Kaiser alemão, o sultão otomano e o primeiro-ministro da Áustria-Hungria, e obter o auxílio destes, Herzl teve uma oportunidade de ouro de apresentar suas ousadas ideias.
No começo do século XX, havia na Grã-Bretanha uma feroz e cada vez mais acentuada pressão para deter a maré de imigrantes vindos da Europa oriental. A imigração era percebida como uma invasão ameaçadora; em muitos aspectos, as reações foram semelhantes às atitudes prevalentes no início do século XXI em relação à imigração muçulmana para a Europa. Uma grande fatia do público identificava quase todos os europeus do Leste como judeus, e novas expressões de antissemitismo podiam ser ouvidas nos bairros da classe operária de Londres, bem como no Parlamento (216). De fato, entre 1881 e 1905, a Grã-Bretanha foi o destino de mais de 100 mil judeus “orientais”, com mais a caminho. Nesse contexto, foi estabelecida em 1902 uma comissão real para tratar do fenômeno da imigração não controlada. A elite judaica da Grã-Bretanha, encabeçada pelo barão Nathan Mayer Rothschild, manifestou preocupação a respeito da nova situação e empenhou-se em evitar danos à comunidade residente de judeus britânicos. A despeito das hesitações iniciais de Rothschild, Herzl também foi convidado a prestar depoimento no comitê e apresentar suas ideias referentes ao estabelecimento de judeus fora da Europa.
No mesmo ano, Leopold Greenberg, o extremamente inventivo editor do Jewish Chronicle, teve sucesso em arranjar um encontro pessoal entre Herzl e Joseph Chamberlain, o todo-poderoso secretário colonial do Reino Unido. Chamberlain, um rematado colonialista, ficou fascinado com o inusitado programa territorial do líder sionista. No histórico encontro de 22 de outubro de 1902, Herzl propôs transferir os judeus para Chipre ou El-Arish, na península do Sinai, a fim de aliviar a Grã-Bretanha da ameaça da imigração maciça. Ambos os locais ficavam bastante próximos da Palestina, de modo que seria possível expandir-se ou se mudar para lá em algum momento futuro. Dessa maneira, Herzl esperava neutralizar a oposição dos sionistas que insistiam em manter a terra do Sião como foco de seus projetos a qualquer custo e ao mesmo tempo obter o apoio estratégico da superpotência mais avançada do mundo. É importante lembrar que a Palestina ainda fazia parte do Império Otomano na época, enquanto Chipre e a península do Sinai estavam sob controle britânico. Em sua ingenuidade, o líder sionista acreditava que a proposta seria aceita tanto pelos círculos do governo na Grã-Bretanha quanto pelo movimento que ele havia fundado.
O problema era que, embora a população muçulmana de Chipre fosse suficientemente “anônima”, a ilha também possuía uma população branca cristã que os britânicos eram obrigados a apoiar. Portanto, Chamberlain foi forçado a rejeitar Chipre educadamente, mas ficou disposto a discutir a opção da península do Sinai sob a condição de que o Egito estivesse disposto a aceitar o arranjo. Porém, os representantes britânicos na terra do Nilo (lorde Cromer, por exemplo) na mesma hora articularam oposição decisiva. Todavia, o secretário colonial britânico, cuja função era fazer tudo em seu poder para expandir e fortalecer o império, não perdeu a esperança, assim como não quis deixar passar a magnífica oportunidade dupla: de um lado livrar o país dos judeus estrangeiros, com sua vestimenta estranha e seu idioma de sonoridade alemã, que buscavam desesperadamente entrar pelos portos das ilhas Britânicas; e de outro instalar leais defensores potenciais da Grã-Bretanha em uma colônia escassamente povoada além-mar. No segundo encontro com Herzl, em 24 de abril de 1903, Chamberlain fez uma contraproposta: Uganda, uma região que hoje pertence ao Quênia, mas na época era uma colônia necessitada de moradores. Ela poderia ser dada de graça ao Povo Escolhido.
Essa proposta teve considerável importância. Foi a primeira vez que uma potência europeia entrou em negociações territoriais com o incipiente movimento sionista. Mesmo que o plano tenha sido motivado por interesses coloniais tacanhos e, em grau ainda maior, pelo desejo de evitar a imigração estrangeira na Grã-Bretanha, foi um ponto crucial na história do sionismo e na complexa atitude da elite britânica em relação aos descendentes do povo da Bíblia. Uma força ainda marginal dentro da comunidade judaica mundial, o sionismo havia progredido do anseio pela legitimidade diplomática à sua obtenção em grande escala. De sua parte, a Grã-Bretanha passou a ser vista como tutora preferida do destino judaico no começo do século XX. Como resultado da pressão firme de Herzl, o sexto Congresso Sionista aprovou o esquema de Uganda, embora não sem debates tempestuosos e grande dose de tensão. Na verdade, porém, ninguém levou o plano muito a sério. Se havia sido difícil recrutar um grande número de candidatos a emigrar para a Palestina, muito mais problemático seria achar judeus dispostos a se radicar em uma região remota do leste da África que carecia do embasamento mitológico necessário para a criação de uma pátria nacional. Mas Herzl entendeu perfeitamente que a proposta do Ministério de Relações Exteriores havia criado um precedente, não necessariamente a posse sionista da Palestina, mas sim o direito dos judeus a um território próprio.
Na época em que o plano de Uganda foi proposto, o carismático lorde Balfour já havia se tornado o novo primeiro-ministro britânico. Ele apoiou o plano semissionista de Chamberlain, em parte por ser coerente com sua própria intenção de promulgar uma lei draconiana contra a imigração estrangeira. Balfour, um nome entranhado na história sionista como o maior benfeitor do “povo judeu” na era moderna, começou seu relacionamento com esse povo (ou “raça”, como ele se referia aos judeus) em uma luta política para impedir que seus membros perseguidos se refugiassem na Grã-Bretanha. No decorrer dos debates parlamentares de 1905, Balfour sustentou que os imigrantes judeus casavam-se apenas entre si e não estavam dispostos nem eram propensos a integrar-se de verdade na nação britânica, e assim a Grã-Bretanha estava moralmente justificada em limitar sua entrada no território. Para provar ao mundo que a decisão contra os judeus não era essencialmente anti-humanitária, enfatizou a opção de Uganda: os imigrantes receberiam grandes lotes de terra fértil em colônias; portanto, deveriam parar de reclamar sem motivo (217).
Essa posição, assumida no início do século XX, com certeza não faz de Balfour um judeófobo malévolo, assim como os esforços obstinados dos líderes do começo do século XXI de bloquear a entrada de trabalhadores imigrantes não os torna automaticamente islamófobos. O termo “antissemitismo” refere-se a várias manifestações de atitudes hostis ou contrárias aos judeus dentro de um amplo espectro. Balfour não odiava os judeus em particular, embora certas evidências sugiram que tampouco tivesse grande amor por eles. Mais do que qualquer outra coisa, ele não queria muitos deles vivendo na Grã-Bretanha, e, como veremos, mostrou-se coerente com essa política também em 1917.
A política de Balfour em 1905 marcou um momento decisivo na atitude da Grã-Bretanha, e talvez da Europa ocidental como um todo, em relação a estrangeiros. Enquanto a Grã-Bretanha forçava sua entrada em qualquer canto possível da terra sem ter sido convidada, transformou-se de país liberal que concedia proteção a refugiados em um território quase completamente impenetrável, mesmo aos que estivessem sendo perseguidos. Durante a era do imperialismo, esperava-se que os movimentos populacionais tivessem apenas uma direção: do centro para fora.
É justo dizer que a legislação balfouriana de 1905 a respeito de estrangeiros, junto com uma lei semelhante promulgada duas décadas depois nos Estados Unidos e que endureceu ainda mais os termos da imigração (a Lei de Imigração de 1924, também conhecida como Lei Johnson-Reed) (218), contribuiu para o estabelecimento do Estado de Israel tanto quanto a Declaração Balfour de 1917, ou até mais. Essas duas leis anti-imigrantes – junto com a carta de Balfour para Rothschild a respeito da disposição favorável do Reino Unido ao “estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judaico”, discutida mais adiante neste capítulo – estabeleceram as condições históricas sob as quais os judeus seriam canalizados para o Oriente Médio.
Como foi que a Grã-Bretanha acabou adotando uma posição que proporcionou aos líderes sionistas uma base diplomática, política e, aos olhos dos próprios sionistas, moral para a colonização “nacional” da “sua pátria”? Primeiro, é importante enfatizar que, em 1917, Balfour não se tornou um ativista devotado da causa judaica de repente. Em janeiro daquele ano, quando solicitado por um comitê judaico britânico a intervir em nome dos judeus sob condições terríveis em todo o império tsarista, ele absteve-se de envolver o governo russo, com o qual na época estava em uma aliança militar. Em uma conversa privada, defendeu suas ações da seguinte forma:
Há que se lembrar também que os perseguidores tinham seus motivos. Eles tinham medo dos judeus, um povo extremamente esperto […] Onde quer que se fosse na Europa oriental, verificava-se que, de um jeito ou de outro, os judeus tinham sucesso, e quando a isso somava-se o fato de que pertenciam a uma raça distinta, e professavam uma religião que para as pessoas ao seu redor era objeto de ódio hereditário e que, além do mais […] somavam milhões, pode-se, quem sabe, entender o desejo de reprimi- los (219).
Mas Balfour também foi criado por uma mãe escocesa devota, de quem absorveu a admiração pelas histórias bíblicas e por seus protagonistas recorrentes, os antigos hebreus. Ele acreditava que a cristandade devia muito aos judeus e criticava o tratamento usual dispensado a eles pela Igreja. Pode-se presumir que a mãe dele provavelmente também o introduziu na ideia da restauração judaica como precursora necessária à redenção cristã final. Em contraste com o executivo Chamberlain, Balfour era um homem das letras que possuía conhecimento relativamente vasto de história e dedicava tempo a escrever. Não era um Palmerston nem um Shaftesbury, mas possuía certas qualidades de ambos e com certeza podia ser considerado herdeiro natural destes.
Com Disraeli e outros lordes, Balfour compartilhava uma concepção semelhante de raça, embora seja importante esclarecer que sua atitude passava longe da ideologia estrita ou da pureza racial. Como muitos de seus contemporâneos, acreditava na existência de raças com atributos e comportamentos específicos, e a mistura de umas com as outras era indesejável. A raça judaica era um elemento permanente e eterno da história; tendo começado suas andanças a partir de uma terra específica, era simplesmente lógico que retornasse para lá depressa. Essa crença forneceu a fundação ideológica sobre a qual Balfour poderia transformar-se em um defensor juramentado do sionismo, coisa que ele de fato se tornou. Embora às vezes fizesse ressalvas aos judeus reais, um tanto “toscos”, que viviam na zona sul de Londres, foi um admirador inabalável dos sionistas até a morte. Para ele, os sionistas representavam a continuidade histórica de uma raça distinta e antiga que havia se recusado categoricamente a integrar-se com seus vizinhos. Ele tinha certeza de que, se essa raça voltasse para sua antiga pátria – uma terra bastante afastada de Londres –, teria condições de demonstrar seus verdadeiros talentos.
Esse é o fundamento intelectual e psicológico da posição de Balfour, mas não lança luz sobre a lógica subjacente de suas ações concretas nos reinos da diplomacia e da política internacional. Como Disraeli, Balfour era acima de tudo um típico colonialista britânico do seu tempo, empenhado em promover os interesses do império. Caso o estabelecimento de uma pátria judaica na Palestina fosse conflitante com os interesses do império, ele teria sido o primeiro a se opor à ideia. Mas no final de 1917, em um momento decisivo da Primeira Guerra Mundial, as condições para se mesclar ideologia e política ficaram maduras. Em 2 de novembro de 1917, o Ministério de Relações Exteriores britânico enviou o resultado recém-consolidado diretamente para o escritório do barão Lionel Walter Rothschild. O texto dizia o seguinte:
Caro lorde Rothschild,
Tenho muito prazer em transmitir-lhe, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia para com as aspirações judaicas sionistas que foram submetidas ao Gabinete e aprovadas:
“O governo de Sua Majestade vê com bons olhos o estabelecimento de uma pátria nacional para o povo judaico na Palestina, e envidará todos os esforços para facilitar a efetivação desse objetivo, ficando claramente entendido que não se fará nada que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas existentes na Palestina, ou os direitos e situação política desfrutados pelos judeus em qualquer outro país.”
Ficarei grato se você levar essa declaração ao conhecimento da Federação Sionista.
Atenciosamente,
Arthur James Balfour
Essa carta não teve a pretensão de refletir a relação de poder demográfico na Palestina. Na época, o país era o lar de quase 700 mil árabes – as “comunidades não judaicas na Palestina” – e de 60 mil judeus (em comparação, a população judaica da Grã-Bretanha somava quase 250 mil) (220). Mas nem mesmo essa minoria era sionista, e com certeza ainda não era um “povo”. Abrangia muitos judeus religiosos devotos que recuavam ante a ideia de se estabelecer um Estado moderno supostamente judaico, mas cujos valores profanariam a Terra Santa. Esse dado, porém, não teve impacto sobre a posição britânica, que visava a encorajar a colonização sob seus auspícios e quem sabe também livrar-se de alguns judeus que haviam dado jeito de entrar nas ilhas Britânicas a despeito das restrições.
A ideia de sancionar o princípio histórico de autodeterminação das nações ainda era muito nova e só se aplicaria a populações não europeias depois da Segunda Guerra Mundial. A Declaração Balfour não só deixou de levar em consideração os interesses coletivos dos habitantes locais – independentemente de serem um povo ou nação –, como também foi de encontro ao espírito das garantias que Henry McMahon, o alto comissário britânico no Cairo, havia dado a Hussein bin Ali, o xerife de Meca. A fim de motivar o líder árabe a entrar em guerra com os otomanos, a Grã-Bretanha fez uma promessa vaga de independência política árabe em todas as regiões que povoavam, exceto o oeste da Síria (o futuro território do Líbano), que era o lar de uma comunidade não muçulmana (221). Os britânicos não só não tiveram problema em quebrar tais promessas, como ignoraram os sinais iniciais do despertar nacionalista árabe e com isso nunca pensaram seriamente em manter as promessas.
O objetivo da carta aberta de Balfour foi antes de mais nada minar um acordo anterior que a Grã- Bretanha havia assinado com a França. Em 16 de maio de 1916, quando as duas potências coloniais decidiram trabalhar juntas para isolar o estropiado Império Otomano, Sir Mark Sykes, representando o Ministério de Relações Exteriores britânico, reuniu-se com François Georges-Picot, representando
o Ministério de Relações Exteriores francês, para chegarem a um entendimento básico referente à divisão dos espólios territoriais. Pelos termos do acordo, a França receberia o controle direto ou indireto das áreas que subsequentemente compreenderiam a Síria (até Mosul), Líbano, sudeste da Turquia e Alta Galileia. A Grã-Bretanha reivindicou para si as áreas que em breve se tornariam a Transjordânia, Iraque, golfo Pérsico, deserto do Neguev e os enclaves marítimos de Haifa e Acre. Além disso, foi prometido à Rússia tsarista o controle de Istambul, e a porção central da Terra Santa foi declarada uma zona aberta sob controle administrativo internacional. Os judeus não estavam na agenda das conversas secretas, nem foram mencionados no documento histórico resultante (222).
Em dezembro de 1916, David Lloyd George tornou-se primeiro-ministro da Grã-Bretanha, e Arthur Balfour foi nomeado secretário de Relações Exteriores e braço direito de Lloyd George. Ambos eram francos defensores do sionismo. Lloyd George era um devoto batista galês e, de acordo com seu próprio testemunho, mais familiarizado com os lugares da Terra Santa do que com os nomes dos campos de batalha da Grande Guerra. Ambos estavam descontentes com o Acordo Sykes-Picot. Os motivos eram duplos e inter-relacionados, prosaicos, bem como grandiosos. Do ponto de vista prático, os britânicos aspiravam expandir a zona de segurança militar em torno do canal de Suez conquistando de fato a Palestina, e estavam prestes a fazer isso. De sua perspectiva, era necessário que a rota conectando o mar Mediterrâneo ao golfo Pérsico fosse defendida por representantes de Sua Majestade. Não desejavam dividir o controle da Terra Santa com inconfiáveis franceses ateus. Do ponto de vista histórico, tratava-se da terra da Bíblia, de onde os cavaleiros cruzados da Europa haviam sido expulsos por bárbaros muçulmanos em 1291. Mas agora os europeus civilizados podiam reaver a terra. A Terra Santa não era apenas outra colônia, como Uganda ou Ceilão. Era o lugar de origem da cristandade, e os lordes protestantes dispunham da oportunidade de dirigir seus assuntos a distância por meio de um pequeno bando de sionistas submissos.
Em 26 de março de 1917, os soldados da Comunidade Britânica invadiram a Palestina pela primeira vez em uma tentativa de conquista. Embora a ofensiva tenha fracassado, uns poucos batalhões assumiram o controle da cidade de Beersheba, capital do Neguev, ao sul; a estrada para Jerusalém foi aberta; e o destino da Palestina foi selado. Foi nesse período, entre a conquista da cidade ao sul e a rendição de Jerusalém sem uma batalha em 9 de dezembro de 1917, que Balfour enviou sua famosa carta a Rothschild, anulando o Acordo Sykes-Picot tanto na teoria quanto na prática, proporcionando aos britânicos a perspectiva de hegemonia por meio de seu benevolente presente ao “povo judeu” (223).
Devemos lembrar que, na época, o mundo ignorava a existência do Acordo Sykes-Picot. Só em 1918, quando os bolcheviques perpetraram uma ação WikiLeaks no arquivo do Ministério de Relações Exteriores tsarista, o maquiavélico jogo de guerra britânico foi exposto. O Acordo Sykes-Picot era um pacto profundamente cínico e por isso havia sido mantido em completo sigilo. Em contraste, a Declaração Balfour enquadrou-se como um gesto humanitário para com os judeus e por isso foi pública. Também não por coincidência, a carta foi enviada a lorde Rothschild, uma conhecida e respeitada figura política da esfera pública londrina, e não aos representantes relativamente desconhecidos da pequena Organização Sionista. Antes de mais nada, a carta pretendia fornecer cobertura para uma sofisticada ação colonialista que afetaria o futuro do Oriente Médio pelo resto do século XX.
Estudiosos apontam fatores adicionais que podem ter levado o governo de Lloyd George a emitir a Declaração Balfour. Um era a crença dentro dos círculos governamentais britânicos de que os judeus americanos pudessem fazer mais para persuadir seu governo a se mobilizar para a Grande Guerra; afinal, o massacre em andamento não poderia ser detido antes que o inimigo alemão fosse solidamente derrotado. Outro era a crença de Whitehall de que uma declaração da Grã-Bretanha em favor de uma pátria nacional judaica pudesse motivar os judeus da Rússia em prol da continuidade da campanha desesperada na frente oriental, a despeito de seu apoio aos pacifistas bolcheviques (224). Ao longo da história, tanto antissemitas quanto filossemitas têm superestimado de forma grosseira a solidariedade entre judeus e a influência judaica. A despeito da grande admiração pelos judeus, as concepções abrangentes dos cristãos sionistas não diferiam das atitudes dos judeófobos nos pontos fundamentais. Embora as visões dos protestantes evangélicos exibam muitas nuances, elas compartilham uma abordagem etnológica essencialista saturada de preconceitos e suposições relativas aos judeus e a sua ostensiva posição dominante no mundo (225).
Uma historiografia mais ingênua atribui a generosidade territorial da coroa britânica à invenção de uma substância orgânica. Essa célebre história é a seguinte: em um estágio inicial da guerra, os britânicos sofriam com a escassez de acetona, substância crucial na produção de bombas e outros materiais explosivos. Chaim Weizmann, um líder do movimento sionista na Grã-Bretanha e que mais tarde seria o primeiro presidente do Estado de Israel, era também um químico talentoso. Tendo descoberto um método de produzir acetona via fermentação bacteriana de matéria vegetal, ele foi chamado para servir ao país e teve êxito na solução do problema logístico em tempo de guerra. Devido ao talento e inventividade de Weizmann, a produção de bombas e balas de canhão pôde retomar o ritmo prévio. Na época, Lloyd George era ministro de Munições; Winston Churchill, a quem Balfour substituiu em 1915, era o primeiro lorde do Almirantado. Os três líderes conheciam Weizmann e, segundo a história, não esqueceram de sua contribuição para o esforço de guerra quando chegou a hora de tomar uma decisão sobre o lar judaico na Palestina. Dessa maneira, a Declaração Balfour também é vista como o cumprimento de uma obrigação moral da liderança britânica para com um indivíduo e o movimento que ele representava.
Na construção de narrativas históricas, praticamente qualquer coisa pode ser interpretada como um possível fator. Infelizmente, o estudo histórico não é um laboratório químico onde experimentos podem ser repetidos a fim de se aferir a combinação específica de substâncias que de fato resultaram em fermentação ou explosão. Todavia, parece improvável que, na época, o governo britânico ignorasse que o ramo alemão do movimento sionista apoiava fervorosamente a pátria alemã. Com isso chegamos a outra ironia histórica: o fato de que o gás venenoso foi inventado para o exército alemão por Fritz Haber, outro químico de descendência judaica. Após os nazistas chegarem ao poder, Haber, um patriota alemão, foi forçado a deixar sua pátria. Ele morreu em 1934, esperando ir para a Palestina juntar-se ao instituto de pesquisa de Weizmann em Rehovot (226).
Em 1917, lorde Lloyd George, lorde Arthur Balfour, lorde Alfred Milner, lorde Robert Cecil, Sir Winston Churchill e muitos outros estadistas britânicos estavam convencidos de que a restauração dos judeus na Palestina garantiria aos britânicos uma base de operações segura por lá até o fim dos tempos e possivelmente mesmo depois disso, caso se comprovasse que os evangélicos estavam certos.
Eles parecem não ter aprendido nada com a insurreição dos colonos americanos no final do século XVIII ou a revolta dos colonos africâneres no final do século XIX. Ou talvez acreditassem que os judeus, que possuíam poder financeiro, mas cujas ações eram limitadas pela política, manteriam um tipo de relacionamento diferente com o benevolente império protetor. Os judeus sionistas também estavam enganados – no caso deles, na avaliação de que uma ideologia pró-sionista estivesse suficientemente entranhada na elite britânica para garantir sua vitória sobre outros interesses imperiais adversários.
Em todo caso, nem o amadurecimento de dois mil anos do anseio judaico por uma terra ancestral, nem a volumosa onda de imigração voluntária ameaçando inundar a Grã-Bretanha foi responsável pela iniciativa diplomática que por fim levaria à soberania sionista na Palestina. Em vez disso, no período até 2 de novembro de 1917, três distintos eixos ideológicos e políticos alinharam-se para criar uma tríade decisiva e simbiótica:
(1) a antiquíssima sensibilidade cristã evangélica intimamente entrelaçada com metas coloniais adotadas pelos britânicos desde a segunda metade do século XIX;
(2) as grandes privações enfrentadas por uma grande proporção de pessoas de língua iídiche, que se viram presas entre dois processos perigosos e perturbadores: a ascensão do protonacionalismo antissemita na Europa oriental, que já havia começado a expulsá-las de forma agressiva, e a imposição simultânea de restrições à imigração pelos países da Europa ocidental;
(3) o surgimento de uma reação nacionalista moderna a esses acontecimentos, que começou a se desenvolver às margens da desintegração do ainda não formado povo iídiche, e que tinha por objetivo primário a colonização da terra do Sião.
Sem dúvida, a Declaração Balfour aumentou consideravelmente a popularidade do sionismo e daí em diante encontramos muito mais judeus concordando com entusiasmo com o envio de outros judeus para “fazer a aliyah” para a Terra de Israel. Contudo, pelo menos entre 1917 e 1922, a declaração da política britânica referente à pátria judaica e o encorajamento das autoridades da Grã-Bretanha ainda falharam em convencer quem falava iídiche – para não mencionar os judeus britânicos – a emigrar em massa para sua “pátria histórica” (227).
No final da lua de mel de cinco anos entre o sionismo cristão e o judaico, aproximadamente 30 mil sionistas haviam chegado à Palestina de domínio britânico. Enquanto os Estados Unidos permitiram uma imigração relativamente livre, centenas de milhares de pessoas desalojadas da Europa oriental continuaram a desembarcar em sua costa. Elas recusavam-se terminantemente a se realocar no território do Oriente Médio que Palmerston, Shaftesbury, Balfour e outros lordes cristãos vinham lhes atribuindo desde meados do século XIX.
Ninguém deveria ficar muito surpreso com essa situação demográfica. Embora o assentamento na Palestina apresentasse dificuldades econômicas, o principal motivo para a falta de colonos imigrantes era muito mais banal: durante a primeira metade do século XX, a maioria dos judeus do mundo e sua prole – fossem ultraortodoxos, liberais ou reformistas, fossem bundistas social-democratas, socialistas ou anarquistas – não consideravam a Palestina sua terra. Em contraste com o mito embutido na Declaração de Independência do Estado de Israel, eles não lutaram “em cada geração sucessiva para se restabelecer em sua antiga pátria”. Nem sequer a consideraram um lugar apropriado para o qual “retornar” quando a opção lhes foi apresentada em uma bandeja de ouro colonial protestante.
No fim das contas, foram os golpes cruéis e horrorosos desferidos contra os judeus da Europa e a decisão das nações “esclarecidas” de fechar suas fronteiras aos alvos de tais golpes que resultaram no estabelecimento do Estado de Israel.
Notas
145. De acordo com Tácito, conforme citado por Sulpício Severo. Ver Stern, Menahem (org.). Greek and Latin authors on Jews and judaism. Vol. 2. Jerusalém: The Israel Academy of Sciences and Humanities, 1980, p. 64.
146. A evidência de tal prática “anterior ao Segundo Templo” limita-se a duas frases vagas, quase idênticas, no livro do Êxodo: “Três vezes por ano todos os seus homens devem aparecer diante do Senhor Deus” (23:17 e 34:23).
147. Ver Feldman, Jackie. “A experiência da associação e a legitimação da autoridade no Segundo Templo”. In: Limor, Ora & Reiner, Elchanan (orgs.). Peregrinação: judeus, cristãos, muçulmanos. Raanana: Open University Press, 2005, pp. 88-109 (em hebraico).
148. Shmuel Safrai tentou provar que ainda ocorreram peregrinações isoladas de tempos em tempos. Ver seu “A peregrinação a Jerusalém na época do Segundo Templo”. In: Oppenheimer, A.; Rappaport, U. & Stern, M. Capítulos da história de Jerusalém na época do Segundo Templo. Jerusalém: Yad Ben-Zvi, 1980, pp. 376-93 (em hebraico).
149. Os caraítas continuaram a fazer peregrinações apenas até Jerusalém e se opuseram ferrenhamente à peregrinação a túmulos santos que se tornaram cada vez mais populares dentro do judaísmo rabínico. Sobre esse assunto, ver Prawer, Joshua. “Relatos de viagens dos hebreus à Terra de Israel no período das Cruzadas”. In: Prawer, J. (org.). História dos judeus no reino dos cruzados. Jerusalém: Yad Ben-Zvi, 2000, p. 177 (em hebraico).
150. Ver Goitein, Shelomo Dov. “A santidade da Palestina na crença muçulmana”. Bulletin of the Jewish Palestine Exploration Society, 12 (1945-6), pp. 120-6 (em hebraico). Nesse artigo dos anos 1940, Goitein discute o uso do termo “Sham” junto com “Terra Santa”, que já aparece no Corão. A conquista muçulmana também herdou o termo “Palestina” dos bizantinos e o aplicou a toda a região em torno de Jerusalém (ibid., p. 121). Também encontramos o termo “Palestina” empregado nas obras de autores que vão do historiador Ibn al-Kalbi a Ibn’Asakir e ao geógrafo al-Idrisi. Ver também Drori, Yosef. “Um sábio muçulmano descreve a Palestina franca”. In: Kedar, Benjamin Z. Os cruzados em seu reino, 1099-1291. Jerusalém: Yad Ben-Zvi, 1987, p. 127 (em hebraico).
151. Reiner, Elchanan. “Mentiras manifestas e verdades ocultas: cristãos, judeus e lugares sagrados na Palestina do século XII”. Zion, 63:2 (1998), p. 159 (em hebraico).
152. Sobre o conceito de “propriedade” cristã da terra sancta, ver Wilken, Robert Louis. The Land called Holy: Palestine in Christian history and thought. New Haven: Yale University Press, 1992.
153. Al-Kumisi, Daniel. “Appeal to the Karaites of the dispersion to come and settle in Jerusalem”. In: Nemoy, Leon (org.). Karaite anthology. New Haven: Yale University Press, 1952, p. 37.
154. Para outros fatores que podem ter impedido os judeus de fazer a peregrinação, ver Reiner, Elchanan. “Peregrinos e peregrinação para Eretz Israel 1099-1517”. Jerusalém, 1988. Tese de doutorado – Hebrew University, p. 108. Ver também Ta-Shema, Israel. “Resposta de um piedoso judeu asquenaze sobre o valor da alyiah à Terra de Israel”. Shalem: Estudos sobre a História dos Judeus em Eretz Israel, 1 (1974), pp. 81-2; 6 (1992), pp. 315-8 (em hebraico).
155. Adler, Marcus Nathan (org. e trad.). O livro de viagem do rabino Benjamin. Jerusalém: The Publishing House of the Students Association of the Hebrew University, 1960 (em hebraico); Ben Jacob, Pethahiah. As viagens do rabino Pethahiah de Regenburg. Jerusalém: Greenhut, 1967 (em hebraico).
156. Pethahiah. Viagens, pp. 47-8.
157. Sobre visitas e peregrinações judaicas, ver Yaari, Avraham. Viagens de peregrinos judeus à Terra de Israel. Ramat Gan: Masada, 1976 (em hebraico).
158. Rosenthal, Jacob. “A peregrinação à Terra Santa de Hans Tucher, patrício de Nuremberg, em 1479”. Cathedra, 137 (2010), p. 64 (em hebraico).
159. Ver Avraham, Yaari (org.). Cartas da Terra de Israel. Ramata Gan: Masada, 1971, pp. 18-20 (em hebraico).
160. Yaari, Avraham (org.). Viagens de Meshulam de Volterra à Terra de Israel, 1481. Jerusalém: Mosad Bialik, 1948, p. 75 (em hebraico). A despeito do título do livro, o texto não faz menção à “Terra de Israel”.
161. Ben-Zvi, Yitzhak (org.). Uma peregrinação à Palestina do rabino Moshe Basola de Ancona. Jerusalém: Jewish Palestine Exploration Society, 1939, pp. 79-82 (em hebraico). De acordo com Ben-Zvi, que editou esse volume e mais tarde seria presidente do Estado de Israel, o viajante ficou impregnado de “uma grande afinidade com a pátria” (p. 15).
162. Yaari. Viagens de peregrinos judeus, p. 284.
163. Capsutto, Moshe Haim. O diário de uma viagem à Terra de Israel, 1734. Jerusalém: Kedem, 1984, p. 44 (em hebraico).
164. Sobre esse tema, ver a impressionante coletânea compilada pelo historiador alemão das Cruzadas Reinhold Rödricht em sua Biblioteca Geographica Palaestinae. Cronologisches Verzeichnis der von 333 bis 1878 verfassten Literatur über das Heilige Land (1890). Jerusalém: Universitas Booksellers of Jerusalem, 1963.
165. Turner, Victor. “Pilgrimages as social processes”. In: Dramas, fields and metaphors: symbolic action in human society. Ithaca: Cornell University Press, 1974, pp. 166-230.
166. Ver Reiner. Pilgrims and pilgrimage, pp. 99ss.
167. O termo “Terra Santa” em si disseminou-se pela cristandade apenas depois das Cruzadas. Para mais a respeito disso, ver De Geus, C. H. J. “The fascination for the Holy Land during the centuries”. In: Van Ruiten, Jacques & De Vos, J. Cornelis (orgs.). The Land of Israel in Bible, history, and theology. Leiden: Brill, 2009, p. 405.
168. Hunt, Edward David. Holy Land pilgrimage in the later Roman Empire, A.D. 312-460. Oxford: Clarendon Press, 1982. Ver também Hunt. “Travel, tourism and piety in the Roman Empire: a context for the beginnings of Christian pilgrimage”. Echos du Monde Classique, 28 (1984), pp. 391-417.
169. Ver, por exemplo, o pai da geografia israelense, Klein, Shmuel. “The travel book: Itinerarium Burdigalense on the Land of Israel”. Zion, 6 (1934), pp. 25-9.
170. Ver “A viagem de Bordeaux”. In: Limor, Ora. Viagens na Terra Santa: peregrinação cristã no fim da Antiguidade. Jerusalém: Yad Ben-Zvi, 1998, p. 27 (em hebraico).
171. Egeria. Diary of a pilgrimage. Mahwah, N.J.: The Newman Press, 1970, p. 75.
174. Ibid., p. 74.
175. Ver Jerônimo. “Jerome on the pilgrimage of Paula”. In: Whalen, Brett Edward (org.). Pilgrimage in the Middle Ages: a reader. Toronto: University of Toronto Press, 2011, pp. 26-9. Sobre Paula, ver Kelly, J. N. D. Jerome: his life, writings, and controversies. Londres: Duckworth, 1975, pp. 91-103.
176. Sobre as circunstâncias que levaram a Igreja católica a adotar o militarismo religioso, ver o minucioso La Guerre Sainte: la formation de l’idée de Croisade dans l’Occident chrétien, de Jean Flori. Paris: Aubier, 2001.
177. Barbero, Alessandro. Histoires de Croisades. Paris: Flammarion, 2010, p. 12.
178. Ver o relato de Balderico, bispo de Dol, em Krey, August C. The First Crusade: the accounts of eyewitnesses and participants. Princeton: Princeton University Press, 1921, pp. 33-6.
179. Para mais sobre isso, ver Aryeh, Grabois. “Da geografia sagrada à escritura de ‘Eretz Israel’: mudanças nas descrições dos peregrinos do século XIII”. Cathedra, 31 (1984), p. 44 (em hebraico).
180. Essa realidade demográfica básica não impediu Joshua Prawer, historiador israelense das Cruzadas, de referir-se à região durante esse período como “nossa Terra”. Ver, por exemplo, seu livro O reino cruzado de Jerusalém. Jerusalém: Bialik, 1947, p. 4 (em hebraico). Nesse espírito, seu livro mais recente, As Cruzadas: uma sociedade colonial. Jerusalém: Bialik,1985 (em hebraico), não possui um capítulo separado sobre os habitantes muçulmanos, mas tem um grande capítulo sobre “a comunidade judaica” daquele período (pp. 250-329).
181. O desaparecimento desse espírito missionário da tradição judaica, oriundo não de rejeição ou falta de desejo, mas sim de sua interrupção e proibição pelas duas religiões dominantes, foi um motivo para o papel relativamente marginal da peregrinação judaica.
182. Os peregrinos tendiam a ignorar os habitante judeus da Terra Santa, pois eram extremamente raros em número e atraíam pouca atenção. Em contraste, a literatura da peregrinação reflete ódio e desprezo pelos muçulmanos locais; aos olhos dos peregrinos, aqueles eram “cães”, “idólatras” e “hereges” miseráveis. Sobre esse assunto, ver Ish-Shalom, Michael. Viagens cristãs na Terra Santa. Tel Aviv: Am Oved, 1965, pp. 11-2 (em hebraico).
183. Sobre a cristalização desse protonacionalismo (embora eu não endosse necessariamente a conceituação geral do delineamento cronológico), ver Greenfeld, Liah. Nationalism: five roads to modernity. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993, pp. 29- 87.
184. No final do século XVI, o judeu “verdadeiro” ainda era considerado uma criatura repelente em muitos círculos por toda a Inglaterra. Ver, por exemplo, a peça O judeu de Malta (escrita em 1589-90), de Christopher Marlowe, e O mercador de Veneza (escrita em 1596-98), de Shakespeare. Pode se presumir que nenhum dos autores jamais tenha visto um judeu em pessoa.
185. Sobre a mudança de atitude em relação aos judeus, ver o interessante livro de Katz, David S. Philo-semitism and the readmission of the jews to England, 1603-1655. Oxford: Oxford University Press, 1982.
186. Para mais sobre esse assunto, ver o fascinante livro de Hill, Christopher. The English Bible and the seventeenth-century revolution. Londres: Penguin, 1994.
187. Tuchman, Barbara W. Bible and sword. Londres: Macmillan, 1982, p. 121. A principal fragilidade desse livro, que por outro lado é um dos mais fascinantes e abrangentes estudos já realizados sobre o papel da Grã-Bretanha no nascimento do sionismo, é seu orientalismo tosco, manifestado na cegueira e indiferença totais quanto aos habitantes originais da Palestina.
188. O primeiro a propor a ideia de uma restauração judaica para a Terra Santa em uma obra publicada parece ter sido Sir Henry Finch, membro do Parlamento, em 1621. Para mais sobre isso, ver Verete, Meir. “A ideia de restauração dos judeus no pensamento protestante inglês, 1790-1840”. Zion, 33:3-4 (1968), p. 158 (em hebraico).
189. Para mais sobre isso, ver Zakai, Avihu. “The poetics of history and the destiny of Israel: the role of the Jews in English apocalyptic thought during the sixteenth and seventeenth centuries”. Journal of Jewish Thought and Philosophy, 5:2 (1996), pp. 313-50.
190. De acordo com David Katz, a motivação econômica de trazer os judeus para a Inglaterra puritana foi secundária e se desenvolveu um pouco mais tarde. Ver Katz. Philo-semitism, p. 7.
191. Sobre a poderosa influência da Bíblia e seus mitos entre os puritanos e outros cristãos na América do Norte, ver Davis, Moshe. “A ideia de Terra Santa na história espiritual americana”. In: Kaufman, Menahem (org.). O povo americano e a Terra Santa: fundações de uma relação especial. Jerusalém: Magnes, 1997, pp. 3-28 (em hebraico). Muitos americanos deram nomes bíblicos não só aos filhos, mas a vilas, cidades e até animais de estimação. Era costume citar a Bíblia não no tempo verbal passado, mas no presente.
192. A atitude negativa dos deístas em relação às igrejas da cristandade também incorporou a crítica aguda à Bíblia e ao judaísmo. Historiadores israelenses caracterizaram isso como antissemitismo. Ver, por exemplo, Ettinger, Shmuel. “Judaísmo e judeus aos olhos dos deístas ingleses”. In: _____ (org.). Antissemitismo moderno: estudos e ensaios. Tel Aviv: Sifriat Poalim, 1978, pp. 57-87 (em hebraico).
193. Bunyan, John. The pilgrim’s progress. Oxford: Oxford University Press, 2008; Thomson, William M. The Land and the Book . Whitefish: Kessinger Publishing, 2010; Eliot, George. Daniel Deronda. Londres: Penguin, 2004 [Daniel Deronda. São Paulo: Paz e Terra, 1998].
194. Ver trechos selecionados de suas experiências em Shavit, Yaacov (org.). Viagens de escritores à Terra Santa. Jerusalém: Keter, 1981 (em hebraico).
195. Foi afirmado que, durante o cerco de Acre, o jovem Bonaparte escreveu uma carta na qual prometeu ostensivamente um Estado para os judeus. A carta não sobreviveu, e em todo caso parece ter sido forjada. Ver Laurens, Henry. “Le projet d’État juif attribué à Bonaparte”. In: Orientales, Paris: CNRS Éd., 2007, pp. 123-43. Sobre a concepção de Napoleão dos judeus como parte integrante da nação francesa em desenvolvimento e não como uma nação separada, ver Marcou, Lilly. Napoléon face aux juifs. Paris: Pygmalion, 2006.
196. Faber, G. S. A general and connected view of the prophecies, relative to the conversion, restoration, union and future glory of the houses of Judah and Israel. Londres: Rivington, 1809. Sobre esse personagem, ver Kochav, Sarah. “O movimento evangélico na Inglaterra e a restauração dos judeus para Eretz Israel”. Cathedra, 62 (1991), pp. 18-36 (em hebraico).
197. Bickersteth, Edward. The restoration of the Jews to their own land. Londres: Seeley, 1841.
198. Ver Muir, Diana. “A land without a people for a people without a land”. Middle East Quarterly 15 (2008), pp. 55-62.
199. Ver Kedem, Menahem. “Visões da redenção do povo judeu e da Terra de Israel na escatologia protestante”. Cathedra, 19 (1981), pp. 55-71 (em hebraico).
200. Para mais sobre essa figura carismática, ver também o abrangente estudo de Lewis, Donald M. The origins of Christian zionism: Lord Shaftesbury and evangelical support for a Jewish homeland. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Lewis enfatiza o filossemitismo do lorde evangélico, e não o seu poderoso desejo de converter judeus para a cristandade.
201. Citado em Tuchman. Bible and sword, p. 175. Ver também Schölch, Alexander. “Britain in Palestine, 1838-1882: the roots of the Balfour policy”. Journal of Palestine Studies, 22:1 (1992), pp. 39-56.
202. Ver o artigo de Bartal, Israel. “Moses Montefiore: nationalist before his time or belated Shtadlan?”. Studies in Zionism, 11:2 (1990), pp. 111-25. Para um relato de suas atividades em geral, ver também Green, Abigail. “Rethinking Sir Moses Montefiore: religion, nationhood and international philanthropy in the nineteenth century”. American Historical Review, 110:3 (2005), pp. 631-58. Também é altamente recomendado Halevi, Eliezer (org.). Biografias de Moses Montefiore e sua mulher Judith. Varsóvia: Tushia, 1898 (em hebraico).
203. Churchill, Charles Henry. Mount Lebanon. Londres: Saunders & Otley, 1853. Ver também Franz Kobler. “Charles Henry Churchill”. In: Herzl Year Book 4 (1961-2), pp. 1-66.
204. Kedem, Menahem. “Os esforços de George Gawler para estabelecer colônias de judeus em Eretz Israel”. Cathedra, 33 (1984), pp. 93-106 (em hebraico); Bartal, Israel. “O plano de George Gawler para a colonização judaica nos anos 1840: a perspectiva geográfica”. In: Kark, Ruth (org.). Redenção da Terra de Israel: ideologia e prática. Jerusalém: Yad Ben-Zvi, 1990, pp. 51-63 (em hebraico).
205. Para um breve e fascinante resumo das ideias sionistas britânicas, ver Hyamson, Albert M. British projects for the restoration of the Jews. Leeds: British Palestine Committee, 1917.
206. O livro foi traduzido em hebraico relativamente rápido. Ver Disraeli, Benjamin (conde de Beaconsfield). Khoter m’Geza’ Ishai, o- David al-Roey. Varsóvia: Kaltar, 1883 (em hebraico). A introdução do editor à edição hebraica inclui as seguintes palavras: “O objetivo dessa respeitada história […] é incitar e despertar no coração dos leitores o amor pela Terra Santa, a pátria de nossos ancestrais”. Ver também Disraeli, Benjamin. The wondrous tale of Alroy: the rise of Isk ander. Filadélfia: Carey, Lea and Blanchard, 1833.
207. Ver, por exemplo, o historiador protossionista Heinrich Graetz em seu debate com Heinrich von Treitschke. In: Ensaios-memórias- cartas. Jerusalém: The Bialik Institute, 1969, p. 218 (em hebraico). Ver também Nathan Birnbaum, que cunhou o termo “sionismo” em seu artigo “Nationalism and language”, citado em Doron, Joachim. O pensamento sionista de Nathan Birnbaum. Jerusalém: The Zionist Library, 1988, p. 177 (em hebraico).
208. Disraeli, Benjamin. Tancred: or the New Crusade. Londres: The Echo Library, 2007, p. 253.
209. O entusiasmo judaico pela autodefinição de Disraeli como membro da “raça hebreia” resultou em uma falsificação com o objetivo de provar que ele também era sionista em segredo. Sobre isso, ver Gelber, Nathan Michael. O plano de lorde Beaconsfield para um Estado judeu. Tel Aviv: Leinman, 1947 (em hebraico).
210. Embora seja possível discordar da avaliação de Edward Said sobre o poder do orientalismo até o século XVIII, sua análise a respeito dos séculos XIX e XX é acurada e difícil de ser refutada. Said, Orientalism. Londres: Penguin Books, 2003 [Orientalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2001].
211. O livro mais fascinante sobre a atitude dominante em relação à terra da Bíblia na Grã-Bretanha vitoriana publicado até hoje é: Bar- Yosef, Eitan. The Holy Land in English culture 1799-1917: Palestine and the question of orientalism. Oxford: Clarendon Press, 2005.
212. Sobre a atividade cultural colonial britânica e não britânica na Palestina, ver o corajoso livro de Eliaz, Yoad. Land/text, pp. 27-143.
213. Moscrop, John James. Measuring Jerusalem: the Palestine Exploration Fund and British interests in the Holy Land. Londres: Leicester University Press, 1999. Em 1870, um fundo semelhante foi montado nos Estados Unidos (ibid., p. 96). Os britânicos demonstraram maior interesse nas plantas e pássaros da Palestina que em seus habitantes árabes. Ver, por exemplo, The Land of Israel: a journal of travels in Palestine, do zoólogo e clérigo inglês Henry Baker Tristram, que também trabalhou em estreita colaboração com o fundo (Londres: Society for Promoting Christian Knowledge, 1882).
214. Ver Avni, Haim. Argentina and the Jews: a history of Jewish immigration. Tuscaloosa, AL.: University of Alabama Press, 2002. Ver também Schama, Simon. Two Rothschilds and the Land of Israel, que discuto na introdução.
215. Oliphant, Laurence. The land of Gilead. Edimburgo: Blackwood, 1880. Para mais sobre essa figura curiosa, ver Taylor, Anne. Laurence Oliphant. Oxford: Oxford University Press, 1982, em especial os capítulos enfocando suas conexões com a Palestina (pp. 187-230).
216. Sobre esse assunto, ver Gainer, Bernard. The alien invasion: the origins of the Aliens Act of 1905. Londres: Heinemann Educational Books, 1972.
217. Sobre esse assunto, ver o instrutivo livro de Kattan, Victor. From coexistence to conquest: international law and the origins of the Arab-Israeli conflicts, 1891-1949. Londres: Pluto Press, 2009, pp. 18-20.
218. A lei de 1924, que endureceu os termos instituídos pela legislação promulgada três anos antes, não se dirigia especificamente a judeus, mas ainda assim teve um significativo impacto negativo sobre eles.
219. Citado em Tomes, Jason. Balfour and foreign policy: the international thought of a conservative statesman. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, p. 202.
220. De acordo com o censo britânico de 1922, a Palestina tinha uma população de 754.549, incluindo 79.293 judeus. Ver Luke, Harry Charles & Keith-Roach, Edward (orgs.). The handbook of Palestine. Londres: Macmillan, 1922, p. 33.
221. Ver a correspondência em http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/hussmac1.html em Kattan. From coexistence to conquest, pp. 98-107.
222. Para os detalhes do acordo, ver http://unispal.un.org/unispal.nsf/3d14c9e5cdaa296d85256cbf005aa3eb/232358bacbeb7b55852571100078477c?OpenDocument.
223. Para um bom estudo sobre a variada literatura acadêmica relativa à carta do secretário de Relações Exteriores britânico, ver Shlaim, Avi. “The Balfour Declaration and its consequences”. In: Israel and Palestine: reappraisal, revisions, refutations. Londres: Pluto Press, 2004, pp. 118-29.
224. Sobre as conversas com o governo britânico que levaram à Declaração Balfour, ver Barzilay, Dvorah. “Sobre a gênese da Declaração Balfour”. Zion, 33:3-4 (1968), pp. 190-202 (em hebraico), e o excelente “The Balfour Declaration and its makers”, de Meir Verete, em Middle Eastern Studies 6:1 (1970), pp. 48-76.
225. Tom Segev foi o primeiro a realçar esse aspecto da política britânica, especificamente a respeito de Lloyd George. Ver sua pitoresca descrição e inovadora análise em One Palestine complete: Jews and Arabs under the British mandate. Nova York: Owl Books, 2001, pp. 36-9.
226. O estudo mais abrangente publicado até hoje sobre o desenrolar dos acontecimentos que levaram à declaração britânica de apoio à pátria judaica é o de Schneer, Jonathan. The Balfour Declaration. Nova York: Random House, 2010. Infelizmente, porém, Schneer dá atenção insuficiente aos aspectos ideológicos e compulsões imperialistas, e até transmite uma leve impressão de que os britânicos não pretendiam assumir o controle da Palestina.
227. Muitos membros da comunidade judaica britânica opuseram-se amargamente à Declaração Balfour. Figuras como o secretário de Estado da Índia, Sir Edwin Montagu; Claude Montefiore, sobrinho-neto do conhecido filantropo e fundador do judaísmo liberal na Grã- Bretanha; e até Lucien Wolf, da Associação Anglo-Judaica, manifestaram críticas públicas à ideia sionista. Ver Cohen, Stuart. “Religious motives and motifs in Anglo-Jewish opposition to political zionism, 1895-1920”. In: Amog, Shmuel; Reinharz, Jehuda & Shapira, Anita (orgs.). Zionism and religion. Hanover, NH: Brandeis University Press, 1998, pp. 159-74.