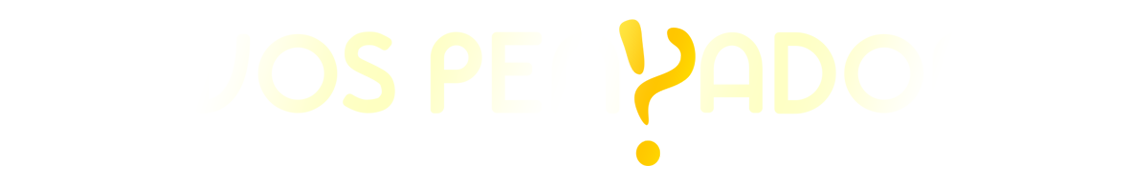Mito do território
Estamos lendo o livro de Shlomo Sand (2012), intitulado A Invenção da Terra de Israel: Da Terra Santa à Terra Pátria. São Paulo: Benvirá (Saraiva Educação), 2014.
Este é o segundo artigo da série. Reproduzimos abaixo o segundo capítulo de A Invenção da Terra de Israel, que trata da questão do mito do território.
Mito do território: no princípio, Deus prometeu a terra
Quando vocês gerarem filhos e filhos dos filhos, e tiverem envelhecido na terra, se agirem de forma corrompida, esculpindo uma imagem na forma de alguma coisa, e fazendo o mal à vista do Senhor seu Deus, de modo a provocá-lo à ira, chamarei o céu e a terra para testemunhar contra vocês hoje, de modo que em breve perecerão completamente da terra que irão possuir ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão por muito tempo nela, mas serão completamente destruídos.
DEUTERONÔMIO 4:25-6
Qual foi o propósito dessas três adjurações? Uma, que Israel não cresça pela força; uma pela qual o Sagrado, bendito seja Ele, adjurou Israel a não se rebelar contra as nações do mundo; e uma pela qual o Sagrado, bendito seja Ele, adjurou os idólatras [as nações do mundo] a não oprimir Israel excessivamente.
TALMUDE BABILÔNICO KETUBOT 13:111
A palavra “pátria” (moledet) aparece um total de 19 vezes nos livros da Bíblia, quase metade delas no livro do Gênesis. Todos os significados atribuídos à palavra têm a ver com a terra de nascimento de uma pessoa ou local de origem da família, e nunca contêm as dimensões civis e públicas encontradas nas culturas da pólis grega ou da antiga república romana. Os heróis bíblicos nunca saíram para defender sua pátria a fim de obter liberdade, tampouco articularam expressões de amor civil por ela. Também desconhecem o significado do “sacrifício último” e da “doçura” de morrer pela pátria. Em resumo, a ideia de patriotismo desenvolvida na enseada norte do Mediterrâneo mal era conhecida em suas praias do sul e menos conhecida ainda no Crescente Fértil.
Os adeptos da ideia sionista que começou a tomar forma no final do século XIX parecem ter encarado um tema espinhoso. Como empregavam a Bíblia como uma escritura de propriedade da Palestina, que rapidamente se tornaria a “Terra de Israel”, precisavam utilizar todos os meios necessários para efetuar essa transformação de uma terra estrangeira imaginada da qual todos os judeus foram supostamente exilados em uma antiga pátria, certa vez possuída por seus antepassados mitológicos. Para atingir esse objetivo, a Bíblia começou então a assumir o caráter de livro nacionalista. De uma coletânea de textos teológicos incorporando tramas históricas e milagres divinos destinados a incutir fé em seus leitores, tornou-se uma compilação de textos historiográficos que traziam apenas algumas noções de significado religioso opcional. Nesse contexto, era necessário obscurecer o máximo possível a essência metafísica de Deus e destilar dela uma personalidade completamente patriótica. Todos os intelectuais sionistas tendiam a ser pelo menos um pouco laicos e, portanto, não se interessavam por discussão teológica aprofundada. Da perspectiva deles, Deus, cuja existência havia sido posta em questão, prometeu uma terra para seu “povo escolhido” como uma recompensa por manter a fé nele de maneira devotada. Nesse sentido, ele foi convertido em uma espécie de locutor de um filme histórico orientando uma nação a lutar por uma pátria e emigrar para lá.
Não foi tarefa simples persistir no uso da expressão “Terra Prometida” quando a força que havia feito a promessa estava morrendo ou, de acordo com muita gente, já tinha falecido (79). Não seria fácil plantar um imaginário patriótico em obras teológicas completamente alheias ao espírito nacionalista. A despeito de complicada e problemática, a iniciativa acabou sendo bem-sucedida. Mas sua meta não foi alcançada somente pelo talento dos pensadores e escritores sionistas. O verdadeiro segredo de seu sucesso foram as circunstâncias históricas nas quais ela foi executada, que discutirei mais adiante neste livro.
Teólogos talentosos outorgam uma terra para si mesmos
Os livros da Bíblia não fazem menção à dimensão política de uma pátria nacional (80). Ao contrário da cristandade posterior, não ensinam que a verdadeira pátria reside no paraíso eterno. Entretanto, o território desempenha um papel principal nas histórias. A palavra “terra” aparece mais de mil vezes na Bíblia e, na vasta maioria dos textos, com grande importância.
Em contraste com Jerusalém, que não é mencionada no Pentateuco (81), a terra de Canaã é introduzida no princípio, no Gênesis, e subsequentemente serve de destino, arena de ação e compensação, herança, local escolhido, também desempenhando outros papéis. É descrita como “uma terra extremamente boa” (Números 14:7), “uma terra de trigo e cevada, de videiras e figueiras e romãs” (Deuteronômio 8:8), e, claro, “uma terra onde correm o leite e o mel” (Levítico 20:24, Êxodo 3:8, Deuteronômio 27:3). A suposição fundamental do público em geral, tanto judeu quanto não judeu, é de que a terra foi concedida para ser a “semente de Israel” até o fim dos tempos, e numerosos versos bíblicos parecem confirmar a suposição.
Não é por acaso que isso aparece no Gênesis, o primeiro livro do código javista, cujo rascunho foi provavelmente escrito na corte de Salomão. Ou muito mais tarde, como o autor supõe, depois da volta do exílio babilônico.
Como outras obras-primas da história da literatura, os versos bíblicos podem ser interpretados de diferentes maneiras, e essa versatilidade é uma fonte do poder que detêm. Mas isso não significa que cada verso possa ser interpretado de maneiras completamente contraditórias. De modo paradoxal, a despeito dos manuscritos cristãos que registram a crença em Jesus na terra da Judeia, os textos da Bíblia indicam repetidamente que a crença em Javé não apareceu nem se desenvolveu no território que Deus designou para seus escolhidos. Surpreendentemente, os dois primeiros exemplos de teofania que desempenharam papel decisivo no estabelecimento da crença em um único Deus e lançaram as fundações do monoteísmo no hemisfério ocidental (civilização judeo-cristã-islâmica) tanto na teoria quanto na prática não ocorreram na terra de Canaã.
No primeiro exemplo, Deus apareceu em Aram, no que hoje é a Turquia, e emitiu as seguintes instruções para Abraão, o arameu: “Vai do teu país, dos teus parentes e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei” (Gênesis 12:1). De fato, o primeiro seguidor de Javé abandonou sua pátria e embarcou em uma jornada para a Terra Prometida desconhecida. Devido à fome, não ficou lá por muito tempo, e rapidamente mudou-se para o Egito.
De acordo com o mito fundador, o segundo grande e dramático encontro aconteceu no deserto, durante o Êxodo do Egito (82). Javé teve contato direto com Moisés durante a entrega da Torá no monte Sinai. Depois dos Dez Mandamentos, além de suas instruções, mandamentos e conselhos, Deus também falou da Terra Prometida: “Veja, envio um anjo à sua frente para guardá-lo no caminho e levá-lo ao local que preparei […] Quando meu anjo for à sua frente e o levar aos amorritas e aos hititas e aos periseus e aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os eliminarei” (Êxodo 23:20, 23). Embora os ouvintes já devessem saber que a terra não estava vazia, o compromisso divino agora, pela primeira vez, contém uma promessa explícita de remover os habitantes originais que podem atrapalhar a colonização.
Isto é, nem Abraão, o pai da nação, nem Moisés, seu primeiro grande profeta – ambos os quais desfrutaram de um relacionamento íntimo e exclusivo com o Criador, nasceram na terra; em vez disso, migraram de algum outro local para lá. Em vez de um mito autóctone louvando a antiguidade dos habitantes locais como uma expressão de sua propriedade da terra, a fé em Javé realçou repetidamente a origem estrangeira de seus fundadores e daqueles que estabeleceram a entidade política subsequente no lugar.
Quando Abraão, o “convertido”, que migrou da Mesopotâmia para Canaã com sua esposa arameia, tratou de casar seu filho favorito, disse a seu criado: “Você não tomará para meu filho uma esposa das filhas dos cananeus, entre os quais eu resido, mas irá a meu país e aos meus parentes, e tomará uma esposa para meu filho Isaac” (Gênesis 24:3-4). Sem se surpreender em absoluto, o servo voltou à pátria de seu senhor e importou a atraente Rebeca. Esse costume antipatriótico foi também praticado pela geração seguinte, como refletem as palavras proferidas por Rebeca – que, como o sogro, veio do exterior – a seu marido idoso: “Abomino minha vida por causa das mulheres hititas. Se Jacó casar com uma dessas mulheres hititas, uma dessas mulheres da terra, de que me valerá minha vida?” (Gênesis 27:46). Isaac cedeu à esposa mandona e instruiu seu filho mais velho de acordo: “Você não deve tomar uma esposa das mulheres cananeias” (Gênesis 28:1).
Como filho obediente, Jacó não teve escolha a não ser deixar Canaã e viajar até a Mesopotâmia, pátria de seu avô, sua avó e sua mãe. Lá, em meio à não tão distante Diáspora, Jacó casou-se com Lia e Raquel, duas irmãs locais que também eram suas primas-irmãs, gerando com elas um total de 12 filhos e uma filha. Os filhos, dos quais 11 (junto com os dois filhos de José) constituíram os pais epônimos das tribos de Israel, nasceram todos em uma terra diferente, exceto por um que nasceu mais tarde em Canaã. Além disso, como vimos, as quatro “mães da nação” também vieram de uma pátria distante. Abraão, sua esposa, a noiva do filho, as esposas e concubinas de seus netos, e quase todos os seus bisnetos eram, de acordo com a lenda, nativos do norte do Crescente Fértil que migraram para Canaã conforme ordenado pelo Criador.
A saga antipatriótica continua à medida que a história avança. Como sabemos, todos os filhos de Jacó “foram” para o Egito, onde todos os seus descendentes, o conjunto da “semente de Israel”, nasceriam pelos próximos 400 anos, o que é um tempo mais longo que o período entre a Revolução Puritana na Inglaterra e a invenção da bomba atômica. Como seus antepassados, eles também não hesitavam em casar com mulheres locais (um arranjo permitido, contanto que as mulheres não fossem cananeias). Um exemplo notável é José, que se casou com Osnat, que lhe foi dada pelo faraó. (Hagar, a concubina de Abraão, também não era cananeia, mas sim egípcia.) Moisés, o primeiro grande líder da “semente de Israel”, tomou a midianita Zípora como esposa. Como resultado de tais casamentos, que contradiziam totalmente os costumes, não causa surpresa que “o povo de Israel foi fecundo e aumentou imensamente; multiplicou-se e ficou extremamente forte, de modo que a terra ficou cheia dele” (Êxodo 1:7) (83). A terra em questão aqui, devemos lembrar, era o Egito, não Canaã. Assim, de acordo com a própria história bíblica, o “povo” estava surgindo demograficamente em um lugar que não estava prometido a ele, mas que, de acordo com o antigo mapa cultural, era considerado um centro cultural prestigioso e louvável. Moisés, Aarão e Josué – que lideraram o povo para Canaã – também nasceram, foram educados e se transformaram em devotados seguidores de Javé no grande reino faraônico.
Como vimos, essa formação mitológica, antiautóctone, da “nação santa” fora da terra deve ser entendida em conjunto com outra dinâmica integrante. Não só os autores da Bíblia opõem-se aos habitantes da terra, como também expressam profunda hostilidade a eles repetidas vezes. A maioria dos autores dos textos bíblicos abominava as tribos locais (“populares”), de agricultores e adoradores de ídolos; passo a passo, eles assentam a fundação teológica para a erradicação das tribos.
Conforme notamos, Javé fez uma promessa inicial – no monte Sinai, imediatamente depois de entregar os Dez Mandamentos – de expulsar os habitantes autóctones da terra a fim de dar espaço para os seus escolhidos (84). Moisés, o antigo príncipe egípcio, reiterou a promessa de Deus em uma série de ocasiões. No livro do Deuteronômio, o profeta enfatizou repetidas vezes aos “filhos de Israel” que seu deus iria “liquidar as nações cuja terra o Senhor seu Deus está lhes dando” e que eles iriam “desapropriá-las e viver em suas cidades e em suas casas” (19:1). Além disso, depois de dar instruções contendo uma abordagem relativamente moderada em relação aos habitantes não cananeus conquistados, Moisés enfatizou de novo: “Mas nas cidades desses povos que o Senhor seu Deus está lhes dando como herança, vocês não devem deixar vivo nada que respire” (Deuteronômio 20:16).
“Eliminar”, “liquidar” e tirar a vida de “qualquer coisa que respire” são imperativos claros, mas uma expressão também amplamente usada ao longo de toda a Bíblia para indicar a erradicação geral dos habitantes da terra é “destruir completamente”. De fato, de acordo com a lenda bíblica, o extermínio físico da população local começa imediatamente após as tribos de Israel cruzarem o rio Jordão e entrarem na Terra Prometida, na sequência da conquista de Jericó. Foi quando “eles destruíram completamente tudo na cidade com a espada – todo homem e mulher, tanto jovem quanto velho, e todo boi, ovelha e jumento” (Josué 6:21), prática que repetiram após a queda de todas as outras cidades. Conforme está escrito: “Então Josué conquistou toda a região – a zona montanhosa, o Neguev, os sopés da Judeia e as encostas – com todos os seus reis, sem deixar sobreviventes. Ele destruiu completamente todos os seres vivos, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado” (Josué 10:40). A conquista terminou com uma farra de saques e derramamento de sangue geral: “E todo o espólio dessas cidades e gado o povo de Israel tomou como pilhagem. Mas todas as pessoas eles atingiram com o fio da espada até as terem destruído, e não deixaram nada que respirasse” (Josué 11:14).
Depois do assassinato em massa, o exército dos conquistadores ficou um tanto pacificado, e o “povo” nascido no Egito separou-se em tribos de novo, dividindo-se entre as várias regiões da terra. Agora, a “Terra” era maior do que Deus havia prometido a Moisés, subitamente incorporando também o outro lado do rio Jordão. Duas tribos e meia assentaram-se a leste do rio, marcando o início de sua história local na Terra Prometida, que, conforme observado, era maior que a terra de Canaã. A Bíblia reconta essa história em detalhes e com grande imaginação, e está repleta de denúncias dos pecados repetidos que levaram à punição final do exílio duplo: o exílio dos habitantes do reino de Israel para a Assíria (no século VIII a.C.) e o exílio dos habitantes do reino de Israel para a Babilônia (no século VI a.C.). Muito da narrativa recriando as histórias dos hebreus na terra de Canaã busca esclarecer os fatores que resultaram nesses exílios traumáticos.
Isso levanta uma série de questões para historiadores e estudiosos bíblicos que não acreditam na sacralidade divina dos livros nem aceitam a cronologia anacrônica e insustentável dos eventos: (1) por que os autores dos textos antigos enfatizam repetidamente a revelação da deidade em locais fora da Terra Prometida? (2) Por que a maioria dos heróis dessa epopeia fascinante não são de descendência autóctone? (3) A que propósito serviu o cultivo de ódio ardente contra a população nativa e por que, antes de mais nada, essa história de extermínio em massa, perturbadora e estranha por todas as avaliações, é contada?
Embora muitos estudiosos tenham feito objeção ao livro de Josué devido à campanha de extermínio que descreve (85), o texto até um período relativamente recente era o favorito em muitos círculos sionistas, dos quais David Ben-Gurion era um representante proeminente. Os relatos sobre a colonização e o retorno do povo de Israel a sua terra prometida emprestaram poder e fervor aos fundadores do Estado de Israel, e eles agarraram-se à inspiradora semelhança entre o passado bíblico e o presente nacionalista (86).
Estudantes de yeshiva sempre estiveram cientes de que a Bíblia não deveria ser lida de modo literal – que ela requer orientação e uma interpretação moderada das palavras severas e ambíguas de Deus. Não obstante, estudantes judeus de nove e dez anos de idade aprendem sobre as campanhas de Josué nas escolas israelenses sem o benefício dos filtros racionalistas e protetores do judaísmo talmúdico. O Ministério da Educação israelense nunca achou necessário distanciar-se dessas partes chocantes da Bíblia, e em vez disso facilita seu ensino sem qualquer censura. Como o Pentateuco e os livros dos primeiros profetas são considerados textos históricos que recontam a história do “povo judeu” desde tempos antigos, houve um consenso de que, ainda que não seja obrigatório estudar os textos mais abstratos dos profetas posteriores, sob nenhuma circunstância é permissível pular o livro de Josué. Além disso, embora o ensino desse “passado” tenha se mostrado ética e pedagogicamente destrutivo, o sistema de educação israelense recusa-se a excluir do currículo esses vergonhosos relatos de extermínio (87).
Por quê? Basta fazer a pergunta.
Talvez seja afortunado que tanto os estudiosos bíblicos sionistas quanto os arqueólogos israelenses recentemente tenham começado a expressar dúvidas sobre a veracidade da narrativa. O trabalho de campo tem proporcionado evidência cada vez mais decisiva de que o êxodo do Egito nunca ocorreu e que a terra de Canaã não foi conquistada de repente durante o período identificado na Bíblia. Esses estudiosos estão achando razoável presumir que as histórias de horror sobre assassinato em massa sejam invenções. Parece provável hoje que os habitantes locais, que passaram por um longo e gradual processo de transição da vida nômade para o trabalho agrícola, tenham evoluído para uma população autóctone mista de cananeus e hebreus que mais tarde deram origem a dois reinos: o grande reino de Israel e o pequeno reino da Judeia (88).
A teoria que se tornou comum nos novos círculos acadêmicos é que as histórias da conquista surgiram no final do século VIII a.C. ou o mais tardar um século depois, durante o reino de Josias, na época da concentração do ritual em Jerusalém e da aparente descoberta da Torá. De acordo com os estudiosos que abraçaram essa teoria, a meta principal da obra teológico-histórica em questão era incutir nos habitantes da Judeia, bem como nos refugiados de Israel que chegaram após a destruição de seu reino ao norte, a crença em um único deus. Na luta pelo monoteísmo, todos os meios de persuasão eram considerados legítimos. Um resultado foi a incitação hostil e indiscriminada contra a veneração generalizada de ídolos e a corrupção moral concomitante (89).
Tais hipóteses são agradáveis, mas permanecem extremamente inconvincentes. Embora nos aliviem parcialmente do pesadelo literário do antigo genocídio, falham em responder à pergunta fundamental: por que a história bíblica retrata os primeiros monoteístas como migrantes e conquistadores completamente estrangeiros à terra que chegaram? Essas hipóteses tampouco nos ajudam a entender como evoluiu a aterradora história de um massacre da população local. A brutalidade do período antigo é bem conhecida e se reflete em muitas fontes; histórias de assassinatos em massa podem ser encontradas nas lendas dos antigos assírios e na Ilíada, e todo estudante de história está familiarizado com a brutalidade de Roma contra os habitantes da derrotada Cartago. Entretanto, embora atos de extermínio tenham sido ocasionalmente mencionados em documentos, não conheço nenhum grupo que tenha executado tais atos e se gabado do feito ou oferecido justificativas teológicas ou morais para a aniquilação de uma população inteira apenas para herdar sua terra.
Primeiro, é altamente improvável que o cerne historiográfico da Bíblia tenha sido escrito antes da destruição do reino da Judeia no século VI a.C. Antes da destruição não era possível escrever sobre um grande e espetacular reino com uma capital constituída de grandes palácios e salões gloriosos, visto que as descobertas arqueológicas mostram que a Jerusalém histórica não passava de uma aldeia que evoluiu gradativamente para uma pequena cidade. Segundo, os textos sobre a subordinação sistemática da dinastia governante de reis à soberania de Deus – e, mais ainda, aos zangados profetas pregadores que eram representantes de Deus na terra – não poderiam ter sido redigidos por escribas da corte ou sacerdotes dos templos, que eram desprovidos de autonomia intelectual. E nem mesmo o menor reino soberano estaria disposto a aceitar que a dinastia governante fora estabelecida pela iniciativa popular e que quase todos seus reis eram pecadores obstinados. Terceiro, é difícil explicar como uma revolução monoteísta tão significativa e tão rica em implicações audaciosas poderia ter começado a tomar forma em um pequeno reino de uma sonolenta região rural que não ostentava nenhuma semelhança com os fervilhantes centros culturais do Oriente Próximo.
Parece muito mais provável, conforme afirmado por muitos estudiosos não israelenses e concluído pela lógica aguçada de Spinoza, que os principais livros da Bíblia tenham sido escritos e teologicamente arquitetados apenas depois que aqueles que deixaram a Babilônia chegaram a Jerusalém e até mais tarde, durante o período helênico (90). Quase não restam dúvidas de que os talentosos redatores da Bíblia tivessem conhecimento em primeira mão do significado e da punição do exílio. Eles expressaram incessantemente seu choque com o acontecimento e de modo persistente tentaram proporcionar uma explicação teológica para sua ocorrência. Ao longo do Pentateuco e dos livros dos profetas, o exílio reverbera como uma experiência concreta e serve repetidamente de ameaça. É o caso do Levítico: “E hei de espalhá-los entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vocês, e sua terra será uma desolação […] E vocês hão de perecer entre as nações, e a terra de seus inimigos há de consumir vocês” (26:33, 38-9). É também o caso no Deuteronômio: “E o senhor vai espalhar vocês entre os povos, e vocês serão deixados em pequeno número entre as nações para onde o Senhor os conduzirá” (4:27). Essas sentenças são virtualmente idênticas a referências feitas em livros francamente “pós-exílio”, como Neemias: “Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos” (1:8).
Como premissa de trabalho, podemos postular que, quando os conquistadores persas alcançaram a Babilônia e lá encontraram sacerdotes e antigos escribas da corte descendentes de exilados da Judeia, colocaram esses últimos em contato com o zoroastrismo, na época em luta contra o politeísmo, mas ainda leal ao dualismo divino. Uma expressão característica do distanciamento epistemológico decisivo entre o zoroastrismo dualista e o javeísmo monoteísta é encontrada nas palavras do profeta Isaías, que declara em tom decisivo: “Assim diz o Senhor para seu ungido, para Ciro […] Eu sou o Senhor, e não existe outro. Eu formo a luz e crio as trevas, produzo o bem-estar e crio a calamidade, sou o Senhor que faz todas essas coisas” (45:1, 6-7).
Na minha opinião, o grau de abstração presente no jovem monoteísmo só poderia ter emergido dentro de uma cultura material e oficial estatal com considerável controle tecnológico sobre a natureza. Na época, tal controle havia sido obtido apenas pelas grandes civilizações hidráulicas, como Egito e Mesopotâmia. O notável encontro entre exilados e seus descendentes de um lado e esse centro de alta cultura de outro parece ser o que proporcionou a fundação para as teses pioneiras (91).
Como é típico de revoluções intelectuais decisivas, esses pensadores ousados e cultos foram forçados a desenvolver suas ideias radicais fora dos círculos culturais estabelecidos. Ao escrever em uma linguagem não familiar e, no caso de alguns indivíduos, migrar para Canaã sob a proteção do soberano persa, verificaram ser possível evitar choques frontais com um sacerdócio hegemônico e hostil e com autores da corte que ainda eram semipoliteístas. Dessa maneira, deslocando-se entre Canaã e Babilônia, deram o primeiro passo do lento movimento histórico rumo a um tipo completamente novo de tradição teológica.
A pequena Jerusalém do século V a.C. tornou-se um local de refúgio e uma sementeira intelectual para esses intelectuais excepcionais. Alguns parecem ter permanecido na Babilônia e fornecido logística material e espiritual aos migrantes, o que ajudou a criar o corpo revolucionário. Canaã, portanto, serviria de ponte espiritual entre a fé nascida no Crescente Fértil ao norte e as culturas da região mediterrânea. Jerusalém se tornaria a primeira parada da poderosa campanha teológica (judeo-cristã-muçulmana) que por fim conquistaria uma larga porção da terra.
Se adotarmos essa hipótese, os relatos sobre o nascimento do monoteísmo fora da Terra Prometida tornam-se muito mais plausíveis e mais fáceis de entender, e figuras literárias como Abraão e Moisés, que introduziram a fé em um só deus em Canaã, podem ser entendidas como um mimetismo da efetiva migração dos importadores babilônios de um deus único, que começaram a chegar ao Sião no início do século V a.C. Nos séculos V e IV a.C. – um período magnífico, que testemunhou o nascimento da filosofia grega, das peças gregas, da disseminação do budismo e do confucionismo –, os pioneiros do monoteísmo ocidental reuniram-se na pequena Jerusalém e começaram a cultivar sua nova fé.
Esqueceu de mencionar a maior brecha já aberta na cultura patriarcal: a democracia.
O trabalho foi executado sob os olhos vigilantes dos agentes do reino persa por meio de figuras respeitáveis como Esdras e Neemias. As estratégias narrativas selecionadas pretendiam criar uma comunidade de crentes leais e ao mesmo tempo impedir essa comunidade de ficar forte o bastante para ser uma ameaça à autoridade imperial suprema. Foi, portanto, permitido em Yehud Medinata (aramaico para “província da Judeia”) imaginar a conquista de uma grande terra em nome de Deus, recontar contos de grandes reinos do passado e sonhar com fronteiras irreais de uma Terra Prometida que se estendesse por todo o trajeto até a terra de origem dos novos migrantes, ao mesmo tempo que na prática refreavam-se as exigências de soberania efetiva, fazendo com que se contentassem com um templo modesto, agradecendo repetidamente aos “benevolentes” governantes persas e evitando que o poder da nova comunidade de crentes se tornasse excessivo.
Ao contrário das monarquias que os governavam e do estrato educado que anteriormente havia servido aos governantes locais, os hebreus nativos – o “povo da terra”, cujos pais viveram sob os reinos da Judeia e de Israel – e as tribos cananeias que viveram junto nunca foram exilados para a Assíria ou a Babilônia. Eram e continuaram sendo fiéis pagãos carentes de educação. Esses lavradores que falavam uma mistura de dialetos não reconheciam a exclusividade ou unicidade de Javé, embora o venerassem como a deidade proeminente entre os outros deuses. A meta dos migrantes monoteístas era congregar a elite local dos idólatras para dissuadi-la de sua fé, isolando-a assim da massa dos habitantes da terra, e moldá-la em um corpo de crentes dedicados. O resultado foi, ao que parece, o primeiro surgimento da ideia de “povo escolhido”.
Ou povo eleito.
Como era costume entre os reis da Babilônia, foram redigidas detalhadas crônicas oficiais dos eventos, formuladas de maneira semelhante às da Estela de Mesha. Muito provavelmente, essas crônicas permaneceram em Jerusalém ou foram levadas para o exílio após a destruição (92), fundindo-se em um rico reservatório de mitos cósmicos migrantes e tradições importadas do Crescente Fértil ao norte. Juntas, essas fontes serviram de núcleo para a história da Criação do mundo e da revelação de seu deus único. O próprio Deus, originalmente conhecido como elo, foi surripiado da tradição cananeia e se tornou elohim (o nome hebreu para Deus mais comumente usado na Bíblia). Foram pilhados os ritmos, rimas e estruturas linguísticas da poesia ugarítica, e os códices legais dos reinos mesopotâmicos foram incorporados aos mandamentos bíblicos. Até o longo e complicado relato da divisão das 12 tribos de Israel parece se basear em uma tradição política grega articulada por Platão em sua descrição da colonização ideal e sua divisão em 12 partes e tribos, dando-lhe uma célebre e familiar expressão literária (93).
Um pouco duvidoso. Elohim é plural.
A glorificação de um presente material e politicamente modesto e desesperado exigia um passado sólido e glorioso, e, como a educação e a propaganda pretendiam fomentar o monoteísmo, exigiram e com isso deram origem a um novo gênero literário. Ao mesmo tempo que Heródoto passava por Canaã (ou Palestina, como ele se referiu), os círculos cultos de Jerusalém e da Babilônia começavam a formular sua doutrina. Seus textos, entretanto, não podem ser vistos como históricos, e são muito mais bem classificados como “história-mito” original (94). Nesse novo gênero desconhecido não mais encontramos histórias sobre vários deuses, mas ainda não encontramos tampouco a investigação dos acontecimentos e ações humanos como uma meta em si, como vemos no mundo grego. A motivação primária para a redação foi a poderosa necessidade de recriar o passado como prova do plano e das maravilhas do Deus único e como evidência da inferioridade dos humanos, destinados a se mover eterna e ciclicamente entre pecado e punição.
Com esse propósito, era necessário separar de modo persistente o trigo do joio – determinar qual rei do passado havia sido escolhido por Deus e teria suas transgressões perdoadas, e quem permaneceria um malfeitor aos olhos de Deus, desprezado até o final de seus dias. Era necessário determinar quais reis do passado haviam permanecido fiéis a Javé e quais deveriam ser eternamente amaldiçoados. As principais figuras dessa iniciativa eram históricas, seus nomes foram retirados das detalhadas crônicas. Outros sacerdotes, atuando na Samaria, arrogaram-se um relacionamento pessoal com o grande reino de Israel, reforçando o notavelmente longevo mito do reino unido de Davi e Salomão, repartido em dois como resultado de sectarismo pecaminoso. Embora os líderes do reino do norte se transformassem em detestáveis adoradores de ídolos, isso não impediu o roubo de seu nome prestigioso, Israel, e sua atribuição ao “povo escolhido”.
A despeito das conclusões pioneiras de Spinoza, é ilógico presumir que esses textos extraordinários pudessem ter sido escritos apenas por um ou dois autores. A comunidade de autores muito certamente era grande e variada, e mantinha contato constante com os centros da Babilônia. A natureza dos textos reflete que foram escritos e reescritos repetidamente ao longo de um período de muitas gerações, resultando em relatos repetidos, histórias individuais unidas por emendas, ausência de coerência narrativa, lapsos de memória, mudanças de estilo, uso de diferentes nomes de Deus e um número significativo de contradições ideológicas. Claro que os autores ignoravam que todos os textos um dia seriam reunidos em um único livro canônico.
A despeito do amplo consenso referente à existência de um só deus, permaneceram numerosas discordâncias quanto aos valores morais que deveriam ser inculcados. Também brotaram variações na política de tratamento dos outros (95). Os autores posteriores parecem ter sido menos propensos à exclusão que os pioneiros, pois os deuteronomistas diferem dos autores sacerdotais tanto no estilo quanto na concepção da presença divina. Em todo caso, mesmo que a redação profusa pretendesse criar um cerne comunitário imediato, também era, e talvez muito mais intencionalmente, dirigida ao futuro distante.
A crescente proeminência dos que chegavam de Arã-Naharaim e seu profundo desdém pelos habitantes nativos refletiram-se na maioria dos livros da Bíblia e nos livros dos primeiros profetas. A pátria é situada em outro local – na Babilônia ou no Egito, os dois centros culturais mais bem considerados do período antigo. Os líderes espirituais dos “filhos de Israel” originaram-se de um local muito respeitado e de boa reputação, de onde trouxeram sua fé exclusiva e os mandamentos mais importantes de seu deus. Comparados a eles, os habitantes de Canaã eram ignorantes, corruptos e inclinados a se envolver em adoração recorrente de ídolos.
Desprezo e desinteresse pela população autóctone foram no fim traduzidos em perturbadoras descrições literárias de sua expulsão e extermínio. Os autores pioneiros que chegaram a Canaã não possuíam administração estatal nem exército. Não exibiam semelhança com os cruzados e não tinham uma inquisição institucionalizada. Tudo que tinham a seu dispor eram imaginação, palavras e intimidação.
Eles não se dirigiram ao público em geral. Em vez disso, sua atividade literária ocorreu em meio a uma pequena elite letrada e um número limitado de ouvintes curiosos, congregados nos arredores da pequena Jerusalém. Passo a passo, porém, o círculo expandiu-se e a “semente de Israel” continuou florescer até que, no século II a.C., teve condições de estabelecer o primeiro regime monoteísta da história: o pequeno e breve reino asmoniano.
Depois de negar o direito de propriedade e o direito à vida aos habitantes nativos da terra escolhida, os autores dos textos bíblicos concederam a terra a si mesmos e àqueles que concordaram em abraçar sua doutrina. O monoteísmo ainda era uma fé duvidosa, profundamente preocupada com a ameaça representada pelo politeísmo. Só depois de o monoteísmo ficar forte, na sequência da revolta macabeia do século II a.C., começariam o proselitismo e a conversão indiscriminada daqueles em seu meio. De momento, a comunidade monoteísta engajava-se em lutas ferozes com as massas de adoradores de ídolos que as cercavam e contra as quais forjaram inflexíveis posições isolacionistas.
A proibição de se casar com mulheres locais tornou-se uma diretiva suprema entre os “retornados do Sião” (shavei zion), a ponto de aqueles que já estavam casados com locais nativos receberem ordem de se divorciar (96) e aqueles que migraram para Canaã serem forçados a importar esposas da Babilônia. Essa condenação da população local parece coerente com a estratégia geral do império persa, engajado no familiar princípio de dividir para governar. A nova “nação santa” em atividade em Jerusalém e área adjacente foi proibida de se integrar ao povo rural e simples da terra. Portanto, em ações de retroatividade literária, Isaac e Jacó também foram obrigados a se casar com virgens aramaicas, e José e Moisés tiveram permissão de tomar esposas egípcias e medianitas, mas não cananeias. E quando “mais tarde”, entre suas 700 esposas e três mil concubinas, o insaciável e lascivo rei Salomão também tomou belas mulheres locais, suas ações foram consideradas desfavoráveis por Javé, e o reino imaginário foi dividido em dois. Isso, entre outras coisas, proporcionaria legitimidade teológica para a futura existência dos reinos de Israel e da Judeia (1 Reis, 11:1-13).
A proibição do casamento com homens ou mulheres cananeus das famílias pagãs locais ligadas a grandes clãs ou tribos era estrita e extensa. Tais uniões só eram permitidas aos excomungados ou amaldiçoados, como o filho mais velho de Isaac, Esaú, e resultavam em considerável declínio na
condição social. Nesse contexto, é fascinante traçar o entrelaçamento da história bíblica com os mandamentos de Deus da origem à implementação. Moisés, por exemplo, emitiu as seguintes instruções:
Quando o Senhor seu Deus levá-lo para a terra em que você estiver entrando para tomar posse e remover muitas nações diante de você, os hititas, os girgaseus, os amorreus, os cananeus, os periseus, os hiveus e os jebuseus, sete nações mais numerosas e poderosas que você, e quando o Senhor seu Deus as entregar a você, e você as derrotar, então você deve condená-las à destruição completa. Você não fará nenhum pacto com elas e não lhes mostrará misericórdia. Você não se ligará a elas pelo casamento, dando suas filhas aos filhos delas ou tomando as filhas delas para seus filhos. (Deuteronômio 7:1-3)
Por mais estranho que pareça, Deus primeiro ordenou o extermínio completo da população local e depois emitiu instruções para não se casarem com aqueles que haviam aniquilado. O extermínio e a proibição do casamento misturaram-se na imaginação isolacionista dos zelosos autores em um sólido composto de destruição.
Depois de fornecer um relato dos atos de extermínio de Josué, os autores seguiram adiante para informar a seus perplexos leitores que o genocídio, como qualquer outro genocídio da história, não havia sido completo. De fato, muitos pagãos continuaram a viver em Canaã mesmo depois do retorno para o Sião, inclusive após a legendária conquista de Josué. Sabemos da misericórdia manifestada à prostituta Raab e aos gibeonitas, que se tornaram lenhadores e carregadores de água. Além disso, antes de sua morte, Josué, um rígido líder militar, congregou seus seguidores e emitiu o seguinte aviso a eles:
Pois, se vocês voltarem atrás e se apegarem ao restante dessas nações que permanecem entre vocês e fizerem casamentos com elas, de modo que se associem com elas, e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor seu Deus não mais expulsará essas nações diante de vocês. Mas elas serão armadilhas e laços para vocês […] (Josué 23:12-3)
No livro dos Juízes, que aparece na Bíblia como uma continuação direta da história de Josué, ficamos surpresos ao saber que a população local não foi exterminada e que a obsessão com a ameaça da assimilação dentro da população local ainda corria solta:
Então o povo de Israel viveu entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os periseus, os hiveus e os jebuseus. E as filhas deles tomaram para si como esposas, e suas próprias filhas deram aos filhos deles, e serviram aos deuses deles. E o povo de Israel fez o que era mau aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor seu Deus e serviram aos Baalins e Asherahs. (Juízes 3:5-7)
Entretanto, é ainda mais surpreendente que, supostamente mais tarde, no livro de Esdras, uma grande inquietação ainda cerque o tema da integração com os antigos povos exterminados:
E, depois de essas coisas terem sido feitas, os oficiais me abordaram e disseram: “O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos das terras com suas abominações, dos cananeus, dos hititas, dos periseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabeus, dos egípcios e dos amorreus. Pois eles tomaram algumas das filhas desses para serem esposas deles e de seus filhos, de modo que a raça santa misturou-se com os povos das terras”. (Esdras 9:1-2)
A separação e compartimentação entre a deidade solitária (elohim) e sua pitoresca família – sua esposa Asherah, ela mesma uma deusa da terra, e seus talentosos filhos, o tempestuoso Baal, a desejável Astarte, o feroz Anat e Yam, deus do mar – parece ter sido um contínuo trabalho de Sísifo no qual os primeiros monoteístas engajaram-se de modo incessante. A fim de inculcar um deus único e supremo, era necessário extirpar as deidades do passado e, se isso não fosse feito e os filhos de Israel voltassem a adorar muitas deidades, seriam punidos e destituídos da terra que lhes fora concedida. Embora tivesse uma opinião positiva de si mesmo e fosse “misericordioso e compassivo”, Javé era um deus severo e vingativo. Como um marido zeloso e possessivo, não perdoava quem o traísse, e, quando seus seguidores pecavam, as sanções eram imediatamente acionadas. No final da história, os temas recorrentes de destruição e exílio são vividamente descritos.
Em sua totalidade, o livro dos Reis pretende estabelecer que a expulsão dos israelitas foi resultado das abominações da Casa de Omri, assim como os habitantes da Judeia foram mandados para o exílio devido aos pecados do rei Manassés. Quase todos os profetas, de Jeremias a Isaías, passando por Amós e Miqueias, proferem advertências incessantes sobre a calamidade que se abaterá sobre a região e a transformará em um deserto, exterminando pecadores e provocando a brutal perda da terra. Essa é a derradeira arma dos autores da Bíblia, que orientam e advertem incansavelmente a comunidade de crentes em lenta expansão a abraçar um só deus.
No discurso teológico da Bíblia, a promessa da terra ao povo eleito é quase sempre condicional. Nada é planejado para a eternidade; tudo depende do grau em que o povo se devota a Deus. A Terra Prometida não é uma concessão única, nem um presente irrevogável. Permanece como um empréstimo, e nunca pode ser considerada como propriedade territorial. Aos filhos de Israel não é concedida a posse coletiva da Terra Prometida, que permanecerá eternamente como propriedade de Deus, que apenas a oferece de modo temporário e condicional, ainda que com grande generosidade.
“Pois toda a terra é minha” (Êxodo 19:5), enfatiza repetidamente o onipotente proprietário divino. Para dissipar todas as dúvidas quanto à natureza da posse e propriedade do povo, ele afirma de maneira clara e decisiva: “A terra não será vendida em caráter perpétuo, pois a terra é minha. Pois vocês são estrangeiros e peregrinos comigo” (Levítico 25:23) (97). Desde John Locke, o pensamento político moderno sempre viu a terra como pertencente a quem a cultiva. Essa, entretanto, não era a filosofia da Bíblia. A terra não era propriedade dos povos da antiga Canaã, nem propriedade das tribos hebreias. Em uma considerável medida, todos aqueles que viviam nela podiam ser considerados seus órfãos.
Não obstante sua poderosa conexão com a cidade santa de Jerusalém, a Terra de Israel nunca foi a terra ancestral dos descendentes dos filhos de Israel, pois, como vimos, a maioria de seus antepassados imaginários nasceu em outros lugares. Além disso, os heróis da Bíblia não tinham pátria, não só no sentido político greco-romano da palavra, mas também no sentido mais limitado de uma área familiar, protegida e segura. O território, de acordo com a doutrina do monoteísmo incipiente, não seria nem um refúgio nem um abrigo para seres humanos comuns ou fatigados; seria para sempre um desafio – um pedaço de terra que a pessoa deveria se mostrar digna de deter, ainda que temporariamente.
Em outras palavras, em todos os livros da Bíblia, a terra de Canaã nunca serviu de pátria para os “filhos de Israel”, e por esse motivo, entre outros, nunca se referiram a ela como “a Terra de Israel”.
Da terra de Canaã à terra da Judeia
Diferentemente da maioria dos israelenses modernos, que não estão cientes de que a expressão convencional “Terra de Israel” (Eretz Israel) não é encontrada nos livros da Bíblia em seu sentido abrangente, os autores da Mishná e do Talmude têm agudo entendimento do fato, pois tiveram a sorte de ler a Bíblia sem o prisma do nacionalismo. Um midrash halakha (uma forma de literatura rabínica destinada ao esclarecimento da lei e prática judaicas), muito provavelmente do século III d.C., contém o seguinte texto:
Canaã fez por merecer que a terra fosse chamada por seu nome. Mas o que Canaã fez? Simplesmente isso: tão logo soube que os israelitas estavam prestes a entrar na terra, levantou-se e desviou da frente deles. Deus então lhe disse: você desviou da frente de meus filhos. Eu, por minha vez, chamarei essa terra pelo seu nome. (Mekhilta, Pisha, 18, 69) (98)
Conforme indicado na introdução deste livro, tanto na Bíblia quanto no longo período que precede a destruição do Templo no ano 70 d.C., a região foi concebida como Terra de Israel não por causa do idioma de seus habitantes, nem por seus vizinhos próximos.
Nomes e apelidos de lugares, entretanto, não duram pela eternidade, e mudanças sociais e demográficas com frequência resultam no surgimento de novas denominações. Como seria de esperar em um período de quatro séculos em qualquer região do globo, a morfologia política da terra de Canaã mudou entre o século II a.C. e o século II d.C. Nesse tempo, a região tornou-se cada vez mais conhecida como terra da Judeia, embora o antigo nome não tenha desaparecido por completo. Flávio Josefo, por exemplo, escrevendo no final do século I d.C., refere-se a ela como a “terra de Canaã” ao falar sobre o passado, mas chama a atenção do leitor para o fato de que a terra “então chamada de Canaã” era “agora chamada de Judeia” (99).
Infelizmente, muito pouco sabemos sobre os eventos ocorridos em Canaã entre os séculos V e II a.C., quando os livros da Bíblia foram redigidos, editados e retrabalhados. Esse conhecimento nos diria muito sobre as circunstâncias em que os livros foram escritos e nos deixaria mais aptos a interpretar seu significado. A história dos habitantes da pequena província da Judeia que existiu na terra até sua conquista por Alexandre da Macedônia é virtualmente desconhecida devido à falta de fontes, e o mesmo é válido para o início do período helênico. O que está claro é que os livros sagrados foram repetidamente copiados e transmitidos de geração para geração, e que a disseminação da religião javeísta nas pequenas localidades ao redor de Jerusalém começou a frutificar. Conforme já observamos, no século II, o Deus único já possuía uma ampla comunidade de crentes apta a abraçar suas visões e até se rebelar contra um governante pagão a fim de defender seus princípios religiosos e práticas rituais.
A revolta asmoniana de 167-160 a.C. foi um acontecimento essencial para o surgimento histórico do monoteísmo no mundo ocidental. A despeito da derrota decisiva dos rebeldes no campo de batalha, o enfraquecimento do império selêucida criou uma situação rara, facilitando o estabelecimento de um regime religioso autônomo, que em 140 a.C. emergiu como um reino teocrático soberano. Mesmo que a independência do reino da Judeia tenha sido de curta duração – apenas 77 anos, até a chegada do romano Pompeu –, serviu como trampolim para a disseminação do judaísmo pelo mundo.
Nosso conhecimento da revolta baseia-se apenas em umas poucas fontes, sendo a pioneira e principal o primeiro livro de Macabeus. Temos também o segundo livro de Macabeus, posterior, alguns comentários gerais de historiadores helênicos e romanos e os subsequentes adágios comuns do Talmude. A revolta é abordada por Flávio Josefo em Antiguidades judaicas e Guerras judaicas, mas o historiador judeu baseia a maior parte da narrativa no primeiro livro de Macabeus, ao qual não acrescenta informações significativas. O livro bíblico de Daniel e uns outros textos classificados como “externos” ou apócrifos também foram redigidos durante o período asmoniano, embora seu caráter não histórico contribua pouco para facilitar a reconstrução desses acontecimentos.
Embora a identidade do autor (ou possivelmente autores) do primeiro livro de Macabeus seja desconhecida, os estudiosos acreditam que ele tenha vivido na Judeia uns trinta anos depois da revolta e estivesse intimamente afiliado aos asmonianos durante o governo de João Hircano. O texto foi escrito em hebraico, mas rejeitado pela herança judaica e excluído do cânone judaico (100). Como o texto original foi perdido, tudo o que resta é uma versão grega na Septuaginta (“tradução por 70”), que, como os textos de Filo de Alexandria e Flávio Josefo, sobreviveu graças aos cristãos helenistas. É uma ironia da história que, não fosse pela ação da antiga cristandade na preservação de textos antigos, muito provavelmente teríamos pouco ou nenhum conhecimento sobre a história dos judeus entre a revolta asmoniana e a destruição do Templo.
Uma leitura atenta do primeiro livro de Macabeus revela uma distância notável entre os critérios que se podem obter da leitura do texto em si e a interpretação da revolta promovida pelo sistema de educação israelense. Assim como a iniciativa sionista nacionalizou o feriado tradicional de Hanukkah, também tentou ofuscar os aspectos religiosos tanto do livro bíblico quanto da própria revolta (101). A narrativa antiga não fala nada sobre um levante “nacional” irrompendo durante uma luta contra uma cultura latina estrangeira, nem sobre uma revolta “patriótica” com o objetivo de defender o país de invasores estrangeiros. E, do mesmo modo que o nome Terra de Israel não aparece em lugar nenhum da narrativa, a despeito da insistência dos historiadores sionistas, a narrativa também não faz referência ao conceito de “pátria”, embora o autor do livro seja bem versado na Bíblia e extremamente familiarizado com a literatura grega, da qual com certeza ele tinha condições de tomar empréstimos.
Por muitos anos, os devotos judeus estiveram acostumados a viver sob governantes que não compartilhavam de sua fé. Enquanto os reis da Pérsia e subsequentemente os primeiros mandatários helênicos os deixaram por sua própria conta e lhes permitiram adorar seu Deus singular, não armaram protestos que deixassem uma marca na história. Foram as extraordinárias perseguições religiosas de Antíoco IV Epifânio e a profanação do Templo que incitaram a ousada revolta. Matatias e seus filhos rebelaram-se contra o império porque “naquele tempo os oficiais do rei estavam impondo decretos para o abandono da prática judaica. Eles foram à cidade de Modin fazer seu povo oferecer sacrifícios pagãos” (1 Macabeus 2:15). O velho sacerdote asmoniano matou não um judeu que tentava adotar uma “cultura nacional” estrangeira, mas sim um habitante da Judeia que estava pretendendo sacrificar um animal para outros deuses. Ele mobilizou seus apoiadores exortando: “Todos os que sejam zelosos da Lei e apoiem o pacto que venham comigo!” (1 Macabeus 2:27).
A fim de transmitir a importância de termos como “helenistas” como algo diferente dos “hebreus” autênticos – palavras que desempenham papel central nas populares interpretações historiográficas sionistas, o autor de Macabeus teria que ter sido conservado em uma cápsula do tempo e emergir na era moderna. Como essa é uma opção da qual ele obviamente não desfrutou, tais adjetivos não aparecem no texto. Como outros autores bíblicos antes dele, simplesmente faz a distinção entre fiéis e pecadores – entre adoradores devotados dos céus e detestáveis adoradores de ídolos e não circuncidados. Na época, os habitantes da Judeia ainda incluíam um significativo número de pessoas que se dedicavam à idolatria ou eram encorajadas a retomar tais rituais, e os líderes da comunidade judaica consideraram imperativo separar-se dessa população e subjugá-la. Elemento-chave para a história da revolta no todo é a terrível tensão entre piedade e profanação dos mandamentos do Pentateuco, não uma cultura hebreia consciente de si de um lado e a linguagem grega do outro.
Judas Macabeu incitou seus seguidores a se sublevar e lutar por sua vida e leis religiosas, não por sua terra (1 Macabeus 3:21). Mais tarde, seu irmão Simão tentaria mobilizar um novo exército explicando: “Vocês sabem o quanto a família de meu pai, meus irmãos e eu fizemos pelo bem da Lei de Moisés e do Templo. Vocês também sabem das guerras que lutamos e dos problemas que tivemos” (1 Macabeus 13:3). Entretanto, não diz nada sobre sacrifício “nacional” ou sofrimento pelo bem da pátria, um conceito que nem existia na Judeia.
Ao contrário dos soldados contratados pelo futuro reino asmoniano, o exército dos macabeus consistiu de fiéis voluntários fartos da corrupção moral dos sacerdotes na capital e dos pesados impostos cobrados pelos governantes selêucidas. A combinação de intenso zelo monoteísta e protesto ético dotou os rebeldes de extraordinária fortaleza mental e inchou suas fileiras em dimensões espantosas. Todavia, é seguro presumir que sempre constituíram uma minoria entre a população camponesa (102). Depois de uma série de embates difíceis, conseguiram entrar em Jerusalém e liberar o Templo. A vitória foi coroada pela purificação do centro e pela construção de um novo altar para o Deus único. Ao longo dos anos, a dedicação desse altar seria marcada por um feriado religioso judaico.
É interessante notar que a luta entre os judeus monoteístas e os pagãos não judeus continua após a conquista de Jerusalém. Nesse contexto, o exército rebelde cruza a fronteira da terra da Judeia, invade regiões remotas como a Galileia, Samaria, Neguev e Gilad através do rio Jordão, e aí instala judeus fiéis em “sua terra”, possibilitando-lhes adorar a Deus em paz e sem a distração idólatra dos vizinhos. Ao final das batalhas, a terra da Judeia é expandida por meio da anexação de regiões adjacentes, que são submetidas à soberania da nova dinastia de sacerdotes (1 Macabeus 10:30, 41). O rei selêucida Alexandre Balas autoriza a anexação e nomeia João, um dos filhos de Matatias, para atuar como sumo sacerdote sob sua proteção real.
Curioso paralelo com a situação atual de Israel, instalando assentamentos em territórios palestinos além de suas fronteiras originais.
Quando o drama e as batalhas chegam ao fim e o emissário do novo rei Antíoco VII exige a devolução de uma série de áreas anexadas pelos macabeus, o autor atribui as seguintes palavras ao sacerdote Simão, governante do reino asmoniano: “Jamais tiramos terra de outras nações ou confiscamos qualquer coisa que pertencesse a outro povo. Pelo contrário, simplesmente retomamos propriedades que herdamos de nossos antepassados, terra que havia sido injustamente tirada de nós por nossos inimigos em uma ou outra ocasião” (1 Macabeus 15:33). Essa afirmação incomum, que se destaca como excepcional no texto, é indicativa do avanço de uma nova reivindicação de um direito autóctone que começa a transcender as conceituações bíblicas tradicionais e nos aproxima da herança territorialista dos helenistas.
Elementos significativos do texto (vestuário, ouro, reconhecimento na corte de Simão, cordialidade para com os líderes helênicos que apoiavam os asmonianos) indicam que o escritor totalmente religioso da corte não nutria mal-estar relativo à helenização que havia começado a se espalhar dentro do novo regime sacerdotal. João, o sumo sacerdote e quiçá patrono do autor, com toda a razão escolheu o típico nome grego Hircano, precedente seguido por todos seus herdeiros na dinastia asmoniana, que adotariam nomes não hebreus e as práticas dos outros governantes da região. No fim das contas, o reino asmoniano aceleraria o ritmo da helenização cultural entre os habitantes de Jerusalém não menos do que preservaria, com direção eficiente e às vezes brutal, a crença em um só Deus.
Ao mesmo tempo, não devemos esquecer que a expressão “a terra de nossos antepassados” (nahalat avoteinu) significa uma coisa muito diferente do conceito de patris em seu sentido político original. O conceito antigo, surgido na pólis independente muito antes das conquistas de Alexandre da Macedônia e que expressava a conexão de cidadãos soberanos com sua cidade, foi então despido de seu significado patriótico original e se tornou, durante o período helenístico, um eco cada vez mais distante de uma realidade histórica esmaecida. Assim como o regime sacerdotal hereditário, a monarquia dinástica que governou o reino da Judeia até sua conquista final por Roma não ostentava semelhança com a liderança eleita das cidades democráticas gregas.
Exatamente! Ainda que no período democrático de Atenas os conceitos de pátria e patriotas tivessem outro sentido. Patriotas chamaram-se a si mesmos os oligarcas da aristocracia fundiária que queriam volta a um regime não-democrático (o regime de “nossos pais”).
O segundo livro de Macabeus é mais helenístico e teologicamente judaico que o primeiro. Infelizmente, no entanto, é também menos histórico (103). É mais judaico e menos histórico porque Deus desempenha um papel ativo nos acontecimentos e dirige a revolta publicamente e é mais helenístico porque, diferentemente do primeiro livro, faz uso inesperado do termo patris (πατρίς) como um dos motivos do levante. Em contraste com o livro anterior, escrito em Jerusalém, 2 Macabeus, redigido durante um período posterior em um dialeto grego, mais provavelmente no Egito helenístico, nos informa que, na sequência do discurso mobilizador de Judas, seus seguidores ficaram “dispostos a morrer por sua religião e seu país” (2 Macabeus 8:21) (104). Todavia, essa retórica, completamente estranha à linguagem hebraica, não transforma o texto em uma declaração especialmente patriótica porque aqui também a principal meta da rebelião permanece a purificação do Templo, não o estabelecimento de uma pólis independente ou de uma “nação-Estado” judaica. O livro começa com a dedicação do altar e termina com a decapitação de Nicanor, o líder militar selêucida inimigo, e com a comemoração da vitória com um feriado de ação de graças judaico pelos atos de Deus.
Embora a transformação de uma rebelião puramente religiosa em um reino judaico soberano seja fascinante, a evidência dessa mudança não é apenas escassa e reticente, mas também difícil de ser usada para a recriação de uma história acurada. Em todo caso, a conceituação de espaço geográfico dos reis asmonianos era completamente diferente da dos rebeldes, conforme atestado, não necessariamente por suas deliberações, que ocorreram em caráter privado, mas por suas ações militares e religiosas. Como vimos em 1 Macabeus, a fome territorial do sacerdote Simão ficou cada vez mais insaciável a cada nova vitória no campo de batalha. Como todas as outras entidades políticas da região, o reino da Judeia tentaria expandir suas fronteiras tanto quanto possível e teria êxito em seus esforços. Ao final da campanha de conquista contínua dos reis asmonianos – ou seja, no auge de seu domínio –, a Terra conteria a Samaria, a Galileia e a região de Edom. Desse modo, o reino da Judeia ficaria relativamente próximo das dimensões da terra faraônica de Canaã.
A fim de se estabelecerem dentro de seus novos territórios, os novos judeus empregaram uma estratégia diferente daquela empregada por seus antepassados, os isolacionistas “retornados para o Sião”, que muito provavelmente foram os responsáveis por moldar a imagem de Josué como um destruidor. Como vimos, as primeiras gerações ficaram temerosas e separadas de seus vizinhos pagãos. Entretanto, os governantes helenísticos da Judeia eram mais seguros de si e ignoraram a diretriz bíblica de extermínio; em vez disso, esforçaram-se apaixonada e energicamente para converter os habitantes dos territórios vizinhos conquistados. Os edomitas de Neguev e os iturianos da Galileia foram obrigados pelos asmonianos a remover o prepúcio e se tornar judeus no pleno sentido da palavra. Assim, a comunidade de crentes judeus cresceu tanto em tamanho quanto em poder, e a terra da Judeia expandiu-se.
Essa conversão em massa não foi exclusiva do reino da Judeia. A partir desse período, e em especial como resultado do fértil encontro do monoteísmo com a cultura grega, o judaísmo tornou-se uma religião ativamente proselitista e começou a se espalhar pelo Mediterrâneo, adquirindo muitos praticantes novos (105). E, embora houvesse existido continuamente uma comunidade monoteísta na Babilônia desde o século V a.C., os migrantes começaram a deixar a Judeia três séculos depois rumo a todos os centros do mundo helenístico, onde então começaram a disseminar sua fé em massa.
Qual a conexão entre os migrantes judeus e os novos judeus convertidos de um lado e a terra de Canaã, que gradualmente tornou-se a terra da Judeia, de outro? É nesse ponto que brota esse tema – tema que doravante mantém-se presente na pesquisa sobre o judaísmo nas comunidades e reinos que adotaram a religião até a era moderna. Uma avaliação das várias conexões entre crentes judeus e a terra da Bíblia permite-nos entender melhor a religião em si. Entretanto, devido à escassez de fontes, esta seção vai enfocar apenas a presença da terra da Judeia no coração dos pioneiros da intelectualidade judaica, ou, para ser mais específico, no coração de duas figuras que talvez possam não ser fortemente representativas de círculos mais amplos. Para nossa discussão, o mais importante é o fato de ser impossível determinar o grau em que as obras desses autores articularam o estado de espírito entre as massas de judeus convertidos com quem eles viviam e com quem rezavam nas novas sinagogas.
Filo de Alexandria pode ser considerado o primeiro filósofo judeu, se omitirmos da categoria os autores dos livros bíblicos dos profetas e Eclesiastes. Embora esse intelectual judeu original não soubesse hebraico, a tradução grega da Bíblia, que desempenhou papel fundamental em atrair politeístas cultos para o monoteísmo judeu, habilitou-o a construir uma doutrina teológica organizada. Em todo caso, esse importante pensador não apenas esperava a conversão do mundo inteiro, como também não escondia seu profundo vínculo com Jerusalém (106).
Conforme já salientei, a denominação “Terra de Israel” era desconhecida pela literatura helenística judaica, todavia, a expressão “Terra Santa”, que aparece de modo limitado nos textos bíblicos, tinha se tornado comum e foi usada com frequência por Filo (107). Suas obras também contêm o termo helenístico “pátria”, embora em princípio, e muito logicamente, ele não ligue sua preciosa Terra Santa à ideia de uma pátria nacional:
É a cidade santa, onde fica o templo sagrado do Deus Altíssimo, que consideram sua cidade-mãe, mas as regiões que obtiveram de seus pais, avós, bisavós e ancestrais ainda mais remotos para viver [consideram] como a pátria onde nasceram e foram criados (108).
Em certos aspectos, as palavras de Filo lembram a distinção que Cícero tentou fazer poucos anos antes. Aqui também encontramos a pátria não política, aquela onde as pessoas nascem e crescem e que molda seu caráter, junto com outro lugar pelo qual anseiam, sendo que a conexão com este não contradiz o senso de conexão com a primeira região de filiação. Entretanto, para Cícero, esse “outro” lugar era o espaço urbano onde ele atuava, constituindo uma expressão de sua soberania cívica sobre sua pátria, enquanto o outro lugar de Filo era um foco distante de anseio religioso. Cícero representava uma imaginação política que estava em processo de desaparecimento, ao passo que Filo estava articulando uma nova imaginação religiosa que tomaria forma nos séculos vindouros.
Assim como as antigas cidades gregas eram queridas pelos colonizadores helênicos nas colônias, entendia-se que a cidade de Jerusalém, que era ainda mais santa que a terra, era querida por todos os fiéis judeus do mundo, que não esqueciam de seu status como fonte do judaísmo. Entretanto, não era a pátria deles, e devotos judeus nunca sonharam em se estabelecer lá.
Filo viveu toda sua vida em Alexandria, no Egito, a uma pequena distância da ansiada Terra Santa. Pode até ter feito uma peregrinação a Jerusalém, embora não tenhamos como confirmar isso. Tendo vivido em época anterior à destruição do Templo, poderia ter residido próximo a ele, em sua metrópole, caso optasse por fazê-lo. Naquele tempo, o reino da Judeia estava sob domínio romano, assim como o Egito, e a viagem entre as duas terras era livre e segura. Entretanto, assim como centenas de milhares de outros judeus na terra do Nilo nunca sonharam em migrar para a Terra Santa vizinha, o filósofo de Alexandria também decidiu viver e morrer em sua pátria original.
Filo pode ter sido o primeiro a formular com perspicácia o fiel elo judeu não apenas com sua terra, mas também com a cidade santa de Jerusalém. Ele seria seguido por muitos outros que aprofundariam e expandiriam sua abordagem e introduziriam novos elementos a esse sentimento de conexão. Mas o cerne do relacionamento não mudaria muito: o lugar santo nunca se tornaria uma pátria para os judeus ou para as massas de convertidos judeus que se juntariam a eles, expandindo as hostes do “povo escolhido” em centenas de milhares.
No futuro distante, outro aspecto da concepção de Filo sobre Jerusalém e a terra da Judeia emergiria na cristandade, que, diferentemente do judaísmo, adotou e preservou as obras de Filo, o Judeu. Para ele, como notamos, o lugar era muito mais que um pedaço de terra: era a capital espiritual por cuja santidade ansiavam os judeus do mundo inteiro. Mas sua imaginação religiosa levou-o ainda mais longe, a argumentar que a divina cidade eterna não se situava no chão, nem era feita de “madeira e pedra” (109). Essa afirmação surpreendente é coerente com sua visão de que a verdadeira pátria das almas invulgarmente sábias era o “país celestial” e que sua “morada terrena” material não passava de um lugar “no qual habitam por um tempo como em uma terra estrangeira” (110). Conforme discutido no capítulo anterior, seria Agostinho que, quatro séculos depois, transformaria esse país celestial da herança espiritual de um grupo seleto de pessoas cultas na pátria de todos os crentes.
A historiografia sionista fez de tudo a seu alcance para retratar o filósofo Filo como um patriota judeu (111). Mas foi muito mais difícil fazer o mesmo com Flávio Josefo, porque o grande historiador judeu traiu seus companheiros de armas, cruzou as linhas inimigas e juntou-se aos romanos. Ao mesmo tempo, porém, a historiografia sionista usou ao máximo a principal obra de Josefo a fim de retratar o levante de 66 d.C. como uma “grande revolta nacional”. Esse levante e o cerco de Massada, com o qual ele chegou ao fim, subsequentemente emergiram como um marco histórico na aspiração moderna de uma insurreição judaica e uma fonte inesgotável de orgulho sionista.
O fato de a heterogênea população da antiga Judeia falar uma mistura de linguagens e não possuir entendimento dos conceitos de cidadania, soberania e território nacional não interessou aos agentes da memória sionista. Há anos os alunos das escolas israelenses memorizam o lema “Massada não cairá de novo” e, quando atingem a maioridade, espera-se que sacrifiquem a vida voluntariamente de acordo com essa conclamação nacional ao dever. Na juventude, são levados para ver o espetáculo de som e luz nas ruínas das muralhas fortificadas construídas por Herodes devido à preocupação com um levante entre seus súditos. Após a incorporação como soldados do Estado de Israel, juram lealdade sobre a Bíblia no centro do cume da montanha, onde outrora situava-se o palácio dos prazeres e a casa de banho do desinibido rei judeu edomita.
Nem os alunos, nem os soldados israelenses estavam cientes de que, por muitos séculos, seus verdadeiros antepassados nem conheciam o nome Massada. Ao contrário da narrativa de destruição do Templo, profundamente arraigada na memória coletiva das comunidades que seguiam a religião judaica, os livros de Josefo e, portanto, os eventos neles narrados permaneceram não reconhecidos pela herança rabínica. Todavia, foi somente por meio dessas obras que os defensores do nacionalismo moderno ficaram sabendo dos assassinatos e suicídio coletivo perpetrados por Eleazar Ben-Yair e seus companheiros sicaris. É duvidoso que esses fatos sem sentido tenham ocorrido um dia, mas sob nenhuma circunstância Massada pretendeu servir de modelo a ser emulado na tradição judaica, e não foi empreendido para a santificação do nome de Deus (112).
Josefo viveu uma ou duas gerações depois de Filo e era um jerusalense nativo. Viveu na cidade, mas jamais retornou depois de ela ser devastada. Como ele é a fonte principal e virtualmente exclusiva de nosso conhecimento no que se refere à revolta de 66 d.C., a visão que apresenta de sua pátria é de particular importância. Claro que devemos lembrar sempre que ele escreveu seus livros como um judeu que viveu confortavelmente em Roma, não como um judeu que desempenhou um papel ativo na revolta.
Se avançarmos em ordem cronológica reversa e começarmos lendo o fim trágico de História da guerra judaica contra os romanos, de Josefo, encontramos um discurso de inesperado tom patriótico que o autor atribui a Eleazar Ben-Yair, o sicari suicida de Massada. Em seu esforço para convencer os companheiros a matar as esposas e filhos e depois tirar a própria vida, Eleazar invoca uma guerra pela liberdade e uma disposição para morrer, não em nome do paraíso, mas a fim de evitar ser tomado como prisioneiro pelos romanos (113). Ao mesmo tempo, Josefo não esquece de mencionar que, antes de subir para Massada, os sicaris assassinaram 700 homens, mulheres e crianças judeus de Ein Gedi sem hesitar.
Na enumeração dos motivos para a revolta e na análise de seu desdobramento e seus líderes, Josefo não considera os acontecimentos que descreve como um levante nacional. Mesmo que a terminologia empregada por ele inclua expressões de legado helenístico, tais como “pátria” ou “terra ancestral”, e mesmo que a liberdade (aristocrática) lhe seja cara ao coração, ele não vê os rebeldes como “patriotas”.
O primeiro motivo para a revolta foi a tensão entre os crentes judeus e seus vizinhos pagãos “sírios” nas cidades mistas. Os reis asmonianos já haviam convertido à força a maioria da população que haviam conquistado. Entretanto, mal deram início à conversão forçada dos habitantes idólatras de cultura helenística das cidades, grandes problemas começaram a se apresentar. O segundo motivo para o levante foi que, ao contrário do passado, os governadores romanos agora empregavam uma política destrutiva e irresponsável contra a fé judaica e comprometiam seriamente a sacralidade do Templo. Além disso, a política tributária rigorosa também causava queixas sociais e agitação de classe. A combinação dessas condições sociais objetivas criou uma oportunidade para grupos religiosos messiânicos e extremistas semearem a agitação entre os agricultores pobres e, com a ajuda deles, assumir o controle de Jerusalém.
Embora de início o próprio Josefo tenha tomado parte na revolta, passou a se opor e a insultar os rebeldes, e a considerá-los responsáveis pela perda da pátria (114). Refere-se a eles como ladrões e vilões que instilavam o terror ao seu redor onde quer que estivessem, e que mataram um número significativo de camaradas judeus. Na opinião dele, personagens como Simão bar Giora e João de Giscala profanaram os mandamentos da Bíblia e danificaram a herança ancestral (115). A queda de Jerusalém e a destruição do Templo não foram causadas por “traição” da liderança tradicional da população judaica, que tentou com todo o empenho aplacar os governantes “estrangeiros”, mas sim por extremistas religiosos zelotes intransigentes e esquentados.
Em um outro texto e num tom um tanto diferente, ele também acha necessário – ao mesmo tempo que defende a observância do Sabá, que, de acordo com críticos, havia resultado na queda de Jerusalém – enfatizar que os fiéis judeus deveriam “preferir constantemente a observação de suas leis e sua religião em relação a Deus antes da preservação de si mesmos e de seu país” (116).
Josefo considerava a Judeia sua terra, que lhe era querida; além disso, considerava Jerusalém a cidade de seus ancestrais. Não obstante, também devemos reconhecer que, em sua descrição do território no qual a revolta ocorreu, ele o divide em três terras distintas: Galileia, Samaria e Judeia (117). De sua perspectiva, as três regiões não constituíam uma unidade territorial, e suas obras não fazem referência ao conceito de “Terra de Israel”.
Além disso, em sua segunda maior obra, As antiguidades judaicas, na qual tenta reconstruir a história dos hebreus desde a promessa de Deus a Abraão, ele ocasionalmente “corrige” os autores da Bíblia e faz acréscimos baseado na própria imaginação. “Dou o domínio de toda a terra”, declara ele em nome de Deus, “e sua posteridade há de preencher todo o solo e o mar enquanto o sol os contemplar”. E prossegue:
Ó exército abençoado, maravilhe-se porque você há de se tornar muitos vindos de um só pai; e em verdade a terra de Canaã hoje pode mantê-los, sendo vocês ainda comparativamente poucos; mas saibam vocês que o mundo inteiro está destinado a ser seu local de habitação para sempre. A multidão de sua posteridade há de viver igualmente nas ilhas e no continente, e isso em número maior do que as estrelas no céu (118).
Com essas palavras, Josefo articula uma visão semelhante à concepção religiosa cosmopolita de Filo de Alexandria, embora tenha escrito um pouco mais tarde, durante um período em que a presença de judeus e judeus convertidos por toda a bacia do Mediterrâneo e na Mesopotâmia havia atingido um pico. Pouco antes de seu declínio, a concepção do espaço de existência dos judeus adquiriu uma nova dimensão. A terra dos judeus não era de forma alguma um território pequeno e limitado, mas sim uma terra abrangendo o mundo inteiro. Os crentes da fé judaica podiam ser encontrados por toda parte, e não como resultado de punição. Josefo sabia perfeitamente bem que, a despeito da grande derrocada que havia sofrido, a população judaica não havia sido exilada, mas sim designada por Deus desde o início para cumprir seu papel.
De acordo com a visão de Josefo, um descendente de sacerdotes que migrou para Roma, a redenção celestial com certeza envolveria o retorno ao Sião, mas não o ajuntamento dos judeus dentro de um território nacional. A visão dele sobre a construção de um novo templo era escatológica. Desse modo, a despeito da distância mental e intelectual entre ele e os autores da Mishná e do Talmude, que por volta da mesma época começaram a cultivar sua lei oral na Judeia e na Babilônia, Josefo compartilhava da crença profunda na salvação.
Entretanto, a despeito de sua minuciosa exploração da revolta zelote e do fato de que, apesar de suas nuances ideológicas, teológicas e literárias, seu livro é um exemplo da melhor redação historiográfica, Josefo evidentemente não possuía uma perspectiva histórica ampla dentro da qual contextualizar o levante de 66 d.C. Só depois do fracasso arrasador das duas maiores revoltas seguintes tornou-se possível avaliar a verdadeira importância da agitação messiânica monoteísta que varreu as costas do sul da bacia do Mediterrâneo durante os primeiros séculos da era cristã. O surpreendente é que, até os dias de hoje, os estudiosos acadêmicos sionistas recusam-se a entender as três revoltas, todas ocorridas em um período de apenas sete décadas, como parte de um único fenômeno: a luta do monoteísmo contra o paganismo.
A força crescente do judaísmo, resultante da conversão em massa, intensificou a tensão religiosa entre os helenistas judeus e seus vizinhos adoradores de ídolos nas principais cidades por todo o império romano. De Antioquia a Cirenaica, via Cesareia e Alexandria, o atrito continuou a se intensificar até a primeira explosão na terra da Judeia entre 66 e 73 d.C. Mas a repressão da revolta em Jerusalém foi apenas um prelúdio para um sangrento levante mais amplo ocorrido entre 115 e 117 d.C.
A vibrante e crescente religião judaica tentaria confrontar o paganismo romano de novo no norte da África, no Egito e em Chipre sem qualquer vestígio do sentimento “patriótico” que supostamente existia na Judeia. No levante das comunidades judaicas, ao qual a historiografia sionista refere-se como “a revolta da Diáspora” a fim de enfatizar seu foco “nacional” imaginário, não encontramos anseio por um retorno à terra ancestral, nenhum vestígio de lealdade ou conexão a uma distante terra de origem. A matança e chacina mútuas e a destruição sistemática de templos e sinagogas ocorridas durante essa rebelião implacável são indicativas da intensidade da crença da comunidade em um único Deus, bem como de seu fanatismo e anseio pelo Messias. Indicam também o intenso trabalho de parto do monoteísmo pouco antes de seu nascimento como um fenômeno mundial.
A revolta de Bar Kokhba, ocorrida na Judeia entre 132 e 135 d.C., marcou a conclusão do desesperado esforço messiânico de confrontar o paganismo pelo poder da espada. A derrota total desse levante iria acelerar o declínio e queda do judaísmo helenístico em torno do mar Mediterrâneo e sua substituição por seu irmão mais jovem e pós-messiânico – o cristianismo –, que adotaria armamento diferente, mas conservaria a atraente e mobilizadora visão monoteísta da natureza unidimensional do paraíso.
Entretanto, a leste de Jerusalém, o cristianismo foi menos bem-sucedido, e a derrota armada da religião resultou no florescimento do judaísmo rabínico pacifista. A Mishná, o mais importante texto judaico desde a Bíblia ainda escrito em hebraico, foi compilado e completado, ao que parece na Galileia, no começo do século III d.C. O Talmude de Jerusalém e o Talmude da Babilônia foram compostos entre o final do século III e final do século V d.C. (e este último muito provavelmente foi enfim editado ainda mais tarde) na área entre Sião e Babilônia, onde, não por acaso, as linguagens e culturas gregas eram menos dominantes.
Vamos nos voltar agora para uma discussão sobre a atitude dos principais textos rabínicos em relação ao território até então referido como província da Judeia, a terra da Judeia, e que, após o édito imperial romano emitido na esteira da revolta de Bar Kokhba, se tornaria conhecido como província Síria Palestina.
A Terra de Israel na Lei oral judaica
A Mishná, os dois Talmudes e o Midrash, como todos os outros textos da lei religiosa judaica, não contêm o termo “pátria”. Essa palavra, com seu significado baseado na tradição greco-romana, chegou à Europa por meio do cristianismo, mas não fez incursões no monoteísmo rabínico. Assim como seus predecessores, os autores da Bíblia e os estudiosos da Mishná e do Talmude jamais foram patriotas. Aqueles que viviam na Babilônia, assim como os milhões de judeus e outros convertidos ao judaísmo que viviam por toda a bacia do Mediterrâneo, não julgaram necessário migrar para a terra da Bíblia, a despeito da grande proximidade. Mas mesmo que a literatura legal judaica, em contraste com a literatura judaica helenística, não inclua o conceito de pátria, apresenta a estreia da expressão “Terra de Israel” (119).
Hillel, o Ancião, que ajudou a assentar as bases da exegese judaica, migrou da Babilônia para Jerusalém no século I a.C., apesar de, do século II a.C. em diante, o movimento fluir principalmente na direção oposta. O “povo da Terra” ainda permaneceu em sua terra, mas a emigração de eruditos, ao que parece como resultado da disseminação do cristianismo, foi de grande preocupação para os centros de religião na Judeia e na Galileia, o que resultou, entre outras coisas, no nascimento da “Terra de Israel” rabínica.
É difícil determinar precisamente quando a expressão foi inventada ou o motivo direto para sua introdução. De início, seu uso pode ter brotado da revogação romana do nome província da Judeia após a revolta de Bar Kokhba, e do uso, junto com muitos outros, do antigo nome, Palestina. E, como não se costumava considerar a Galileia como parte da Judeia, os rabinos locais começaram a integrar a expressão em seus ensinamentos. Ela também pode ter sido introduzida para reforçar o status dos centros de estudos da Galileia, que, a despeito da conquista asmoniana, jamais foi verdadeiramente incorporada à terra da Judeia. É mais provável que a destruição de Jerusalém e a proibição da entrada de judeus na cidade tenha aumentado imensuravelmente a proeminência da expressão.
Isaiah Gafni, destacado historiador do judaísmo do período talmúdico, sugeriu que a centralidade da “Terra” na literatura legal judaica pode ter sido um fenômeno relativamente tardio:
O grau em que essas questões em torno da Terra foram mencionadas em declarações atribuídas aos primeiros tanaim, até e incluindo a guerra de Bar-Kokhba (132-135 d.C.), é mínimo. Uma análise das centenas de declarações atribuídas a sábios como o Rabban Yohanan ben Zakai, R. Joshua, R. Eliezer, R. Eleazar b. Azariah e mesmo R. Akiva revela uma impressionante escassez de alusões ao caráter e aos atributos sobrenaturais da Terra, e, de modo semelhante, é mínima a alusão à centralidade da Terra em relação à diáspora e do consequente compromisso exigido dos judeus em relação à Terra. Tudo isso é impressionante justamente à luz das numerosas declarações atribuídas aos mesmos sábios referentes aos “mandamentos pertinentes à Terra”… (120).
De acordo com Gafni, a situação começou a mudar após a revolta de Bar-Kokhba em 135 d.C. Embora ele não desenvolva a asserção de forma explícita, a partir de suas palavras podemos concluir que, daquele período em diante, a nova e singular expressão “Terra de Israel” surgiu como nome habitual para a região, ao lado de nomes estabelecidos como terra da Judeia e terra de Canaã.
Gafni também tem o cuidado de enfatizar que, devido ao status ascendente da comunidade babilônica e à ameaça que ela representava ao status hegemônico dos rabinos na Judeia, superlativos até então desconhecidos começaram a ser imputados à Terra de Israel. De fato, na Mishná já encontramos afirmações como “a Terra de Israel é mais sagrada que todas as outras terras” (Taharoth, Kelim 1:6) e “a Terra de Israel é limpa e seus banhos rituais são limpos” (Taharoth, Mikvaoth, 8:1) (121). O Talmude de Jerusalém confirma essas asserções (Ordem Moed, Tratado Sheqalim, 15:4) e diz mais.
O Talmude Babilônio intensifica os rituais pertinentes à Terra Santa e oferece novas asserções, tais como “o Templo era mais elevado que toda a Terra de Israel, enquanto a Terra de Israel é mais elevada que todos os outros países” (Ordem Kodashim, Tratado Zebahim 54:2); “dez medidas de sabedoria desceram ao mundo: nove foram tomadas pela Terra de Israel, uma pelo resto do mundo” (Ordem Nashim, Tratado Kiddushin 49:2), e assim por diante.
Entretanto, ao lado dessas afirmações no Talmude Babilônio, também encontramos comentaristas adotando um tom diferente, por exemplo: “Assim como é proibido deixar a Terra de Israel pela Babilônia, também é proibido deixar a Babilônia por outros países” (Ordem Nashim, Tratado Ketubot, 111:1). A fonte contém até uma original interpretação do exílio do século VI a.C., que é a seguinte: “Por que os israelitas foram exilados na Babilônia mais do que em todas as outras terras? Porque, assim como um marido devolve a esposa maculada à casa do pai dela, era de lá que seu pai Abraão descendia” (Tosefta, Bava Kama 7:2). A comparação do “povo de Israel” com uma esposa divorciada que se faz retornar à casa dos pais é bastante inconsistente com a imagem de exílio e sofrimento em uma terra estrangeira não familiar.
Podemos identificar um número significativo de contradições nos textos do Talmude e do Midrash; assim como em outros textos sagrados ao longo da história, essas contradições tornam-se uma fonte de poder para o rabinato. Como essa variada literatura constitui a mais a-histórica coleção de textos imaginável, é difícil determinar exatamente quando cada afirmação foi escrita ou durante qual período o rabino que levantou a discussão viveu e trabalhou. Mesmo assim, podemos assumir cautelosamente que a influência em declínio da religião judaica na terra da Judeia e sua substituição pelo cristianismo, em especial no século IV d.C., intensificou a importância do centro sagrado e aumentou a intensidade de sua veneração espiritual. Afinal, foi lá que os livros sagrados foram enfim compilados e a maior parte das profecias foi feita.
Além disso, o verdadeiro tamanho da área em questão nem sempre esteve claro, embora geralmente se estendesse das fronteiras de Acre ao norte à periferia de Ashkelon ao sul – duas cidades pagãs. Muitas partes da terra bíblica de Canaã não foram incorporadas à Terra sagrada, de acordo com a lei judaica. Por exemplo, nem Beit She’an, nem a Cesareia, nem as áreas circunjacentes dessas localidades, foram consideradas parte dela, devido à presença de muita gente de Acre nessas regiões (122). O estudioso da Bíblia e do Talmude Moshe Weinfeld afirma que “a disposição para renunciar a áreas da Terra de Israel a fim de efetuar o mandamento de dar presentes aos pobres [que poderiam receber parte da colheita, caso a terra não fosse sagrada] reflete uma atitude de que a terra é um meio para um fim, e não um fim em si mesma” (123).
Ao mesmo tempo, aos olhos dos autores da Bíblia, a Terra de Israel permaneceu um território no qual se observavam mandamentos especiais subordinados à Terra, inclusive a supervisão especial das leis de impureza, alocação de dádivas sagradas e observação das leis de Schmita (o ano sabático, ou o sétimo ano de um ciclo agrícola de sete anos). Para agricultores judeus da época, era particularmente difícil cultivar e obter o sustento de terra que fosse considerada parte da Terra de Israel. Durante o século III d.C., também vemos o começo da transferência de cadáveres judeus para sepultamento na Terra Santa. De acordo com a Bíblia, os corpos de Jacó e José foram trazidos do Egito, e o sepultamento na Terra de Israel era considerado desejável, um meio de acelerar a entrada do falecido no mundo vindouro. Como resultado, chefes de yeshivas e membros ilustres das comunidades que podiam bancar a despesa financeira eram levados para sepultamento em Beit She’arim e mais tarde em Tiberíades, na Galileia (124).
Se viesse a existir uma nostalgia de qualquer tipo, ela enfocaria bem mais a cidade de Jerusalém do que o território como um todo. Como vimos anteriormente no caso de Filo, os autores da Mishná e do Talmude incorporaram referências a Jerusalém e Sião em centenas de provérbios e interpretações. Elas ocorrem com muito mais frequência que referências à área territorial, que é abordada primariamente no contexto das leis rituais agrícolas. O citado Moshe Weinfeld enfatizou que, ainda que o judaísmo, em contraste com o cristianismo, preservasse a Terra como um elemento físico importante, perto do final do período do Segundo Templo, o conceito de Terra passou por um processo de espiritualização, assim como Jerusalém. Jerusalém foi interpretada no sentido ideal como “reino dos céus” e “Jerusalém celestial”, e herdar a Terra foi interpretado de forma semelhante a receber um lugar no mundo vindouro (125).
Como o Talmude Babilônico tornou-se um texto obrigatório, hegemônico, na maioria das comunidades judaicas, também serviu de principal objeto de estudo nos yeshivas. Como resultado, em muitos círculos judaicos desenvolveu-se uma conexão com a Terra baseada muito mais na interpretação talmúdica da Bíblia do que na leitura da própria Bíblia. Cada afirmação ali tornou-se sagrada, e todos os julgamentos tornaram-se obrigatórios. Os conceitos de exílio e redenção, recompensa e punição, pecado e penitência tinham raízes na Bíblia, mas receberam uma variedade de interpretações.
Enquanto a Tosefta contém o importante pronunciamento de que “deve-se sempre viver na Terra de Israel, mesmo em uma cidade onde a maioria seja adoradora de ídolos, e não fora da Terra, em uma cidade onde a maioria seja judia” (Ordem Nezikin, Tratado Avoda Zarah 5:2), um aviso muito diferente, mas não menos significativo, foi implantado na lei judaica a respeito da atitude dos crentes em relação à Terra sagrada. Na Ordem do Ketubot, no Talmude Babilônico, encontramos o seguinte texto:
Qual foi o propósito dessas três adjurações? Uma, que Israel não cresça pela força [migração coletiva para a Terra]; uma pela qual o Sagrado, bendito seja Ele, adjurou Israel a não se rebelar contra as nações do mundo; e uma pela qual o Sagrado, bendito seja Ele, adjurou os idólatras [as nações do mundo] a não oprimir Israel excessivamente. (Ketubot 13:111)
Essas adjurações referem-se aos três versos que se repetem no Cântico dos Cânticos: “Adjuro vocês, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas ou corças dos campos, que não incitem e despertem o amor até que queira” (Cântico 2:7). Tanto na teoria quanto na prática, as adjurações são decretos divinos. A primeira proibiu os crentes judeus de migrar para o centro sagrado até a chegada do Messias. A segunda foi a lição histórica aprendida a partir das três revoltas fracassadas do judaísmo contra os idólatras. A terceira foi uma ordem para os governantes das nações do mundo mostrarem misericórdia aos judeus e pouparem suas vidas (126).
Até o nascimento do nacionalismo moderno, poucos ousaram desconsiderar esse mandamento. A posição “antissionista” do judaísmo rabínico teria uma vida longa e se manifestaria com destaque nas principais encruzilhadas na história das comunidades judaicas. Não seria o motivo para a firme recusa em migrar para a Terra Santa, mas serviria como uma das desculpas teológicas preferidas.
A “Diáspora” e o anseio pela Terra Santa
Conforme salientamos na introdução deste livro, o fato de que os judeus não foram exilados à força da Judeia após a destruição do Templo significa que também não fizeram esforço para “retornar”. Os crentes judeus que aderiram à Torá de Moisés multiplicaram-se e se espalharam pelo mundo helenístico e mesopotâmico antes até da destruição do Templo, e foi assim que disseminaram sua religião com relativo sucesso. É claro que a conexão das massas de judeus convertidos com a terra da Bíblia não poderia basear-se em anseio pela pátria, pois ela não representava a terra de origem nem para eles, nem para seus antepassados. O estado de “exílio” espiritual em que eles viviam, ao mesmo tempo em que mantinham contato regular com sua cultura e verdadeiro local de nascimento, não enfraqueceu a conexão com o “lugar” como foco de anseio: de certa forma, na verdade fortaleceu a significância da Terra e a preservou como um local judaico (127).
A importância crescente desse lugar no judaísmo foi resultado de um movimento centrífugo. À medida que a conexão tornou-se cada vez mais simbólica e distante, libertou-se da dependência total da corporeidade do centro. A necessidade de um lugar santo no qual existisse a ordem cósmica perfeita jamais implicou um desejo humano de realmente viver nele ou estar sempre próximo (128). A tensão em torno do lugar é mais intensa no caso do judaísmo porque, como a experiência de exílio não é um estado do qual os judeus possam libertar-se por si mesmos, todos os pensamentos de se esforçar para voltar para o lugar santo são inerentemente inaceitáveis.
Essa situação dialética é completamente diferente da conexão cristã com a Terra Santa, muito mais direta e menos problemática. Sua singularidade provém da recusa metafísica judaica em reconhecer que a redenção já chegou ao mundo. A experiência espiritual emergiu originalmente da oposição interpretativa do judaísmo à descida da graça cristã à Terra na forma de Jesus, o Filho de Deus, mas por fim evoluiu para uma posição existencial inequívoca sobre as complexas relações entre o céu e a terra.
O imperativo de “que Israel não cresça pela força” expressou a imensa oposição a fazer do elemento humano uma força ativa na história e realçou sua fraqueza. Deus Todo-Poderoso foi visto como um substituto total para o homem, que não deveria tomar parte nos acontecimentos ou concluí- los antes da redenção. Como resultado de sua considerável flexibilidade e de seu sólido e arraigado pragmatismo, os dois irmãos mais moços do judaísmo, o cristianismo e o Islã, provaram-se muito mais bem-sucedidos em adquirir comando e controle das forças terrestres – reinos, principados, aristocracia rural – e alcançar a hegemonia sobre largas porções do globo. Embora as tentativas de soberania judaica tenham desfrutado de sucesso temporário em várias regiões, as sérias derrotas do judaísmo no início da era cristã levaram-no a forjar uma identidade de fé baseada na autopercepção de um “povo escolhido”, sem base em e sem a possessão de uma localidade física definida. Como resultado, quanto menos realista tornou-se, mais intenso ficou o anseio espiritual pela Terra Santa. O judaísmo recusou-se a ser agrilhoado a um pedaço de terra. Com toda a veneração pela Terra Santa, recusou-se a ser escravizado por ela. A essência e razão de ser do judaísmo rabínico foram a Bíblia e comentários associados, e, dessa perspectiva, não seria exagero caracterizá-lo como ampla, fundamental e firmemente antissionista.
Não é coincidência que essa rebelião dentro do judaísmo, ocorrida contra o pano de fundo da recusa em aceitar o Talmude em particular e a Lei oral em geral no século IX d.C., resultasse na migração em massa para a Palestina. Para os “enlutados do Sião” da comunidade dos caraítas, a Terra não podia ser considerada sagrada se não fosse habitada pelo povo que acreditava nisso. Portanto, pregaram o amor pela Cidade de Davi e articularam esse amor e seu luto profundo pela destruição do Templo estabelecendo-se de fato em Jerusalém. Tomando seu destino em suas próprias mãos dessa maneira, ao que parece tornaram-se a maioria da população da cidade no século X d.C. Não fosse a conquista dos cruzados em 1099, que aniquilou essa comunidade para sempre, seus membros poderiam ter se tornado os primeiros fiéis guardiões da cidade santa.
Com justificativa, os caraítas consideravam a literatura rabínica uma meditação antiterritorial visando a santificar o exílio e distanciar os fiéis judeus da terra da Bíblia. Daniel ben Moses al- Kumisi, um dos mais proeminentes líderes dos caraítas, migrou para Jerusalém no final do século IX e conclamou seus partidários a seguir suas pegadas. Ele escarneceu a posição dos judeus rabínicos a respeito de residir na cidade santa:
Saibam, pois, que patifes que estão entre Israel dizem uns aos outros: “Não é nosso dever ir para Jerusalém até que Ele nos reúna, assim como Ele nos lançou ao exterior” […] Portanto, compete a vocês que temem ao Senhor vir para Jerusalém e nela residir, a fim de manter vigílias diante do Senhor até o dia em que Jerusalém seja restaurada […] abençoado é o homem que deposita sua confiança em Deus […] que não diz: “Como irei para Jerusalém, visto que tenho medo dos assaltantes e ladrões da estrada? E como encontrarei um meio de ganhar a vida em Jerusalém?” […] Assim, vocês, nossos irmãos em Israel, não ajam dessa maneira. Escutem o Senhor, ergam-se e venham para Jerusalém, de modo que possamos retornar ao Senhor (129).
Sahl Ben Matzliah HaCohen, outro líder caraíta, também emitiu um apelo apaixonado aos judeus do mundo:
Irmãos de Israel, ponham sua confiança em nosso Senhor e venham para seu templo, que ele consagrou para o todo sempre, porque é um mandamento para vocês […] congregar-se na cidade e reunir seus irmãos porque até agora vocês foram uma nação que não mais anseia pela casa de seu Pai no Céu (130).
Entretanto, não só o chamado dos caraítas permaneceu sem resposta, embora os judeus tivessem permissão para residir em Jerusalém sob o domínio islâmico, como o rabinato estabelecido fez de tudo em seu poder para calar e reprimir as vozes hereges dos rebeldes “enlutados do Sião”.
Vale observar que o mais destacado oponente dos caraítas era o estudioso judeu Saadia Gaon, que traduziu a Bíblia para o árabe e pode ser considerado o primeiro grande comentarista rabínico após a conclusão do Talmude. Esse proeminente e culto personagem do século X nasceu e foi criado no Egito, onde viveu e trabalhou por vários anos. Como muitos outros, porém, em um esforço para progredir na carreira, aproveitou a primeira oportunidade para se mudar para os animados e atraentes centros da Babilônia. Portanto, quando foi convidado a chefiar o aclamado Sura Yeshivah na Babilônia, desistiu da Terra de Israel sem hesitar, desconsiderando o mandamento explícito de residir lá. Sua relutância em permanecer na Terra Santa também pode ter brotado da extensiva islamização dos habitantes judeus da terra, um desdobramento que o rabino, com medo dos governantes muçulmanos, lamentou de forma dissimulada (131).
Além de nutrir hostilidade pelos sionistas caraítas, Saadia Gaon lutou incansavelmente contra a tentativa dos rabinos da Terra de Israel de questionar a hegemonia babilônica quanto a determinar o ano bissexto e o calendário judaico. Ele obteve sucesso considerável em ambas as frentes e permaneceu ativo na grande Mesopotâmia pelo resto da vida. O pensamento de Saadia Gaon não incluiu memórias nostálgicas ou anseios a respeito de sua terra sagrada, talvez porque ele tivesse tido experiência pessoal no lugar; sua biografia tampouco reflete um desejo de morar lá.
O mais proeminente sucessor de Saadia Gaon foi o rabino Moshe ben Maimon – conhecido como Maimônides ou o “Rambam” –, que viveu dois séculos e meio depois e também passou um tempo na Galileia. Ao contrário do predecessor, Maimônides viveu na cidade de Acre por poucos meses apenas, quando muito jovem. Seus pais chegaram à região vindos de Córdoba através do Marrocos, fugindo da intolerância dos almôadas, mas não conseguiram aclimatar-se à Galileia e depressa mudaram-se para o Egito. Foi lá que o jovem filósofo chegou à grandeza, tornando-se o mais ilustre e respeitado comentarista e adjudicador da história do judaísmo medieval e talvez de todos os tempos. Embora tenhamos apenas trechos de informação referentes ao tempo que passou na Terra Santa, é evidente que, como Filo de Alexandria, ele jamais voltou lá para viver, a despeito da curta distância de seu local de residência. Embora Maimônides ainda estivesse vivo quando Saladino reconquistou Jerusalém e permitiu que os judeus lá se estabelecessem, e, como médico, conhecesse o líder muçulmano pessoalmente, não há menção a esse significativo acontecimento nos textos. Todavia, o aparecimento de “Terra de Israel” nas margens de muitos de seus escritos permanece um fenômeno intrigante.
Como o Rambam é considerado um dos grandes filósofos do período medieval – o epitáfio em sua lápide diz: “De Moisés a Moisés, não houve ninguém como Moisés” –, os historiadores sionistas tentaram nacionalizá-lo um pouco e transformá-lo em um protossinionista reticente, como fizeram com muitas outras figuras da tradição judaica (132). Visto que todo pensamento complexo presta-se a diferentes interpretações, as obras do Rambam também foram interpretadas de maneiras variadas e às vezes contraditórias; entretanto, sua atitude em relação à Terra de Israel criou um problema especialmente difícil. Em sua discussão sobre os mandamentos obrigatórios, o meticuloso Maimônides não fez menção em absoluto à obrigação de viver na Terra, mesmo depois da chegada da redenção. Ele estava muito mais preocupado com a Bíblia, os mandamentos, o Templo e seu papel nos rituais futuros (133).
Para grande decepção dos sionistas, o Rambam foi bastante firme em sua posição sobre o lugar da Terra de Israel no mundo espiritual do judaísmo. Não só sustentou que não competia aos fiéis judeus cortar suas raízes e emigrar para a Terra, como a Terra em si não se caracterizava por todas as vantagens a ela atribuídas por vários rabinos impulsivos. A despeito de sua crença na “doutrina dos climas” (que compartilhava com muitos outros pensadores medievais), ele não achou a terra da Judeia extraordinária em nenhum sentido em comparação com outros países, embora a considerasse relativamente confortável (134). E, ao contrário de outros comentaristas, não considerou que a capacidade de profetizar estivesse condicionada à residência na Terra de Israel, ou que o desaparecimento dessa capacidade fosse ocasionado por se residir em outro local. Em vez disso, viu a capacidade de profetizar como algo condicionado ao estado espiritual das pessoas e, a fim de evitar uma divergência muito significativa com a estrutura talmúdica, explicou que, como o exílio havia causado desespero e deixado as pessoas preguiçosas, essa importante capacidade não ia além das pessoas de Israel (135). Sendo um pensador sofisticado, ao que parece ele não pôde ignorar o fato de que Moisés, o primeiro profeta, profetizou fora da terra de Canaã, ao passo que a presença judaica na Judeia entre a revolta macabeia e a conquista resultante de soberania e a destruição do Templo não resultou em novos profetas.
Além disso, em sua famosa A epístola do Iêmen, do ano 1172, o Rambam adjura os judeus do Iêmen, a despeito de seus problemas, a se abster de acreditar em falsos profetas e adverte que não devem, sob quaisquer circunstâncias, forçar a conclusão prematura do exílio. Ao final desse importante texto, também faz referência explícita às três adjurações talmúdicas contra a emigração coletiva para a Terra Santa (136). Talvez ainda mais decisivo na doutrina do Rambam seja o fato de ele não ligar a vinda do Messias aos atos dos judeus. Em seu pensamento, a redenção não tinha relação com o arrependimento ou a observância dos mandamentos; seria um milagre divino, independente do desejo humano e necessariamente abrangeria a ressurreição dos mortos (137).
A posição de Maimônides nesse ponto preservou-o de ser explorado pelo apaixonado rabinato nacionalizado da segunda metade do século XX. A sionização da religião judaica em última análise resultou na reintrodução nesse sistema de crença do sujeito humano, cujas ações com base na nação poderiam, e se destinavam a, apressar a vinda do Messias. A distinção revisionista moderna entre o processo de redenção e sua vinda final proclamou o começo do fim do judaísmo histórico e sua transformação em um nacionalismo judaico visando ao assentamento na Terra de Israel a fim de lançar as bases para a redenção divina.
Ao contrário do Rambam, ao qual se atribuíram metas patrióticas apenas com dificuldade, dois outros pensadores medievais judeus acabaram efetivamente servindo aos interesses da revolução nacionalista no judaísmo religioso no século XX. Esses dois superastros que representam a conexão judaica com a Terra de Israel foram o rabino Yehudah Halevi (o “Rihal”), que precedeu Maimônides, e o rabino Moshe ben Nachman (Nachmânides, ou o “Ramban”), ativo imediatamente depois dele. Esses dois pensadores foram consideravelmente menos importantes no mundo do judaísmo rabínico do que Maimônides, a “Grande Águia”, mas não no reino do sionismo. Tanto Rihal quanto o Ramban ficaram gravados no Muro das Lamentações da consciência religiosa sionista e eternizados na pedagogia secular sionista. A famosa obra O Kuzari, de Halevi, era estudada nas escolas israelenses muito depois de os kazares serem varridos para debaixo do tapete da memória nacional, e a residência de Nachmânides na Terra Santa no século XIII é firmemente louvada como um exemplo de ato nacionalista pioneiro.
Isso é preciso investigar. É surpreendente – embora faça sentido para quem investiga a replicação de padrões autocráticos – a hipótese de que as raízes ancestrais do sionismo podem ser encontradas, pelo menos em parte, no sistema mítico-sacerdotal-hierárquico-autocrático conhecido como Kabbalah. Dois rabinos, em especial, se destacam: o “Rihal” = Yehudah Halevi (1071-1141) e o “Ramban” = Moshe ben Nachman (1194-1270). Os séculos 12 e 13 na Espanha parecem ser momentos de fundação…
Não sabemos por que Halevi, que era conhecido por seu nome árabe de Abu al-Hassan al-Lawi, escolheu um diálogo imaginário entre um judeu religioso e um rei kazar como esqueleto em torno do qual estruturou seu livro. Relatos sobre a existência de um reino perto do mar Cáspio que adotou o judaísmo espalharam-se por todo o mundo judaico e chegaram até a península Ibérica, onde Halevi vivia. Todos os acadêmicos judeus importantes estavam familiarizados com a correspondência entre Hasdai ben Yitzhak ibn Shaprut, um influente dignitário de Córdoba a serviço do califa árabe, e o rei dos kazares no século X. E, a acreditarmos no testemunho do “Rabad” (Abraham ben David), alunos kazares dos sábios também estavam presentes em Toledo, cidade natal de Halevi (138). Entretanto, devemos lembrar também que Halevi escreveu seu texto nos anos 1140, depois de o reino judaico no Leste já ter ido para as margens da história.
As importantes privações sofridas pelos judeus durante a Reconquista cristã afetaram imensamente Halevi, que também era um poeta talentoso. Como resultado, ele desenvolveu um forte anseio pela soberania judaica na forma de um monarca todo-poderoso e pela majestosa e distante Terra Santa. Em O Kuzari, ou, como foi originalmente intitulado em árabe, no Livro da refutação e prova em nome da religião desprezada, Halevi tentou forjar um elo entre esses dois anseios.
Nessa obra, o poeta realça as virtudes e o lugar da terra de Canaã, ou da Terra de Israel (ele usa ambas as expressões); a consequência é que, ao final do diálogo, o protagonista judeu decide empenhar-se para ir da distante Kazária até a Terra. De acordo com Halevi, a Terra Santa possuía todas as virtudes climáticas e geográficas necessárias e era o único local onde os crentes podiam atingir a perfeição intelectual e espiritual.
Ao mesmo tempo, Halevi absteve-se de denegrir o exílio e com certeza não pretendeu apressar a redenção ou dar início à ação coletiva baseada no anseio judaico, como afirmam os estudiosos sionistas (139). O próprio poeta sentiu um desejo pessoal de ir a Jerusalém para expiação e purificação espiritual e religiosa, o que ele expressou tanto em poemas quanto em O Kuzari. Sabia muito bem que os judeus não tinham pressa em emigrar para Canaã e, portanto, não hesitou em sublinhar que suas preces sobre o tema eram insinceras e lembravam “a conversa de um papagaio” (140).
A grande curiosidade de Yehudah Halevi a respeito da Terra de Israel pode ter sido produto também do entusiasmo cristão com as Cruzadas, que na época espalhava-se por toda a Europa; infelizmente, ele morreu antes de chegar a Jerusalém, ao que parece durante a viagem para a cidade santa. Em contraste, Moshe ben Nachman, que também viveu na Catalunha cristã e estava intimamente associado à corrente cabalista, foi forçado a emigrar para a Terra de Israel em idade avançada devido à perseguição e opressão da Igreja local. Nachmânides também deu voz a cálidos sentimentos relativos à Terra Santa e cumulou-a de ainda mais louvores que de costume – mais até do que Halevi. Embora não tenhamos um texto de Nachmânides que resuma seu sentimento de conexão com a Terra, suas obras articulam repetidamente pensamentos relacionados de uma forma que não pode ser ignorada.
No trecho intitulado “Mandamentos esquecidos pelo rabino”, em sua interpretação do Livro dos mandamentos, de Maimônides, Nachmânides faz tudo que pode para reintegrar a obrigação de se radicar na Terra de Israel. Para esse fim, recorda os leitores do mandamento bíblico para “destruir” os habitantes originais, “conforme está escrito, golpeá-los”, e continua: “Recebemos ordem de conquistar a terra em todas as gerações […] Recebemos ordem de herdar a terra e nela residir. Nesse caso, um mandamento para todas as gerações obriga cada um de nós, mesmo durante o exílio” (141). Essa é uma posição excepcionalmente radical a ser adotada por um pensador medieval judeu; exemplos semelhantes são raros.
Nachmânides considerava a vida na Terra Santa uma existência espiritual muito mais elevada do que a vida em qualquer outra parte, mesmo antes da chegada do Messias, e atribuiu uma dimensão mítica a essa existência. Entretanto, embora às vezes ele pareça coincidir com os caraítas, tanto nas afirmações quanto por sua instalação em Jerusalém, é importante lembrar que permaneceu leal ao Talmude rabínico e nunca sonhou que os judeus emigrassem em massa para a Terra de Israel antes da redenção. De fato, conforme explicado por Michael Nehorai, o Ramban tomou cuidado ainda maior que o Rambam “para não fazer com que os leitores acreditassem na possibilidade de concretizar as esperanças messiânicas sob as circunstâncias dadas” (142).
O Ramban estava intimamente associado à tradição mística cabalista, que também articulou posições sobre a conexão dos judeus com a Terra Santa. A literatura já havia abordado os significativos aspectos sexuais da relação da Shekhinah com a Terra e, por consequência, com a antiga terra de Canaã. Todavia, não existe consenso entre os cabalistas a respeito da natureza da redenção e da centralidade do espaço sagrado nos últimos dias. De acordo com O Zohar, instalar-se na Terra de Israel tem valor ritualístico e místico por si só; nesse ponto é coerente com a visão do Ramban. Alguns cabalistas, entretanto, pensam diferente. Por exemplo, Abraham bar Hiyya, um estudioso do começo do século XII que viveu na península Ibérica, acreditava que os habitantes da Terra de Israel estavam mais longe da redenção do que os que viviam na Diáspora e, portanto, que o assentamento em Israel era um passo na direção errada. E, a despeito de suas nítidas tendências messiânicas, o comentarista do século XIII Abraham ben Samuel Abulafia também não considerava a Terra de Israel o destino primário para a chegada miraculosa do redentor. Conforme observamos, a interpretação cabalista sustenta que a profecia só poderia aparecer na Terra de Israel. Abulafia, entretanto, considerava a profecia um fenômeno completamente dependente do corpo humano e não de um lugar geográfico definido. Nesse sentido, e apenas nesse, a abordagem do cabalista Abulafia não era muito diferente da visão do racionalista Maimônides.
A kabbalah profética de Abulafia não compartilhava as mesmas concepções da kabbalah sacerdotal…
De acordo com Moshe Idel, um estudioso da cabala: “As concepções místicas referentes à Terra de Israel tiveram êxito em liquidar, ou pelo menos reduzir, a centralidade da Terra em seu sentido geográfico, o que era algo que nenhum dos estudiosos supracitados estava disposto a reconhecer” (143). Ele prossegue dizendo que a importante contribuição do misticismo judaico ao conceito físico e geográfico tradicional da aliyah foi “a ascensão mística do indivíduo, resumida na expressão ‘ascensão da alma’; quer a experiência em questão fosse a ascensão da alma aos céus ou a contemplação interior” (144).
No final do século XVIII, pouco antes das ondas de choque nacionalistas que transformariam a morfologia cultural e política da Europa, menos de cinco mil judeus viviam na Palestina – a maioria em Jerusalém –, em comparação com uma população total de mais de 250 mil cristãos e muçulmanos (145). No mesmo período, havia aproximadamente 2,5 milhões de judeus por todo o mundo, basicamente na Europa oriental. O pequeno número de judeus palestinos, incluindo todos os imigrantes e peregrinos que residiam na região por um motivo ou outro, reflete mais efetivamente que qualquer texto escrito a natureza do vínculo da religião judaica com a Terra Santa até aquela época.
Não foram as dificuldades objetivas que impediram os judeus de emigrar para o Sião ao longo dos 1,6 mil anos anteriores, ainda que tais dificuldades realmente existissem. Também não foram as três adjurações talmúdicas que coibiram a “sede genuína” de viver na terra da Bíblia. A história é bem mais prosaica. Em contraste com o mito tão habilidosamente tramado na Declaração de Independência do Estado de Israel, tal anseio de se assentar na Terra nunca existiu de verdade. O poderoso anseio metafísico de redenção total que estava ligado ao lugar em si – como centro do mundo quando os céus se abrissem – não ostentava semelhança com o desejo dos seres humanos de se erguer e mudar para uma terra conhecida, familiar (146).
Não devemos, portanto, ficar perguntando por que os judeus não aspiravam emigrar para a Terra de Israel, mas sim por que eles deveriam ter desejado fazer isso. Em geral, pessoas religiosas preferem não viver em centros sagrados, pois não supõem que o local onde trabalham, mantêm relações sexuais, geram prole, comem, adoecem e poluem o ambiente seja o lugar onde os portões do céu vão se abrir com a chegada da redenção.
A despeito das privações que encararam, e a despeito de serem uma minoria religiosa em sociedades com frequência opressivas controladas por religião alheia, os judeus, bem como seus vizinhos, sentiam fortes laços com suas vidas cotidianas em seus países de nascimento. Assim como Filo de Alexandria e Josefo de Roma, os estudiosos babilônicos do Talmude Saadia Gaon da Mesopotâmia, Maimônides do Egito e dezenas de milhares de outros, os judeus “simples” e incultos do mundo sempre preferiram continuar vivendo onde viviam, cresciam, trabalhavam e falavam o idioma. E, embora seja verdade que só nos tempos modernos os locais de residência constituíram uma pátria política, não devemos esquecer que, durante a longa era medieval, ninguém tinha um território nacional próprio.
Mas, se os judeus não aspiravam emigrar e se assentar na terra da Bíblia, tinham eles uma necessidade religiosa, como a dos cristãos, de visitar a Terra Santa por motivos de purificação, penitência e outras atividades desses tipos? Após a destruição do Templo, a peregrinação judaica substituiu a emigração para a Terra?
Notas
76. Amnon Raz-Krakotzkin articulou esse tema muito bem no título de seu breve artigo “Deus não existe, mas Ele nos prometeu a Terra”. Mita’am, 3 (2005), pp. 71-6 (em hebraico).
77. Três artigos informativos questionando se a “Terra de Israel” pode ser considerada uma pátria dos judeus foram publicados em hebraico, embora suas bases teóricas e conclusões sejam um tanto diferentes das propostas aqui. Ver Gurevitz, Zali & Aran, Gideon. “Sobre o lugar (antropologia israelense)”. Alpayim, 4 (1991), pp. 9-44 (em hebraico); Boyarin, Daniel & Boyarin, Jonathan. “O povo de Israel não tem uma pátria: no lugar dos judeus”. Teorya Uvik oret, 5 (1994), pp. 79-103 (em hebraico); Dagan, Hagai. “O conceito de pátria e o éthos judeu: crônica de uma dissonância”. Alpayim, 18 (1999), pp. 9-23 (em hebraico).
78. Jerusalém é introduzida pela primeira vez relativamente tarde na Bíblia, referida de início como uma cidade hostil no livro de Josué (10:1) e apenas conquistada e incendiada pela tribo de Judá no livro dos Juízes (1:8).
79. Na verdade, Deus revela-se em particular para Moisés um pouco antes no deserto de Midiã (a península Árabe), na célebre história da sarça ardente. Ali, Deus informa Moisés, muito notavelmente, que “o lugar onde você se encontra é solo sagrado” (Êxodo 3:5). Ele fez uma aparição anterior, menor, na terra de Canaã, não em terra, mas no sonho de Jacó (Gênesis 28:12-5).
80. Sergio Della Pergola, da Universidade Hebraica de Jerusalém, uma autoridade israelense em demografia, afirmou recentemente que “a Bíblia fala de 70 homens que foram para o Egito com Jacó e 600 mil homens que de lá partiram 430 anos depois. Essa estimativa com certeza é possível em termos demográficos”. Citado em Barkat, Amiram. “Study traces worldwide Jewish population from Exodus to Modern Age”. Haaretz (edição inglesa), 29 de abril de 2005. É interessante notar que, ao longo do mesmo período, a população geral inicial do antigo Egito, multiplicada pelo mesmo fator de quase 8.600, teria resultado em uma população de pelo menos quatro ou cinco bilhões.
81. Nessa ocasião histórica, Deus também revelou uma sofisticada estratégia: “E eu mandarei vespas antes de você, que hão de expulsar os heveus, os cananeus e os hititas de diante de você. Não vou expulsá-los de diante de você em um ano para que a terra não fique deserta e as bestas selvagens não se multipliquem contra você. Pouco a pouco vou expulsá-los de diante de você, até você ter se multiplicado e possuir a terra” (Êxodo 23:28-30). O fato de que essa promessa apareça apenas dois capítulos depois da entrega dos Dez Mandamentos indica que o éthos bíblico dominante era de moralidade intragrupo, destituída de qualquer dimensão universal.
82. O declínio inicial da fé cristã no século XVIII facilitou a manifestação de desaprovação a respeito dos temas perturbadores do livro de Josué. Personalidades variadas expressaram crítica severa ao imperativo bíblico do extermínio, de deístas britânicos como Thomas Chubb a figuras do iluminismo francês como Jean Meslier. Ver, por exemplo, a avaliação de Voltaire na entrada sobre “judeus” em seu Dicionário filosófico.
83. Ver, por exemplo, Ben-Gurion, David. Reflexões sobre a Bíblia. Tel Aviv: Am Oved, 1969 (em hebraico), e Dayan, Moshe. Vivendo com a Bíblia. Jerusalém: Idanim, 1978 (em hebraico). Esse tema também é explorado em Piterberg, Gabriel. The returns of zionism: myths, politics, and scholarship in Israel. Londres: Verso, 2008, pp. 267-82.
84. Sobre o ensino do livro de Josué em Israel, ver Zalmanson Levi, Galia. “Livro de Josué e a conquista”. In: Gor Ziv, Haggith (org.). A militarização da educação. Tel Aviv: Babel, 2005 (em hebraico). Em 1963, Georges R. Tamarin, um professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Tel Aviv, conduziu um levantamento pioneiro sobre como o livro era entendido por crianças das escolas israelenses. As descobertas do estudo repercutiram no Ministério da Educação. Na época, argumentou-se até que o estudo constituía um motivo para a demissão de Tamarin. Sobre a pesquisa, ver Tamarin, Georges R. The Israeli dilemma: essays on a warfare state. Roterdã: Rotterdam University Press, 1973, pp. 183-90. Ver também Hartung, John. “Love thy neighbor: the evolution of in-group morality”. Sk eptic, 3:4 (1995), e Dawkins, Richard. The god delusion. Nova York: Mariner Books, 2008, pp. 288-92.
85. Finkelstein, Israel & Silberman, Neil A. The Bible unearthed. Nova York: Touchstone, 2002, pp. 98, 118. 89. Ibid., pp. 72-96.
90. Spinoza, Bento de. Theological-political treatise. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, pp. 118-43 [Tratado teológico- político. São Paulo: Martins, 2008]. Ver, por exemplo, o inovador clássico recente de estudioso britânico da Bíblia: Davies, Philip R. In search of ancient Israel. Londres: Clark Publishers, 1992.
91. A ideia de ressurreição dos mortos e o próprio termo “dat” (religião) também foram retirados da cultura persa. Todavia, ainda não está claro por que os exilados da Judeia foram os únicos a acender a chama do monoteísmo.
92. A própria Bíblia contém referências à preservação das crônicas do reino de Israel e do reino da Judeia que forneceram a matéria- prima inicial para obras teológicas posteriores. Ver 1 Reis 14:29: “Quanto ao resto das ações de Roboão e tudo que ele fez, não está escrito no Livro de Crônicas dos reis da Judeia?”, e 22:39: “Quanto ao resto das ações de Ahab e tudo que ele fez, não está escrito no Livro de Crônicas dos reis de Israel?”.
93. Ver Platão, As leis, 5.744-6.
94. Quando Heródoto viajou pela região no século V a.C., nada sabia sobre a modesta comunidade em Jerusalém e não fez menção a ela em seus escritos, que descrevem os habitantes do país como sírios, citados como “palestinos”. Ver Heródoto. The History, 34. Nova York: Penguin Books, 2003, pp. 172, 445.
95. Ver Weinfeld, Moshe. “Tendências universalista e isolacionista durante o período do retorno ao Sião”. Tarbitz, 33 (1964), pp. 228-42 (em hebraico). Não devemos esquecer que a Bíblia também contém versos excepcionais contradizendo essa tendência geral, tal como: “Quando um estrangeiro peregrinar com vocês em sua terra, vocês não devem lhe fazer mal. Vocês devem tratar o estrangeiro que peregrina com vocês como os nativos, e devem amá-lo como a si mesmos, pois vocês eram estrangeiros na terra do Egito: eu sou o Senhor seu Deus” (Levítico 19:33-4). Ver também Deuteronômio 10:19.
96. Ver Esdras 10:10 e Neemias 13:23-6.
97. O estudioso bíblico William David Davies foi o primeiro a argumentar que o javeísmo extraiu o conceito de propriedade divina do território da tradição cananeia da deidade Baal. Ver The Gospel and the Land: early christianity and Jewish territorial doctrine. Berkeley: University of California Press, 1974, pp. 12-3.
98. Lauterbach, Jacob Z. Mek hilta De-Rabbi Ishmael. Filadélfia: Jewish Publication Society, 2004, p. 107.
99. Flávio Josefo. The complete work s of Flavius Josephus. Londres: T. Nelson and Sons, 1860, p. 38.
100. Em certa medida, Boas Evron está correto ao afirmar que os livros de Macabeus e as obras de Flávio Josefo não são de fato “judaicos”. Evron, Boas. Atenas e a Terra de Oz. Binyamina: Nahar, 2010, p. 133 (em hebraico).
101. Por exemplo, a primeira frase de “Quem pode recontar” (“Mi Yimalel”, letra de Menashe Rabina, melodia tradicional, 1936), célebre canção de Hanukkah, é uma versão secularizada do verso bíblico “Quem pode recontar as obras poderosas do Senhor?” (Salmos 106:2). A letra de “Estamos carregando tochas” (“Anu Nosim Lapidim”), canção popular do dia santo, também reflete uma nacionalização da tradição: “Nunca nos aconteceu um milagre. Não encontramos um jarro de óleo. Escavamos na rocha até sangrar. ‘Que se faça a luz’” (letra de Aharon Zeev, música de Mordechai Zeira; tradução para o inglês de Zion, Noam & Spectre, Barbara. A different light: the Hanuk k ah book of celebration. Nova York: Devora Publishing, 2000, p. 14). Essa transição do poder celestial para o sangue humano normalmente ocorre sem o conhecimento do cantor. Na minha juventude, isso era válido para mim também.
102. Para mais sobre esse assunto, ver Davies, William David. The territorial dimension of judaism. Berkeley: University of California Press, 1982, p. 67.
103. 2 Macabeus foi originalmente escrito no dialeto grego k oiné muito mais tarde, depois de 100 a.C., ou no Egito ou em uma região mais remota do norte da África. Inclui um breve resumo de cinco volumes escritos pelo autor, Jasão de Cirene, que não sobreviveram à passagem do tempo.
104. Ver também como esse texto incorpora o termo patris entre as leis e nos trechos sobre o Templo (2 Macabeus 13:11, 15). Originalmente, consultei o texto editado por Daniel Schwartz, O segundo livro de Macabeus. Jerusalém: Yad Ben-Zvi, 2004 (em hebraico). Ali também a expressão “Terra de Israel” é usada na introdução e nas notas de pé de página em 38 ocasiões, mas, na verdade. jamais aparece no texto antigo. A respeito da influência conceitual grega sobre o autor do Segundo Livro de Macabeus, ver Heinemann, Yitzhak. “The relationship between a people and its country in Judeo-Hellenistic literature”. Zion, 13-14 (1948), p. 5.
105. Sobre isso, ver Rappaport, Uriel. “Proselitismo e propaganda religiosa judaica no período da Segunda Comunidade”. Jerusalém, 1965. Tese (Doutorado) – Hebrew University, 1965 (em hebraico). A despeito de sua importância, esse estudo nunca foi publicado em forma de livro.
106. Ver Philo. On the life of Moses, 1.41-2.
107. Ver, por exemplo, On the embassy to Gaius, 202, 205, 230. Esse conceito já aparece em 2 Macabeus 1:7 e no livro da Sabedoria 12:3. A expressão “solo santo” aparece na versão hebraica de Sibylline oracles, 3.267, em The external book s, II. Tel Aviv: Masada, 1957, p. 392 (em hebraico), bem como em outros textos.
108. Ver Flaccus, 46, em Van Der Horst, Pieter Willem. Philo’s Flaccus: the first pogrom. Leiden: Brill, 2003, p. 62. Em The special laws, 68, Filo também descreve um peregrino em Jerusalém como um sofredor porque foi forçado “a deixar seu país, seus amigos e relações, e emigrar para uma terra distante”. Ver também Amir, Yehoshua. “A versão de Filo sobre a peregrinação a Jerusalém”. In: Oppenheimer, Aharon et al. (orgs.). Jerusalém no período do Segundo Templo. Jerusalem: Yad Ben-Zvi, 1980, pp. 155-6 (em hebraico).
109. Philo. On dreams, that they are God-sent, 2.38, 250.
110. Philo. On the confusion of tongues, 17.77-8.
111. Por exemplo, ver Kasher, Aryeh. “Jerusalém como uma ‘metrópole’ na consciência nacional de Filo”. Cathedra, 11 (1979), pp. 45- 56 (em hebraico), que, embora interessante e acadêmico, esforça-se demais para retratar Filo como um filósofo patriota. Para uma abordagem levemente menos nacionalista e mais orientada em termos de “comunidade”, ver Hadas-Lebel, Mireille. Philon d’Alexandrie: un penseur en Diaspora. Paris: Fayard, 2003.
112. Ver também a versão judaica resumida e distorcida das obras de Josefo elaborada por H. Hominer sob o título Josiphon or Josippon (Jerusalém: Hominer, 1967), que omite o suicídio, muda o nome dos protagonistas e os faz morrer em batalha. Ver Vidal- Naquet, Pierre. “Flavius Josèphe et Massada”. In: Les juifs, la mémoire et le présent. Paris: Maspero, 1981, pp. 43-72. Massada é um exemplo extremo da construção da memória nacional sem base na memória coletiva tradicional.
113. Flávio Josefo. The wars of the Jews: history of destruction of Jerusalem, 7.8.6-7. Forgotten Books, 2008, pp. 534-40. 114. Ibid., 4.5.3, p. 332.
115. Ibid., 7.8.1, pp. 528-30.
116. Flávio Josefo. Against Apion, 1.22.21.
117. Flávio Josefo. The wars of the Jews, 3.3. Digireads, 2010, pp. 136-7.
118. Flávio Josefo. Jewish antiquities, 1, 4. Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited, 2006, pp. 37, 145-6.
119. Junto com outros nomes, é claro. Sobre esse assunto, ver Guttman, Yichiel Michel. A Terra de Israel no Midrash e no Talmude. Berlim: Reuven Mas, 1929, pp. 9-10 (em hebraico).
120. Gafni, Isaiah. Land, center, and Diaspora: Jewish constructs in Late Antiquity. Sheffield: Sheffield Academic Press Ltd., 1997, pp. 62-3.
121. Blackman, Philip. Mishnayoth. Vol. 6: Order Taharoth, Londres: Mishna Press, 1955, pp. 32, 572.
122. Sobre as fronteiras da Terra de Israel na lei judaica, ver Sussman, Yaakov. “As fronteiras de Eretz Israel”. Tarbitz, 45:3 (1976), pp. 213-57 (em hebraico).
123. Weinfeld, Moshe. The promise of the land: the inheritance of the land of Canaan by the Israelites. Berkeley: University of California Press, 1993, p. 75.
124. Ver, por exemplo, o relato do Talmude Babilônico sobre o sepultamento do rabino Huna (Moed Katan, 3.25a), bem como Gafni, Isaiah. “A ascensão dos mortos para serem sepultados na Terra: traços da origem e desenvolvimento de um costume”. Cathedra, 4 (1977), pp. 113-20 (em hebraico). Durante o mesmo período, a crença evoluiu no conceito de gilgul hamek hilot, que sustenta que, na hora da ressurreição dos mortos, os ossos dos justos rolariam por túneis subterrâneos para a Terra de Israel.
125. Weinfeld. Promise of the land, p. 221. Nesse contexto, o destacado historiador judeu Simon Dubnow perguntou: “Como poderia uma terra que era o centro da religião cristã, que era sagrada nos Evangelhos e que estava cheia de igrejas, mosteiros, peregrinos e monges ser o centro da atividade de amoraim e príncipes e permanecer o reino de Israel em espírito?”. Dubnow, Simon. Crônicas do povo eterno, III. Tel Aviv: Dvir, 1962, pp. 140-1 (em hebraico).
126. Sobre o papel dessas três adjurações na tradição judaica, ver o informativo livro de Ravitzky, Aviezer. Messianismo, sionismo e radicalismo religioso judaico. Tel Aviv: Am Oved, 1993, pp. 277-305 (em hebraico). Ver também Breuer, Mordechai. “O debate sobre as três adjurações nas gerações recentes”. In: Geulah Umedina. Jerusalém: Ministério da Educação, 1979, pp. 49-57 (em hebraico).
127. Já está completamente estabelecido que religiões em geral e religiões arcaicas em particular possuem “lugares” ou um “lugar”. Ver Eliade, Mircea. The sacred and the profane: the nature of religion. San Diego: Harvest/HBJ Books, 1959, pp. 20-65 [O sagrado e o profano: a essência das religiões. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010].
128. Smith, Jonathan Z. “The wobbling pivot”. In: Map is not territory: studies in the history of religions. Leiden: Brill, 1978, pp. 88- 103.
129. Al-Kumisi, Daniel. “Appeal to the Karaites of the dispersion to come and settle in Jerusalem”. In: Nemoy, Leon (org.). Karaite anthology. New Haven: Yale University Press, 1952, pp. 35-8.
130. Erder, Yoram. “The Mourners of Zion”. In: Polliack, Meira (org.). Karaite Judaism: a guide to its history and literary sources. Leiden: Brill, 2003, p. 218.
131. Sobre esse tema, ver Polak, Abraham. “A origem dos árabes do país”. Molad, 213 (1967), pp. 303-4 (em hebraico).
132. Por exemplo, ver Rosenberg, Shalom. “O laço com a Terra de Israel no pensamento judaico: a luta de concepções”. Cathedra, 4 (1977), pp. 153-4 (em hebraico).
133. Ver Ben Maimon, Moses. “Mandamentos positivos”. In: Livro dos mandamentos. Trad. Joseph Kafah (do árabe para o hebraico).
134. Ver Melamed, Abraham. “A Terra de Israel e a teoria climática no pensamento judaico”. In: Hallamish, Moshe & Ravitzky, Aviezer (orgs.). A Terra de Israel no pensamento judaico medieval. Jerusalém: Yad Izhak Ben-Zvi, 1991, pp. 58-9 (em hebraico).
135. Ben Maimon, Moses. The guide for the perplexed, 2.36. Tel Aviv: University of Tel Aviv, 2002.
136. Ver Ben Maimon, Moses. A epístola do Iêmen. Lipsia Publications (em hebraico).
137. Sobre esse assunto, ver Gershom Scholem, que enfatiza que “em parte alguma o Rambam reconhece a relação causal entre a vinda do Messias e o comportamento humano. A redenção não ocorreria pelo arrependimento de Israel”. Scholem. Explicações e implicações: escritos sobre a tradição e a ressurreição judaicas. Tel Aviv: Am Oved, 1975, p. 185 (em hebraico).
138. “O livro da cabala de Abraham ben David”. In: A ordem dos sábios e a história. Oxford: Clarendon, 1967, pp. 78-9 (em hebraico).
139. Ver, por exemplo, Schweid, Eliezer. Pátria e uma Terra Prometida. Tel Aviv: Am Oved, 1979, p. 67 (em hebraico).
140. Halevi, Yehudah. O Kuzari, 2. Jerusalém: Jason Aronson, 1998, p. 81 (em hebraico).
141. Ver o quarto mandamento positivo em O livro dos mandamentos, com os comentários críticos de Ramban. Jerusalém: Harav Kook, 1981, pp. 245-6 (em hebraico).
142. Nehorai, Michael Zvi. “A Terra de Israel em Maimônides e Nachmânides”. In: Hallamish & Ravitzky (orgs.). A Terra de Israel no pensamento judaico medieval, op. cit., p. 137.
143. Idel, Moshe. “A Terra de Israel no misticismo judaico medieval”. In: Hallamish & Ravitzky (orgs.). A Terra de Israel no pensamento judaico medieval, op. cit., p. 204..
144. Ibid., p. 214.
145. Sobre a população total da Palestina nesse período, ver Ben-Arieh, Yehoshua. “A população da Terra de Israel e de seus assentamentos à véspera da colonização sionista”. In: Ben-Arieh, Yehoshua; Ben-Artzi, Yossi & Goren, Haim (orgs.). Estudos histórico-geográficos sobre a colonização da Terra de Israel. Jerusalém: Yad Ben-Zvi, 1987, pp. 5-6 (em hebraico). No começo dos anos 1870, pouco antes do início da colonização sionista, a população total da região somava 380 mil, com os judeus correspondendo a 18 mil.
146. A despeito do sistema de educação israelense, muitos israelenses bem sabem que os judeus nunca aspiraram a emigrar para a Terra Santa. Ver, por exemplo, Yehoshua, Abraham B. A tomada da pátria. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad, 2008 (em hebraico), no qual o proeminente autor israelense caracteriza a preferência dos judeus por viver na “Diáspora” como uma “escolha neurótica” (p. 53).