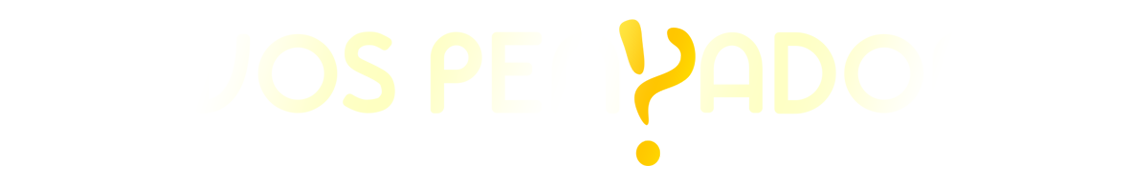Conclusão do livro de Shlomo Sand (2012)
Estamos concluindo a leitura do livro de Shlomo Sand (2012), intitulado A Invenção da Terra de Israel: Da Terra Santa à Terra Pátria. São Paulo: Benvirá (Saraiva Educação), 2014.
Este é o quinto e último artigo da série. Não reproduzimos a introdução, nem o posfácio. Quem quiser baixar o livro em PDF, clique no link: A_invenção_da_terra_de_Israel_Shlomo_Sand
.
Conclusão: A triste fábula do sapo e do escorpião
Somente a cooperação direta com os árabes pode criar uma vida digna e segura […] O que me entristece não é tanto o fato de que os judeus não sejam inteligentes o bastante para entender isso, mas sim que não sejam inteligentes o bastante para querer isso.
ALBERT EINSTEIN CARTA A HUGO BERGMAN, 19 DE JUNHO DE 1930.
Um dia, um escorpião queria atravessar um rio e pediu a um sapo para carregá-lo nas costas na travessia. “Mas você pica tudo que se move!”, comentou o sapo, atônito. “Sim”, respondeu o escorpião, “mas não vou picar você, porque eu também morreria”. O sapo reconheceu a lógica da resposta. No meio do rio, o escorpião picou o sapo. “Por que você fez isso?”, lamentou o nadador. “Agora nós dois morreremos!” “É a minha natureza”, gemeu o escorpião momentos antes de afundar nas profundezas da água.
AUTOR DESCONHECIDO, ÉPOCA DESCONHECIDA.
A fábula do sapo e do escorpião apresenta uma moral familiar: nem todo mundo determina suas ações baseado no bom senso, e a natureza e a essência muitas vezes são o que determinam como agimos. Processos e movimentos históricos não possuem exatamente uma natureza, e com certeza não possuem uma essência. Entretanto, possuem ou pelo menos são acompanhados de mitos inertes nem sempre adequados à lógica, que varia conforme as circunstâncias. Como diz o ditado britânico: “O senso comum nem sempre é comum”. As características da fase atual do empreendimento sionista reforçam essa observação.
A construção do mito de um povo judeu errante arrancado de sua pátria há dois mil anos e que aspirava retornar a ela na primeira oportunidade possível está impregnado de lógica prática, ainda que se baseie inteiramente em invenções históricas. A Bíblia não é um texto patriótico, assim como a Ilíada e a Odisseia não são obras da teologia monoteísta. Os agricultores que habitavam Canaã não tinham pátria política porque tais pátrias não existiam no antigo Oriente Médio. A população local que começou a desposar a crença em um Deus único nunca foi arrancada de seu lar, mas simplesmente mudou a natureza de sua fé. Não foi o caso de um povo único sendo esparramado pelo mundo, mas sim de uma nova religião dinâmica espalhando-se e conquistando novos crentes. As massas de convertidos e seus descendentes ansiaram com ardor e enorme disposição mental pelo lugar sagrado de onde se supunha que viria a redenção, mas nunca cogitaram seriamente mudar-se para lá e nunca fizeram isso. O sionismo não foi de maneira alguma a continuação do judaísmo, mas sim sua negação. De fato, é por esse motivo que este último rejeitou aquele em um momento anterior da história. A despeito de tudo isso, uma certa lógica histórica permeou o mito, e contribuiu para sua parcial efetivação.
Assim como, se poderia acrescentar, o judaísmo (de raíz babilônica) foi, em alguma medida, uma negação do hebraísmo (embora o hebraísmo nunca tenha sido um sujeito étnico, nacional, político ou religioso definido por ser e sim por não-ser: não ser um povo que vivia em Estados monárquicos).
A eclosão do nacionalismo, com sua judeofobia inerente, que varreu a Europa central e oriental na segunda metade do século XIX instilou seus princípios em uma pequena parcela da população judaica perseguida. Essa seleta vanguarda sentiu o perigo que pairava sobre os judeus e por isso começou a esculpir um autorretrato de nação moderna. Ao mesmo tempo, apoderou-se de seu centro sagrado e o elaborou como a imagem de um local antigo de onde a tribo “étnica” havia brotado e se expandido ostensivamente. Essa territorialização nacional de laços até então religiosos foi um dos feitos mais importantes, ainda que não completamente original, do sionismo. É difícil avaliar o papel desempenhado pelo cristianismo em geral e pelo puritanismo em particular na geração do novo paradigma patriótico, mas essas forças sem dúvida estiveram presentes por trás da cena durante o encontro histórico entre a concepção dos filhos de Israel como nação de um lado e o projeto de colonização do outro.
Sob as condições políticas dominantes no final do século XIX e início do século XX, a noção de assentamento em áreas “desoladas” ainda era dotada de lógica considerável. Era o auge da era imperialista, e o projeto foi viabilizado pelo fato de a terra de destino ser povoada por uma população local anônima, destituída de identidade nacional. Caso a visão e o movimento tivessem aparecido antes, no tempo em que lorde Shaftesbury propôs a ideia, o processo de colonização teria sido menos complicado, e a remoção da população local, como ocorria em outras regiões coloniais, talvez tivesse se efetivado com mais facilidade e menos receios. Entretanto, em meados do século XIX, judeus devotos, em especial da Europa central e oriental, acreditavam que emigrar para a Terra Santa resultaria em profanação e por isso não desejavam fazê-lo. Os judeus que viviam no Ocidente já eram seculares o bastante para não cair na armadilha nacionalista pseudorreligiosa que os convidava para uma região que, do ponto de vista deles, não oferecia atrações culturais ou econômicas. Além disso, o trabalho de parto do monstruoso antissemitismo que tomaria conta da Europa central e oriental começara, e grande parte da população iídiche acordou de seu torpor tarde demais para se evadir do ambiente pouco hospitaleiro que estava prestes a regurgitá-la.
Não fosse a recusa dos países ocidentais de aceitar a imigração maciça, é duvidoso que esse ethnos pudesse ter sido construído ou que um número significativo de judeus e seus descendentes tivesse emigrado para a Palestina. Mas a eliminação de todas as outras opções forçou uma minoria dos desalojados a rumar para a Terra Santa, que de início consideraram um destino pouco promissor ao extremo. Lá tiveram que desalojar uma população local que apenas recente, hesitante e bastante tardiamente havia assumido atributos nacionais. Os conflitos surgidos da colonização foram inevitáveis, e aqueles que pensavam que tais conflitos poderiam ser ignorados estavam apenas se iludindo. A Segunda Guerra Mundial e a destruição judaica que ela causou criaram circunstâncias que permitiram ao Ocidente impor um Estado colonizador à população local. O estabelecimento do Estado de Israel como lugar de refúgio para judeus perseguidos ocorreu nas últimas horas ou, para ser mais exato, nos momentos finais da moribunda era colonial.
Exato! O Estado de Israel – como todo Estado o é em alguma medida – foi um fruto da guerra. E as contingências históricas de ter de habitar em uma pequena porção de terra cercada de inimigos por todos os lados, impôs que só pudesse se manter como um Estado ativamente guerreiro e expansionista.
Sem o mito mobilizador de colonização étnica, é muito provável que a campanha pela autossoberania não tivesse êxito. Todavia, a certa altura, a lógica que ajudou a estabelecer a nação israelense sumiu, e o demônio da territorialidade mítica subjugou insolentemente seus criadores e seu resultado. Seu ferrão venenoso desponta no início da narrativa, com a introdução da consciência de uma pátria cujas fronteiras imaginárias excediam de longe aquelas do verdadeiro espaço da vida cotidiana. Essa consciência levou as pessoas a divisarem vastidões imensas, quase ilimitadas, ao passo que a recusa dos palestinos em reconhecer a legitimidade da invasão estrangeira de sua terra e sua resistência violenta a isso forneceram repetidamente o pretexto para a continuidade da expansão. Além disso, em 2002, quando todo o Oriente Médio – por meio da iniciativa de paz ofertada pela Liga Árabe – concordou em reconhecer oficialmente o Estado de Israel e o convidou a juntar-se à região, Israel reagiu com indiferença. Afinal, sabia muito bem que tal integração viria apenas mediante o preço de ceder a Terra de Israel e seus antigos locais bíblicos, e que dali em diante Israel teria que se contentar com um território “pequeno”.
A cada round do conflito nacional da Palestina, que é o conflito mais duradouro desse tipo na era moderna, o sionismo tentou apropriar-se de território adicional. E, conforme vimos, uma vez que essa terra tornou-se sagrada a partir de uma perspectiva nacionalista, foi necessário um imenso esforço para abrir mão dela. Foi a guerra de 1967 que finalmente enredou Israel em uma armadilha coberta de mel, mas sangrenta, da qual a nação mostrou-se incapaz de se desembaraçar por si. Embora seja verdade que todas as pátrias modernas são construções culturais, a retirada de território nacional é uma iniciativa quase impossível, em especial quando se tenta tal coisa por opção. Mesmo que o mundo pudesse ser convencido de que o sionismo realmente centrava-se em encontrar um lugar de refúgio para judeus perseguidos e não na conquista de uma terra ancestral imaginária, o mito etnoterritorial que motivou o empreendimento sionista e constituiu uma de suas bases conceituais mais poderosas não pode nem está disposto a recuar.
Com certeza, no fim irá fenecer como as demais mitologias nacionalistas da história. Entretanto, todos aqueles que relutam em aceitar tal abordagem completamente fatalista devem se fazer a seguinte pergunta: a morte do mito levará consigo a sociedade israelense como um todo, junto com seus vizinhos, ou deixará sinais de vida em sua esteira? Em outras palavras, será o escorpião um símbolo apenas do mito sionista ou a totalidade do empreendimento nacionalista está impregnada dos solitários atributos paranoicos do escorpião e destinada, portanto, a continuar nadando resolutamente para a ruína, a sua própria e a dos outros?
A amarga sina do sapo não é um assunto só para o futuro. Já faz bastante tempo que os palestinos encaram um sofrimento constante. Esse sofrimento passado e presente deu o tom deste livro e me inspirou a redigir o posfácio a seguir.
comments powered by HyperComments